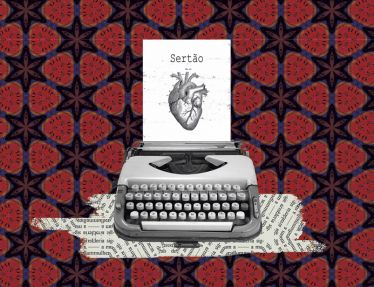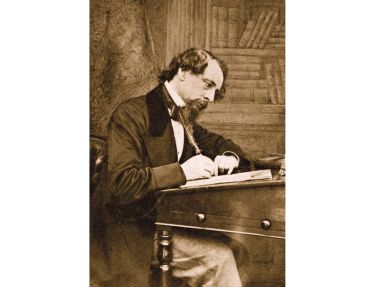A potência da transformação na arte
A ampliação dos debates, na contemporaneidade, sobre identidades sexuais, liberdade de escolha e de atuação sobre o próprio corpo reflete-se claramente nas representações artísticas
TEXTO Luciana Veras
01 de Fevereiro de 2015

Nos anos 1970, Nan Goldin concentrou-se no universo das travestis
Foto Nan Goldin/Reprodução
Em 2000, a filósofa espanhola Beatriz Preciado divulga, em Paris, a primeira edição de Manifiesto contrasexual, livro que, dois anos depois, seria publicado em seu país natal e que inscreveria seu lugar na teoria queer contemporânea e nos estudos de gênero. Nele, ela propõe um “contrato contrassexual”, em que as pessoas se reconheceriam não como “homens ou mulheres, e, sim, como corpos falantes”, trazendo em si “a possibilidade de acessar a todas as práticas significantes, assim como a todas as posições de enunciação dos sujeitos que a história determinara como masculinos, femininos ou perversos”. Por conseguinte, “renunciam a uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente”.
Sua tese é ratificada no artigo Cartografías quer: el flâneur preverso, la lesbíaca topofobica y la puta multicartográfica, compilado no livro Cartografias dissidentes, (2008). Partindo da noção de identidade sexual como “um feito natural ou biológico incontestável ou como o produto de um processo de construção histórica ou linguística que uma vez constituído funciona como um núcleo duro e invariável cuja trajetória pode ser traçada e descrita como a física de um sólido”, a autora discorre sobre uma cartografia que “começa por ser uma taxonomia de identidades sexuais e de gênero – masculinas ou femininas, heterossexuais ou homossexuais – que se apresentam como legíveis na medida em que são mutuamente excludentes”.
Nessa perspectiva, o cartógrafo ideal seria alguém que abstrairia sua “própria posição identitária, aparecendo como neutro e capaz de registrar os movimentos das diferentes identidades sexuais e dos usos do espaço e das práticas urbanas ou artísticas que emanam destas”. O mundo, porém, mudou. Na arte, espelho/tradução/recriação maior da vida, não haveria como ser diferente. “Não é difícil reconhecer que, até pouco tempo, a maioria das historiografias da arte moderna e contemporânea não eram senão cartografias identitárias dominantes que registravam práticas masculinas e heterossexuais como se estas, por si só, pudessem esgotar a geografia do visível”, prossegue Preciado.
Surgem “detetives do invisível”, como ela própria e a fotógrafa norte-americana Nan Goldin, capazes de “jogar luz em geografias até agora ocultas embaixo do mapa dominante”. Já nos anos 1970, Goldin mergulhava no cotidiano de travestis em The other side, colocando, quando da publicação em livro em 1992, que “as imagens nesse livro não são de pessoas sofrendo de disforia de gênero, mas, sim, expressando euforia de gênero… Essas pessoas são verdadeiramente revolucionárias e venceram a batalha dos sexos porque desceram do ringue”. Não eram figuras esdrúxulas que ela ousava captar pelo exótico, eram companheiros seus.
O artista peruano Giuseppe Campuzano utilizou personagens transgêneros,
transexuais, andróginos e intersexuais na crítica à história de seu país.
Foto: Reprodução
“Em uma primeira aproximação, a obra de Nan Goldin pode ser entendida como um extenso diário ‘escrito’ por meio dos retratos que faz de seus amigos – que, desde quando frequentava uma escola comunitária e livre nas cercanias de Boston, são pessoas que, como ela, nunca se acomodaram às regras normatizadoras do comportamento individual, e para quem a liberdade de uso do próprio corpo é afirmação de alteridade (…) e que a fascinavam justamente por desclassificarem, com as próprias vidas, o conceito estanque de gênero”, analisa o curador Moacir dos Anjos, em texto publicado em Fronteiras: arte, imagem e história (Azougue Editorial).
Portanto, com o alargamento da discussão sobre identidades sexuais, liberdade de escolha e de atuação sobre o próprio corpo, ampliou-se o reflexo nas representações artísticas. Há outros caminhos perceptíveis, novas possibilidades de trazer o direito à (auto)afirmação, a independência para se (re)definir e os meios para compartilhar tudo que se questiona, se confunde e se legitima no zeitgeist – ideia de “espírito do tempo” cunhada pelo filósofo alemão Georg Hegel (1770-1831). Uma obra de arte, afinal, deglute e reprocessa o discurso social, enfatizando a necessidade de se ir além.
NO PRÓPRIO CORPO
“As expressões artísticas carregam uma potência muito grande de transformação social”, observa a ativista transfeminista e pesquisadora Viviane Vergueiro, mestranda no Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade do Instituto de Humanidades da UFBA, em que estuda identidades de corpos e gêneros sob o foco da pós-colonização. “Preciado diz que vivemos numa era pós-sexual e que há contradição em estar nessa época e viver com vários ‘circuitos de opressão, exclusão e normalização’. É difícil mensurar no calor do momento, até porque tudo tem andado rápido, mas fico feliz com esses fortalecimentos de um discurso desse para além da academia, embora ainda exista dificuldade em perceber o impacto disso em políticas públicas, nas instituições, por uma questão de rigidez das estruturas de poder para incorporá-lo”, sustenta.
Paulistana de nascimento, Vergueiro é formada em Economia, há três anos mora em Salvador e defende um olhar mais agudo sobre imprescindibilidade da autonomia sobre corpos e gêneros: “No meu mestrado, utilizo estudos pós-coloniais, feministas e queers e pessoas trans que escrevem academicamente para pensar na colonialidade além das relações estatais, de territórios, na dimensão cultural e em outras dimensões dominadas pela cultura eurocêntrica, que institui uma visão binária do corpo. Somos colonizados pelo sistema médico, pelo discurso que normatiza os corpos. A medicina é uma construção da colonização europeia, não é um sistema neutro. Outras sociedades possuem outras perspectivas de gênero. Na nossa, apenas homens ou mulheres. Por exemplo, o atendimento a pessoas trans no sistema de saúde está atrelado a uma ideia de transtorno mental. Isso é constrangimento. Quero falar do meu corpo como eu quiser, andar e construí-lo como eu quiser”.
Ativista e pesquisadora Viviane Vergueiro dedica-se aos estudos das identidades de corpos e gêneros sob o foco da pós-colonização. Foto: Divulgação
Esse desejo ganha força em trabalhos de artistas contemporâneos, ainda mais expressivos, quando reunidos em mostras como a recente 31ª Bienal de São Paulo (2014) ou Perder la forma humana, ocorrida entre outubro/12 e março/13, no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madri, citadas pela curadora e pesquisadora pernambucana Cristiana Tejo. “Talvez pudéssemos localizar no cerne das próprias vanguardas históricas a tentativa de discutir questões de sexualidade, como no quadro A origem do mundo, de Courbet, ou mesmo Olympia, de Manet. Entretanto, a discussão fica mais adensada nos anos 1960 com a eclosão da contracultura e dos movimentos sociais, principalmente do feminismo e dos direitos dos homossexuais. Nesse momento, há o empoderamento das artistas mulheres de tratarem da questão usando seus próprios corpos, reivindicando um discurso e uma prática até então encabeçada pelos homens.”
Assim, os artistas passaram a perseguir, na pele que habitavam ou em seus trabalhos, outras decodificações para o binômio “homem/mulher”. O peruano Giuseppe Campuzano (1969–2013), filósofo e drag queen presente nas duas exposições mencionadas acima, fez do seu Museo Travesti del Perú, no qual interliga personagens transgêneros, transexuais, andróginos e intersexuais, uma irônica e crítica revisão da trajetória do seu país. Outra sul-americana a operar nessa interseção é a chilena Paz Errázuriz, cujo La manzana de Adan, livro com imagens de travestis feitas entre 1982 e 1987, ainda sob a ditadura do general Augusto Pinochet, joga luz na sexualidade que teimava em florescer na clandestinidade. Na mesma época, Nan Goldin mostrava The ballad of sexual dependency pela primeira vez na Whitney Biennial, em 1985, conferindo status artístico a diversos tipos de “marginais” que orbitavam o submundo artístico de Nova York. Como o ensaio The other side, tornou-se influência imediata.
FORA DO PADRÃO
“Nomes como Paz Errázuriz e Nan Goldin já surgem a partir dos anos 1980, num contexto complexificado pelo aparecimento da aids e o fim da Guerra Fria, quando grande parte da produção artística começa a lidar mais sistematicamente com noções de identidade, seja cultural ou sexual”, lembra Cristiana Tejo. No Brasil, ela pondera que a “tradição modernista” é um entrave para o aprofundamento da temática. “Há um certo receio no campo da arte brasileira de lidar com essas questões. Por isso, é importante destacar Virginia de Medeiros, uma artista mais jovem. Quando ela começou seu trabalho com as travestis de Salvador, pouquíssimos artistas lidavam com o tema. Ela era uma exceção em sua geração”, pontua a curadora.
Talvez essa baiana de Feira de Santana, de uma certa maneira, ainda o seja. Obras como Studio Butterfly (2004–2006), fruto de convivência intensa e mergulho no universo das travestis, e Jardim das torturas (2012–2013), imersão nos rituais de dominação e submissão de uma família sadomasoquista de Campinas, evidenciem o interesse de Virginia por tudo que está “fora da linearidade, da binariedade, do padrão normativo das sociedades patriarcais”, como resume em entrevista à Continente.
Na obra Jardim das torturas, Virgínia de Medeiros fez parte dos
rituais de dominação de família sadomasoquista.
Foto: Everton Ballardin/Divulgação
“Foi muito espontâneo meu encontro com as travestis. Em 2000, quando as conheci, eram marginalizadas, mais do que hoje. Eu não estava levantando bandeira, não era uma ativista. Foi uma identificação no microuniverso, nesse lugar de transgressão, a partir de uma transgressão que eu estava vivendo comigo mesma, ao experimentar a atração por um corpo igual ao meu. Porque o corpo é político, é uma manifestação política. Aquilo foi me fortalecendo também. A partir da experiência que estava vivendo, sentia uma força semelhante a delas, esse impulso de experimentar o que estava fora do padrão heteronormativo. Não houve crise, me senti forte”, recorda.
Vinda de uma família “católica, castradora, que negava o corpo”, ela tem buscado provocar sua própria constituição física e inseri-la em sua obra – atuando, assim, como personificação de ideias que a psicanalista Tania Rivera defende nos ensaios de O avesso do imaginário – arte contemporânea e psicanálise. “Ainda que diversas manifestações presenciais do artista possam pretender uma afirmação identitária com, por vezes, ressonâncias políticas, o essencial é que o corpo se dá a ver. ‘Toda carne’, escreve Merleau-Ponty, ‘e mesmo a do mundo, irradia-se fora de si mesma’”, deslinda. Alteridade é a palavra-chave, não apenas para Virginia, mas para artistas que repercutem essas questões em todas as linguagens. Ou, como também argumenta Rivera, “na performance, trata-se de ‘dar-se a ver’ ao Outro”.
SÉRIES DE TV
E quando o Outro são muitos? Como reverberar o debate sobre liberdade de gênero, emancipação do corpo e choque de normas vigentes em veículos pensados para atingir milhares, como o cinema e a televisão? “Essa abordagem tem ganhado força na televisão contemporânea americana, espaço audiovisual muito mais avançado do que o cinema de Hollywood. O país é grande, retrógrado e progressista ao mesmo tempo, mas creio que a televisão reflete o pensamento de boa parte dos americanos e sinto um desejo dos produtores de avançar nas discussões”, opina a jornalista Mariane Morisawa, colaboradora em Los Angeles de vários veículos brasileiros.
“É na TV que as mulheres, por exemplo, encontram personagens mais complexos, que não se prendem a estereótipos, inclusive, do que seriam ‘mulheres fortes’ – nos filmes de Hollywood, isso significa serem capazes de atirar ou de lutar. Há uma presença bem maior homossexuais de vários tipos, diferente do que geralmente se vê no Brasil, por exemplo, que tende a mostrar gays ‘engraçados’, ‘fofoqueiros’, ‘espalhafatosos’. Na série Transparent, que acaba de ganhar dois Globos de Ouro, o pai de família é transgênero. Modern family também é importante por ser uma sitcom mainstream e trazer um casal gay, formado por dois homens de personalidades distintas, que adotam um bebê e são aceitos pela família”, acrescenta.
Seriado Modern Family traz um casal gay que adota um bebê e é aceito pela família.
Foto: Divulgação
Seriados como Girls (2012), Masters of sex (2013) e Orange is the new black (2013), para se ater a exemplos mais recentes, evocam mulheres de força e com poder decisório, contrariando a lógica machista. “Sex and the city foi um marco, na época, por trazer mulheres falando de sexo, mas Girls leva a premissa muito adiante – mostra as mulheres fazendo sexo, muitas vezes pelas razões erradas. Lena Dunham, criadora da série e atriz principal, escapa dos padrões de beleza da televisão e do cinema. Orange is the new black traz um elenco majoritariamente feminino, em que muitas personagens têm relações entre si, dos mais diversos tipos. E Masters of sex trata a sexualidade feminina de forma mais moderna – e é Virginia Johnson, o personagem de Lizzy Caplan, que se posiciona como a mais liberada sexualmente, mesmo que a história se passe na década de 1950. O reprimido é o médico William Masters, vivido por Michael Sheen”, comenta Mariane, referindo-se, por último, à série exibida no Brasil no canal pago HBO, baseada na história real dos responsáveis pelo primeiro estudo científico sobre sexualidade humana.
Décadas antes dos verdadeiros Masters e Johnson começarem a documentar atos sexuais e catalogar os estágios de excitação de homens e mulheres em um hospital em Saint Louis, no meio-oeste americano, testando em si os critérios adotados para avaliar os outros, um escritor britânico ascendia à posteridade por O retrato de Dorian Gray (1890) e por ser preso, acusado de manter relações homossexuais.
CASOS LITERÁRIOS
“Afora o escândalo que Oscar Wilde protagonizou em 1895, o único livro dele que é explicitamente de temática homossexual é De profundis, uma carta dirigida ao lorde Douglas. Wilde coloca na ordem do dia a questão homossexual antes por suas ações, por sua orientação sexual e por infringir as leis inglesas, do que por meio da sua obra. O que a sua prisão pode ter suscitado, creio, foi colocar em discussão a criminalização ou não das orientações sexuais, foi mostrar que um respeitável pai de família e um escritor festejado da era vitoriana podiam ser gays. Ou seja: a moral vitoriana podia agir no campo das aparências, ao tentar construir uma imagem social de como as pessoas deviam pautar as suas vidas, mas não moldava a essência da natureza humana. Nesse ruído entre essência e aparência, calçava-se uma sociedade hipócrita, construída em cima da mentira e do medo, antes do que uma sociedade sadia e oxigenada”, contextualiza Anco Márcio Tenório Vieira, professor do Departamento de Letras, da UFPE.
À luz da literatura moderna, outros autores possuem relevância na verbalização de afetos outrora proibidos. “Acredito que o primeiro grande escritor a expor a sexualidade humana por meio das suas pulsões mais recônditas foi o Marquês de Sade. Sua obra é um divisor de águas nesse campo, mas encerra um viés fortemente moralista. E se, em Wilde, o amor homossexual é aquele ‘que não ousa dizer o nome’, para o hoje quase esquecido André Gide, em Córidon (1911), uma defesa da pederastia grega, não só se deve dizer o seu nome, como deve ser defendido. Não podemos esquecer Alexis, ou o tratado do vão combate, de Marguerite Yourcenar, de 1927, uma longa carta de despedida de um homem para a sua esposa, em uma espécie de autoanálise da sua condição homossexual”, aponta o professor da UFPE, que inclui a inglesa Virginia Woolf (1882-1941) e o francês Jean Genet (1910-1986) na lista dos pioneiros.
Lady Gaga propaga o discurso do "ame o feio". Foto: Divulgação
“Ela trata do tema explorando certa ambivalência sexual, e o seu romance Orlando (1928) parece-nos o melhor exemplo disso. Genet é central, por trazer ao universo literário a marginalidade. Com ele, os submundos da sociedade entram na literatura não por meio do olhar de quem está no centro da sociedade — o burguês ou o pequeno-burguês —, mas pelo olhar de quem é sujeito desse universo. Ele expõe um submundo social até então ausente da literatura, que tinha como temática o universo gay. O que há em comum nesses autores é a ausência de palmatória, de julgamento moral — seja ele burguês ou religioso —, e a busca por naturalizar as orientações sexuais da natureza humana. Isso os diferencia dos autores do século 19”, situa o professor.
APARÊNCIAS DO POP
Tal “busca por naturalizar as orientações sexuais” é, hoje, combustível usado em larga escala na música. Prega-se a diversidade sexual em reality shows, cultua-se a androginia, apregoa-se a anulação das fronteiras entre gêneros. Contudo, não ocorre sem tensões a indexação de uma agenda de afirmação da liberdade sexual, da autonomia do corpo, por parte da indústria cultural.
“A cultura pop é, em si, contraditória. Há espaço para artistas defenderem plataformas, mas como o pop está dentro dos sistemas econômicos e financeiros, isso cria uma ambiguidade. Até que ponto é marketing, ou um discurso para venda e consumo? Se pegarmos uma figura emblemática como Adam Lambert, vencedor do último American idol, vemos que ele está dentro dos padrões hegemônicos de beleza, que não foge, mesmo com seu visual andrógino, de uma normatividade heterossexual. Ou seja, a liberdade de expressão, da sexualidade, da escolha, atende a uma plataforma de marketing e posicionamento das indústrias atentas a esse zeitgeist, e mesmo vivendo um momento de reordenamento, não se trata de um debate exatamente novo. O que talvez esteja em jogo é uma pragmática desse discurso”, deduz o professor de Comunicação da UFPE e pesquisador Thiago Soares.
É como se, no pop, não se verificasse a noção de queer preconizada por Judith Butler em Gênero em disputa: o feminismo e a subversão da identidade (1990), indispensável nos estudos feministas e de gênero. Lambert – como tantos outros – aparenta o desajuste, mas, na prática, não o vivencia. “O queer traz o conceito de corpo abjeto. O que é o queer? É o diferente, o estranho, o abjeto. Na cultura pop, temos os discursos que operam em cima de padrões libertários, que pregam a fuga de modelo, mas que desaparecem quando vamos para a corporalidade, para as inscrições do corpo”, raciocina Soares, que ainda levanta restrições ao retrato de gays, lésbicas, transexuais, transgêneros e drag queens pintado em humorísticos televisivos.
Jean Genet trouxe o submundo e a marginalidade para o universo da
literatura. Foto: Reprodução
“O humor é ambíguo porque, ao se colocar no risível, há uma suspensão da realidade. Você acha que é inclusivo, mas contribui para perpetuar estereótipos. Por exemplo, as drags são vistas como os palhaços da cultura gay. O que é o palhaço? Algo sem sexualidade. Sou reticente em relação a isso, pois, se elas são os palhaços, então o gay continua sendo o ‘estranho’, o ‘queer’, legitimando a lógica da heteronormatividade”, compreende.
Essa visão é partilhada pela ativista transfeminista e pesquisadora Viviane Vergueiro. “Nesse processo, tudo é sujeito a cooptações. Não posso, por exemplo, pensar em avanços, e por isso não endosso o discurso governamental e nem me aproximo dessa retórica, quando pessoas trans são assassinadas com frequência no Brasil. Ao mesmo tempo, vejo o impacto da arte, mas é preciso cuidado para que não se crie um queer de butique. Como pode um artista falar de subversão e, na sua prática política, referendar o discurso heteronormativo e binário?”, questiona a mestranda da UFBA.
Para ela, vêm do funk de Valesca Popozuda e do baiano MC Xuxu atitudes que intrigam, embaralham e questionam. Para Thiago Soares, além de Lady Gaga (que difunde o discurso do “ame o feio”, se assume como mother monster dos seus fãs monstros e transparece, na pele, no corpo e nos gestos, toda inclusão que prega), é o universo brega que surpreende.
“Faço minha leitura do brega como artefato queer e subversivo. No momento em que os programas de TV expõem os corpos das cantoras gordas, feias, de roupas estridentes, aquilo causa repulsa por romper com os padrões de representação hegemônica. Mas o que acontece quando MC Sheldon vai tocar para a classe média? Quando a Musa do Calypso e a banda Kitara começam a ser ouvidos pela adolescente de Boa Viagem? O riso e o estranhamento, de repente, dão lugar à incorporação. Aquilo em que a menina branca via feiura passa a ser corporificado. O que antes gerava ojeriza, gera beleza. É o turning point, o ponto de virada de que fala a teoria dos afetos”, opina o professor.
A partir de seu Manifiesto contrasexual, Testo yonqui e Pornotopía, Beatriz Preciado passou a se autodenominar Paul B. Preciado. Foto: Sebastien Dolidon/Divulgação
BEATRIZ É PAUL
Na Espanha, em 18 de janeiro deste ano, o diretor/a do Programa de Estudos Independentes do MACBA/Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona divulgou um texto intitulado Catalunya trans. Nele, citava o atentado à sede do semanário Charlie Hebdo, em Paris, como um “assalto, uma batalha perdida, uma contrarrevolução, mas também quem sabe como uma possibilidade de construir alianças novas que protejam e acolham quem amamos”.
E aproveitava a oportunidade para falar de si. “De minha parte, comecei o ano pedindo a meus amigos próximos, e também aos que não me conhecem, que troquem o nome feminino que me foi designado no nascimento por outro nome. Uma desconstrução, uma revolução, outro duelo. Beatriz é Paul”, comunicava o autor/a de Manifiesto contrasexual, Testo yonqui e Pornotopía. “O homem encontra sua casa num ponto situado no Outro além da imagem de que somos feitos”, define Lacan, citado por Tania Rivera, em O avesso do imaginário. Nasceu, assim, Paul B. Preciado, antes conhecido como Beatriz Preciado.
No Brasil, em fevereiro de 2015, Virginia de Medeiros vislumbra a experimentação com testosterona, como Preciado fez antes de cambiar de gênero. “Jardim das torturas me abriu esse campo. Quando condensei no meu corpo a experiência vivida, foi muito potente. Como desdobramento, e influenciada demais por Paul/Beatriz, quero experimentar novamente, falar através do corpo. Como em todos os meus processos, não tenho nada ainda, não sei aonde vou chegar. Quero trabalhar a afirmação do corpo como espaço de experimentação; a sexualidade é levada pelo desejo, então sigo a política do desejo e sinto a densidade desse universo. E quero ser guiada por um homem trans para construir um lugar a partir desse encontro e fazer o trabalho, rompendo barreiras rumo a diferentes modos de existência”, antevê a artista.
Dela, de todos os artistas que forjam, na carne, a luta pela autonomia de si, pela liberdade de ser quem se quer e se pode, e de todos os cidadãos, a vida quer mesmo é coragem, como diria Guimarães Rosa. ![]()
LUCIANA VERAS, repórter especial da revista Continente.
Leia também:
A multiplicidade de gêneros e sexualidades
Criminalizar para salvar vidas
Criminalizar não é a solução!
Relatos: Eles só queriam ser elas
Religião: Deus é amor