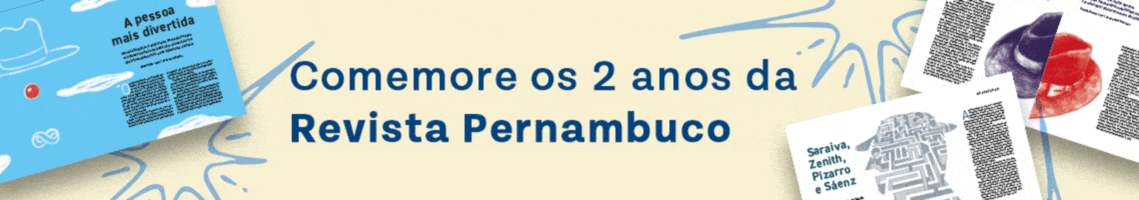Apenas o fim do mundo
Em fase mais madura, Grupo Magiluth volta com nova peça investindo na dialética do homem contemporâneo, no trabalho do ator e no não-dito a partir do texto de Jean-Luc Lagarce
TEXTO MATEUS ARAÚJO, DE SÃO PAULO
24 de Abril de 2019

Na montagem do Magiluth, diretores transferiram o desconforto para uma proposta de deslocamento cênico
Foto Cacá Bernardes/Divulgação
[conteúdo exclusivo Continente Online]
Ao longo dos seus 15 anos, que se completam em 2019, a pesquisa de linguagem desenvolvida pelo Grupo Magiluth transita – embora com pontuais montagens tergiversantes – por uma dialética do ser humano contemporâneo e seu lugar em meio ao caos das relações inter e intrapessoais. São peças, em geral, construídas no jogo aberto do teatro pós-dramático, que lidam fundamentalmente, em mais ou menos intensidade, com a desconstrução da narrativa padrão e a própria ideia de teatralidade. Assim, o coletivo consolidou-se em relevo desde o Recife, onde o contexto teatral local hegemônico é historicamente pautado por uma dramaturgia aristotélica, quando não regional.
Ao assistir ao Magiluth, estamos diante de dois teatros criados simultaneamente: o do primeiro plano, de um campo mais estético-político, e o do segundo plano, o das subcamadas de intencionalidade das expressões. Nesse segundo caso, prefiro chamar de texto das entrelinhas, do espaço do não-dito. Nesse lugar do subjetivo, por exemplo, tenho desenvolvido uma pesquisa de mestrado sobre as representações de masculinidades (no plural, para dar conta da amplitude de identidades) em duas obras do Magiluth: Aquilo que o meu olhar guardou para você, de 2012, e Viúva, porém honesta, de 2013 – trabalhos que considero marcos na linha de pesquisa do grupo.
Esteticamente, as duas peças levam ao limite a proposta do grupo em explorar o jogo performativo, que se ergue a partir de símbolos estabelecidos pelo corpo do ator, como a complexa relação entre o real e o ficcional. A primeira peça, Aquilo…, mais experimental, costura sinuosidades de relações conflituosas em um espaço urbano; já a segunda – aplicabilidade do jogo a uma dramaturgia pré-existente, de Nelson Rodrigues – se utiliza da sátira farsesca para investir críticas ao moralismo machista e sexista em torno da “pureza” da mulher viúva (embora recaia, na encenação, a uma reprodução de códigos sociais hegemônicos a respeito da sexualidade). Em ambos os trabalhos, contudo, personagens variados reafirmam e reconstroem, em fala, gestos, atitudes e signos do masculino presentes numa sociedade viriarcal.
APENAS O FIM DO MUNDO
Ao completar 15 anos, porém, o Magiluth encontra novas nuances para sua própria reflexão sobre o homem contemporâneo. O não-dito ganha um contorno outro, até mais apurado, na nova montagem do grupo Apenas o fim do mundo, dirigida por Luiz Fernando Marques (Lubi) e Giovana Soar, que acaba de estrear em São Paulo, onde segue em cartaz no Sesc Paulista.
O texto do francês Jean-Luc Lagarce – que também serviu ao roteiro do filme É apenas o fim do mundo (2016), de Xavier Dolan – se passa na década de 1990. E é sobre a volta de Luís à casa da família após 14 anos ausente. Luís tem Aids e, logo no prólogo, explica que dali a um ano morrerá. Por isso, decidiu reencontrar sua mãe, seus irmãos e a cunhada. Mas como qualquer relação superficial, sobretudo no caso dos familiares, esse retorno é intragável. Há uma mágoa no ar. Sumido, com raros contatos (ele enviava cartões postais medíocres e indecifráveis à família), Luís se tornou um fantasma de projeções naquela casa e seu retorno é a chave para despertar sentimentos e rancores abafados há muito tempo. Todos vão explodir, e Luís sequer terá oportunidade de falar por que veio.
Por isso, o não-dito se torna epicentro do espetáculo. Por mais que tentem, os parentes de Luís não conseguem mais dar cabo daquilo que, por anos, fingiram não ligar: por que ele foi embora e não voltou? Por que negou à família notícias reais de sua vida? Por que decidiu não existir para eles? Até desabafarem de vez, o gestual desconcertado e as atitudes constrangidas dão conta de apontar a decadência daquelas relações.
A situação é uma hipérbole dos tempos de amores desgastados e diálogos decadentes, sem argumentos, cada vez mais comuns nos encontros familiares de domingo – referência, inclusive, utilizada no texto de Lagarce, ao explicar que a peça se passa em um domingo ou, ainda, em um ano inteiro.
Na montagem do Magiluth, Lubi e Giovana Soar transferiram o desconforto para uma proposta de deslocamento. Ambientada no 13º andar do Sesc, com janelas de vidro, sem poltronas de teatro convencional, a história é apresentada de forma itinerante. Os atores criam os espaços da casa e o público acompanha a caminhada por ela; é uma maneira de restabelecer, a cada instante, a atenção para a desestruturação trazida pelo personagem principal. A sensação é de que o mal-estar está impregnado na casa inteira e aquele homem se tornou um estranho e intruso. A visita vira um turbilhão de sentimentos, pondo abaixo os móveis, o convívio e o sossego. Assim, a cenografia também se utiliza desse clima caótico, com objetos desarrumados no decorrer da encenação, mesas que se partem durante uma discussão entre os parentes e, de repente, uma banda de rock se instala em meio ao espetáculo.
Há uma completude nesta criação, e não apenas no que diz respeito à estrutura macro e estética da obra em si. Com bastante força, há o amadurecimento de um corpo artístico. O trabalho de ator de Giordano Castro, Pedro Wagner e Erivaldo Oliveira – os mais antigos do grupo em cena (estão também no elenco Bruno Parmera e Mario Sergio Cabral) – ganha relevo, agora em novo tom, destacado pelo texto. A dramaturgia tem longos diálogos e alguns monólogos, que permitem a esses atores experimentarem a cena de forma mais extensa e emotiva em comparação às peças anteriores do grupo.
Apenas o fim do mundo consolida ecos da pós-dramaticidade na linguagem do Magiluth – por exemplo, a presença constante do contrarregra no palco, o ator Lucas Torres, como quinto sujeito da história – como lente de leitura para falência do amor, dos sentimentos e das relações, ao mesmo tempo em que nos aponta para novas possibilidades de criação do grupo, cujo discurso amadureceu e afincou na crise irreversível deste homem contemporâneo.
MATEUS ARAÚJO é jornalista, pesquisador, crítico de teatro e mestrando em Artes Cênicas pela Unesp.