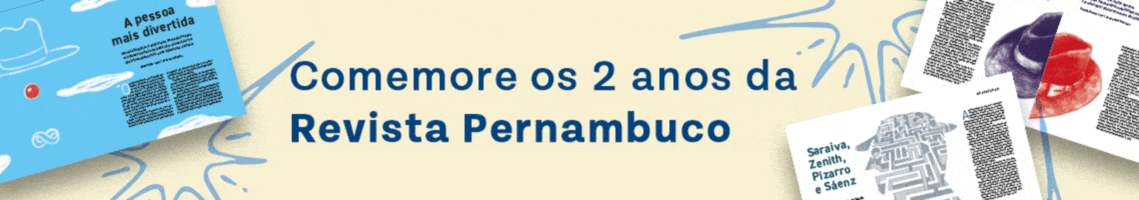Povo Xukuru: pé no chão e raízes profundas
Três gerações dos indígenas de Pesqueira, Diego, dona Zenilda, viúva de Chicão, e Adjailson fazem um panorama de como se aprende e ensina na Serra do Ororubá
TEXTO Chico Ludermir
18 de Fevereiro de 2019

Com 26 anos, Diego é neto do cacique Chicão e um dos fundadores da Ororubá Filmes
Foto Rennan Peixe
[conteúdo extra à reportagem de capa da ed. 218 | fev 2019]
Era noite no ano de 1998 e a família de Chicão Xukuru se reunia ao redor de uma fogueira acesa. O neto, Diego, tinha seis anos na época e não entendia bem, mas sentia a atmosfera de tensão que beirava o pânico, queimando como o fogo. Era o auge da luta pela reconquista dos territórios indígenas das mãos de 281 posseiros, em Pesqueira, Agreste de Pernambuco, e os conflitos fundiários traziam consigo ameaças de morte ao cacique, no movimento que ficou conhecido como “retomada”.
“Não sei bem o que o aconteceu, mas lembro que todos nós entramos às pressas na casa do meu vô Chicão e da minha vó Zenilda”, relembra Diego, que, desde a barriga da mãe, acompanhava a luta, dormindo em esteiras, debaixo de lona, em ocupações políticas marcadas por práticas ritualísticas de seu povo. Durante a madrugada, ouviram passos e sussurros rodeando a casa e, ao amanhecer, algumas bitucas de cigarro eram marcas de que os pistoleiros em ronda se preparavam para matar a maior liderança indígena do Estado.
As lembranças de Diego vêm acompanhadas por uma voz embargada. Na aldeia, a memória do passado é viva e tudo ainda reverbera o legado da força de Chicão. Depois do assassinato do cacique, o neto e parte da família se exilaram em São Paulo, temendo mais mortes. Os sete anos longe do convívio cotidiano com os seus, no entanto, não afastaram o menino de sua história. Em casa, ele e o irmão mais novo viam e reviam as fitas VHS com gravações de seu avô. Nas horas vagas, enquanto sua mãe recebia notícias da resistência Xukuru em Pernambuco, por telefone, as “brincadeiras” das crianças eram uma forma de reconexão com sua ancestralidade, distante apenas geograficamente. “A gente tava lá, mas tava aqui”, conta Diego, que voltou ao seu povo no início da adolescência. “Mesmo em São Paulo, a gente sempre dançava o toré dentro de casa, cantando os pontos que a gente se lembrava. Tínhamos com a gente a maraca, a barritina (cocar) e a saudade do nosso lugar”, relembra.
Voltar a Pesqueira foi a realização de seu desejo cotidiano. Mesmo com a conexão pulsante em São Paulo, Diego impressionou-se ao re-conhecer a sua própria cultura. A presença peculiar dele e do irmão na aldeia misturava a identificação ancestral com um olhar aguçado de observador, próprio de quem chega de fora depois de tempos distante. Não era só a dança, a música, o artesanato. Era o envolvimento com a natureza e a relação comunitária que o deslumbravam. Diego ainda não conhecia o conceito na época, mas agora se refere a essa prática como o “bem-viver”, característica marcante dos povos originários.
Hoje, aos 26 anos, Diego é uma referência da juventude indígena e combina a sabedoria tradicional de sua etnia, que herdou e aprendeu espontaneamente, com as técnicas que acumulou, em especial, no audiovisual. É integrante da rede Poyá Limolaygo (que em brobo, língua do tronco Tupi, significa “pé no chão”), de jovens Xukuru, e um dos fundadores da Ororubá Filmes, produtora de cinema iniciada a partir de uma oficina de seis meses oferecida pela produtora Cabra Quente em 2008, da qual participaram cerca de 15 jovens indígenas. Além disso, concilia essas atividades com seu trabalho como profissional de saúde.
“O audiovisual é uma ferramenta de fortalecimento da nossa cultura e de envolvimento dos mais novos. Entrevistamos os mais velhos do nosso próprio povo e, ao mesmo tempo em que filmamos e editamos, aprendemos mais sobre nossa própria cultura”, afirma, pontuando que as relações de pertencimento dos jovens com a aldeia aumentaram a partir do fazer fílmico. Além da produção de narrativas próprias, a Ororubá Filmes tem um projeto de cineclube itinerante nas aldeias que, este ano, pela primeira vez, contará com verba do edital do Funcultura. Somado ao formato documentário, o coletivo, hoje composto por cinco jovens, tem feito registros de encontros e transmissões ao vivo, em especial das assembleias anuais. “A gente mostra a nossa visão sobre a gente mesmo. Mostra a verdade do nosso povo.”
A atuação e o compromisso dos jovens com a identidade Xukuru é marcante e estabelece um processo de trocas horizontais. Se a transmissão de saberes dos mais velhos é uma máxima, a partilha dos jovens com eles mesmos também é uma ferramenta de fortalecimento. Os mais novos participam das assembleias internas, assim como de encontros locais, estaduais e nacionais, inseridos na Comissão de Juventude Indígena de Pernambuco – Cojipe e na União da Juventude Popular – UJP. “Nessas vivências, a gente pode entender melhor tanto a nossa realidade quanto a dos outros. A gente se fortalece e aprende bastante”, conta Diego. Nos encontros, são organizadas, por exemplo, oficinas de confecção das indumentárias tradicionais, artesanato e instrumentos musicais, que complementam o aprendizado cotidiano com os anciãos, e são debatidos assuntos sobre as políticas de afirmação indígena.
Preocupado com a continuidade de sua música, Diego buscou aprender a tocar o membi (gaita usada nos rituais). Junto a outros jovens da Ororubá Filmes, foi atrás do Mestre Medalha, um dos poucos tocadores dentre as aldeias Xukuru. Sentaram-se com ele e ouviram as indicações do que fazer para produzir o instrumento. Foram atrás da cera da abelha aripuá, seguindo as recomendações do mestre. Depois que os instrumentos ficaram prontos, Medalha pôs-se a ensinar os meninos a tocar. “O povo sempre tem muita paciência de ensinar a gente”, ressalta, dizendo que faz parte da pedagogia indígena as visitas às casas dos mais velhos, fonte do conhecimento dos ancestrais e dos encantados. “De pequeno, a gente aprende a ter respeito aos mais velhos e à sabedoria da natureza”, nos conta Diego, ao lado de sua vó Zenilda, que ouvia ternamente as palavras do neto. “Quando eu sinto alguma coisa, eu vou logo na casa dela para pegar alguma planta medicinal do seu quintal”, conta apontando para a mais velha.
***
Dona Zenilda, viúva de Chicão e voluntária de seu povo
A avó de Diego, dona Zenilda, de 68 anos, é uma importante liderança do povo Xukuru. Viúva de Chicão e mãe do atual cacique, Marquinhos, tem uma relevância fundamental na formação dos jovens e mulheres de sua comunidade. Sua própria história de luta e conexão espiritual servem de guia para as novas gerações; é fonte de sabedoria e força para seus familiares, consanguíneos, ou não.
Quando Chicão foi assassinado, a perseguição continuou. Zenilda recebeu três mandados de prisão. Em paralelo, seu filho, herdeiro do cacicado, sofreu um atentado, onde morreram dois jovens que estavam ao lado dele. Preocupada, sua família insistia para que ela se afastasse da luta, fosse para São Paulo ao lado de outros entes que se exilaram no Sudeste, mas ela insistiu. “Deus me deixou aqui na terra com um propósito e eu abracei essa missão que é a de libertar meu povo. Eu não vou sair daqui pra lugar nenhum”, dizia aos que lhe recomendavam partir. “Somos fortes e estamos com a força dos encantados. Eles podem ter o poder, mas não têm a força. O sangue derramado voltou para nossas veias e nos encorajou”, afirma, com firmeza e serenidade.
Os ensinamentos de Zenilda estão assentados numa transmissão oral, permeada de carinho e cuidado. Numa pedagogia que desafia qualquer separação racional entre vida e escola, didática e amor, entende que qualquer contato é transmissão de saber. “Estou repassando cotidianamente”, explica. “Meu espírito tá jovem, mas a matéria tá cansada. A gente vai ficando mais velha, mas sigo no meu trabalho que é espalhar semente pra germinar.”
Conversei com dona Zenilda sobre sua história, que se confunde com o passado recente de todo o seu povo. Interessado em saber alguns processos específicos da transmissão de saberes, passei cerca de uma hora ouvindo sua voz doce e segura a versar sobre vida e morte no Terreiro Sagrado da Aldeia Pedra d'Água.
Escutá-la é entender que a educação indígena é uma forma de existir. E existir, para eles, é luta.
– A senhora falou que tinha uma missão que era a de libertar o seu povo. A senhora acha que seu povo tá livre agora?
– Uma coisa de que a gente nunca vai se libertar é da perseguição política. Mas somos resistentes e não vamos parar de lutar. É por isso que estamos preparando nossos jovens para o mundo lá fora, para esse enfrentamento. Livre nas nossas terras, nós já estamos vivendo. Mas, cada dia que passa, tem leis que vêm nos perturbar. Nós temos que estar preparadas materialmente e espiritualmente – e isso nós já estamos – pra lutar.
– A senhora fala dessa semente que a senhora tem plantado, uma semente de luta. Eu queria entender como se dá esse “semear”...
– A minha prática do dia a dia é mostrar pra eles que a gente não só vive com muito. A gente vive com pouco, desde que saiba se planejar. Então, eu converso com eles. É essa a minha preparação dos meus jovens, espalhando esses saberes pra eles. Hoje, eu vejo que eles estão bem empolgados na luta, bem envolvidos.
– Eu fiquei pensando também que aqui o entendimento de “sabedoria” não se refere só à matéria...
– Não. É o espiritual. É mais forte.
– E como é que se “semeia” isso?
– Já nasce. Eu já nasci. Eu sentia uma coisa muito forte que o pajé viu em mim. A gente não tem livros, nós aprendemos com a natureza. Ouça esse cântico: “Mandai tua força/ da terra e do ar/ das águas e das matas/ do Ororubá”. Esse é o momento de a gente estar pedindo a força da natureza sagrada, dentro do terreiro do ritual. É um mistério. Nem todo mundo tem esse dom.
– Eu queria saber um pouco sobre esses saberes tradicionais – de rezar, benzer, partejar. Aqui ainda se parteja, se benze, se reza? A senhora conhece das plantas medicinais?
– Eu agradeço a Deus todos os dias, porque as minhas curas sempre são com plantas medicinais. Eu via a minha avó fazendo chá, o pajé, os mais velhos. Hoje, repasso para os meus netos. Quando eu dou fé, eles chegam com as folhinhas das ervas, mostram as plantas de fazer o chá. Quer dizer, eles já sabem que ali é planta que cura.
– Eu não quero que a senhora me revele nenhum segredo não, mas me diga, dentro do que achar que deve, as plantas que a senhora usa...
– Eu sempre tenho na minha casa muitas plantas medicinais. Eu tenho um murinho e passo a tarde ali cuidando das minhas plantas. Já estou repassando e as crianças já vêm na minha casa atrás das plantas medicinais. Eles me chamam: “Vovó, eu tô com tosse. Eu quero daquele seu remédio”. Aí eu junto as três ervas, piso num pilão, faço o sumo e adoço com mel. Não tem tosse que não cure. A minha irmã que mora na cidade não acredita muito nas plantas medicinais. Faz tempo que mora na cidade. Eu respeito. Mas ela teve uma menina que teve um surto de uma gripe com tosse e recorreu a mim. Eu peguei as ervas, mandei ela conservar na geladeira e todo dia pisar três dedinhos. E ela se curou. Hoje tá repassando a receita pros outros.
– Qual é essa receita tão boa?
– Provavelmente você não vai ter as plantas em casa. Eu tenho vique. Não se compra a pomada Vick? Eu tenho o pé. Hortelã da folha miúda e poejo – uma erva bem pequenininha que é ardosa, igual à pastilha. Junta essas três e pisa. Faz o sumo e adoça com mel. Se você tem a hortelã da folha miúda, você pode fazer o chá bem forte e adoçar com mel. Só não cozinhe a folha. Eu adoro as plantas medicinais. Eu tenho várias: boldo do chile, louro, que juntando dá um bom chá digestivo. Eu ensino aos meus netos, é repasse dos saberes.
– A senhora parteja também?
– O meu primeiro neto, eu ajudei a vir ao mundo. Eu e a parteira. Na hora de ter o filho, o chá de cidreira ajuda muito a esquentar as dores pra que a criança venha ao mundo.
– Como a senhora vê a sua vida em relação ao seu povo?
– Eu sou uma pessoa assim: às vezes digo que sou diferente, mas ser diferente é normal. Eu sou uma pessoa dedicada ao mundo, à natureza, ao povo. Eu vivo para o meu povo e amo o que faço. Eu sou uma voluntária do meu povo. Eu venho todos os dias fazer comida, fazer limpeza. Estou aqui todos os dias. Porque a vida é pra lutar, não é pra ficar parado. Se você não lutar, você não vence a dor que você tá passando. Se, quando Chicão morreu, eu tivesse parado com a minha dor; se, quando meu filho, morreu eu tivesse parado (Zenilda perdeu um filho de acidente de trânsito); tava doendo! Mas eu fui lutar, porque lutar é crer. É fé e luz acessa. Nunca deixe sua luz se apagar por nada nesse mundo. Eu saio reacendendo a luz dos outros. “Opa! Bora, levanta, vamos à luta!” Se eu disser a você que eu tô preparando já o meu velório? Vai ser velado aqui o meu corpo. Isso daqui era uma fazenda, nós transformamos no que vocês tão vendo hoje. Sala de reunião, audiovisual, cozinha, escritório... E aí eu já comprei um HD. Eu entrei na modernidade e tô juntando minhas imagens ali porque, durante o meu velório, vão ser passadas essas imagens. “Quem foi Zenilda? Olha ela ali. Ela foi isso aqui e continua sendo.” A matéria vai repousar na nossa Mãe Terra, mas, espiritualmente, eu vou ficar no meio do meu povo. A vida é passageira. Nós temos que partir.
– Pode ser que seja em breve, pode ser que demore...
– Porque nós somos luz acesa e, a qualquer momento, podemos apagar. A gente tem que se preparar, porque a luz se apaga, mas ela deixa rastro.
– A senhora vai deixar outras luzes no lugar da senhora? Rastros?
– Já têm várias. Não é igual. Marquinhos assumiu o cacicado do pai e nós caminhamos bastante, demos grandes passos. Chicão deixou esse limite aqui e daqui nós demos continuidade. O mesmo é Zenilda. Zenilda se vai, mas já tem pessoas. A Silvinha e outras que eu estou preparando. A minha neta já tá envolvida na educação, já trabalha. Eu vou deixando pessoas que vão fazendo seus trabalhos, vão dando continuidade à luta. Mas não como dona Zenilda, por que ninguém substitui o outro.
– A senhora tava cozinhando, não foi?
– E você vai participar da nossa alimentação: xerém casado. Já comeu? O xerém do milho com a fava. Junta tudo numa panela só.
– Muito obrigado pelo convite! A senhora falou que era uma comida tradicional daqui...
– Tradicional nossa: o beiju, o xerém casado, o xerém com galinha. A gente sempre tá aqui renovando essa cultura dos nossos antepassados.
– A senhora aprendeu com quem a fazer?
– Com a minha avó. Fazer o beiju na pedra. No ano novo, a gente vai pra mata, vai uma turma de gente e fica lá fazendo beiju, beiju com sardinha. Com fogo de lenha e na pedra. Eu tenho essa modernidade hoje, o fogão a gás, mas eu tenho meu fogão a carvão e meu fogão à lenha. Quando eu paro em casa, eu cozinho à lenha, faço minhas comidas gostosas.
– E já tem gente que saiba fazer esses alimentos também?
– Já. Tô repassando pra minha juventude. No acampamento dos jovens, eu fui pra lá ensiná-los a fazer xerém. Pra eles aprenderem porque, futuramente, não sei se vou alcançar, mas a gente vai ter um transtorno muito grande na geração do mundo. Já tá tendo, né? Com essas coisas que acontecem. Você vai ficar com o dinheiro na mão, na cidade grande, sem ter o que comprar. Nós aqui estamos com a terra, nós plantamos, nós colhemos. Então, nós vamos colher o que nós comemos, o que nós estamos plantando. Aqui nós temos água da fonte. Na cidade grande, já aconteceu várias vezes: um monte de gente com dinheiro, mas em fila pra comprar, como, recentemente, na greve dos caminhoneiros. Não sentimos a falta de gás, de água ou de alimento. A gente tem nosso fogão de lenha, fonte de água, o que a gente cria e planta.
– Obrigado. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa?
– Quero cantar um cântico que chegou para unir as forças – não só a material, mas, principalmente, a espiritual, que a gente mais precisa. É um cântico bonito e forte, onde a gente invoca os nossos que já se foram. É assim:
“Mandai tua força
Da terra e do ar
Das águas e das matas
Do Ororubá
Salve a nossa mãe Terra
Salve as águas
Salve a natureza sagrada
Ô nahe nahe
Ô nahe nahe-a
Vamos unir as forças do Ororubá
Salve os santos e os encantos
Salve os reis do Ororubá
Salve a força dos encantados
Amém”
– Você sabe por que eu oro com os olhos fechados? Porque, nesse momento, eu estou no universo. Eu estou na mata, nas águas. Não estou aqui. E quando tiver com tristeza, escute esses cânticos da força.
***
Educador tem sido responsável por uma importante frente de luta
Adjailson Xukuru foi escolarizado dentro de um território ainda controlado pelos posseiros. Na década de 1980, as então escolas rurais não respeitavam as especificidades dos povos indígenas. Ao contrário, eram espaços de apagamento e dominação dos povos originários e desvalorização da identidade ameríndia – como em boa parte ainda são. Durante o processo de retomada e demarcação das terras Xukuru, período de intensos conflitos e perseguições, os movimentos de afirmação étnica começaram a pautar também uma transformação nos espaços de educação formal, entendendo-os como ferramenta de inclusão e respeito à diversidade dos múltiplos povos. Concomitantemente, acontecia em Brasília a constituinte, que apontaria justamente para a necessidade de um regime educacional que desse conta das especificidades do país.
Nascido na aldeia Lagoa, em 1975, Adjailson, hoje coordenador do programa pedagógico Xukuru, foi escolhido pelo cacique Chicão para coordenar uma das escolas, ainda em 1994, período de implementação da nova política educacional. “Chicão acreditava que eu e outros educadores locais tínhamos mais conhecimento para preparar a futura geração do que um professor ou professora não indígena. Elas tinham seu magistério, mas não conheciam nada do nosso povo”, explica. Morador da aldeia Lagoas, andava 8 quilômetros a pé para chegar à unidade educacional da aldeia Caípe, onde começou a ensinar. Apesar do esforço dos 16 km diários, o professor se lembra daquele tempo com orgulho: “Foi um momento muito importante na minha vida e na de nossa comunidade. Foi desse sonho que a gente modificou a educação do nosso povo”.
Adjailson relembra que, com os professores de fora, se “aprendia” que o Brasil tinha começado com a chegada de Pedro Álvares Cabral. O esforço de Chicão foi determinante para a transformação das escolas da região. “Foi um dos seus principais legados. Ele tinha como meta transformar aquele espaço que negava a identidade Xukuru e construía preconceitos da gente contra a gente mesmo, em um espaço de formação e afirmação do nosso povo”, conta. “Dizer que foram os portugueses que descobriram o Brasil e focar a educação no pensamento europeu é querer manipular a história e apagar as marcas dos povos indígenas que vivem aqui desde muito antes da chegada dos colonizadores”.
O educador se refere a essa transformação escolar como uma libertação de seu povo. Através da reforma, conseguiram romper com o modelo de educação do município e começaram a pensar em uma política educacional que atendesse às necessidades dos seus. Mesmo sabendo que a escola não é único espaço de aprendizagem, Adjailson entende que o ensino formal tem uma importância central na construção da memória e identidade de um povo.
As unidades educacionais em atuação no território Xukuru se tornaram referência dentro de uma nova lógica de ensino, em acordo, inclusive, com os artigos da então recém-criada constituição de 1988. A saber, no artigo 210, na seção de educação, estão previstos conteúdos mínimos para assegurar o respeito aos valores culturais e regionais que incluem, para as comunidades indígenas, a utilização da língua materna e processos próprios de aprendizagem.
Em 1992, aconteceu, no território Xukuru, o primeiro encontro de educação indígena, com os sete povos do Estado pensando juntos uma pedagogia específica e diferenciada. Adjailson lembra que, na época, contaram com o apoio da gestão estadual do então governador Miguel Arraes, no entanto, tiveram que lidar com uma forte resistência nas gestões dos municípios devido, especialmente, à pressão dos posseiros, muitos desses, políticos locais.
As premissas da escola indígena, segundo o educador, não estão voltadas para uma formação mercadológica e individualista, mas, sim, para o pertencimento comunitário. A educação é entendida como ferramenta da luta pela afirmação identitária. Dentro das instituições, em consonância com a dinâmica comunitária, prevalece o espírito da coletividade. “Não é uma educação que a gente vai preparar pessoas para a competição. Mostramos para nossas juventudes e para nossas crianças que viver bem não é ter um carro do ano, um apartamento ou morar na cidade. É contribuir com a vida do outro.”
Atualmente, as escolas específicas do território Xukuru somam 36 unidades – sendo três de grande porte –, divididas em 25 aldeias. Uma equipe de 222 professores atende um total de quase 3 mil estudantes indígenas. O projeto político-pedagógico segue um currículo pautado em sete eixos: terra e território, identidade, agricultura, história, organização, interculturalidade e espiritualidade, compilados em um material didático próprio. “Somos brasileiros, pernambucanos, pesqueirenses, mas temos a nossa identidade específica. Então, essa nossa identidade tem que estar presente também nas escolas para que possamos continuar existindo.”
CHICO LUDERMIR, jornalista, escritor e artista visual, é mestre em Sociologia.
RENNAN PEIXE, fotógrafo, professor e artista visual.