
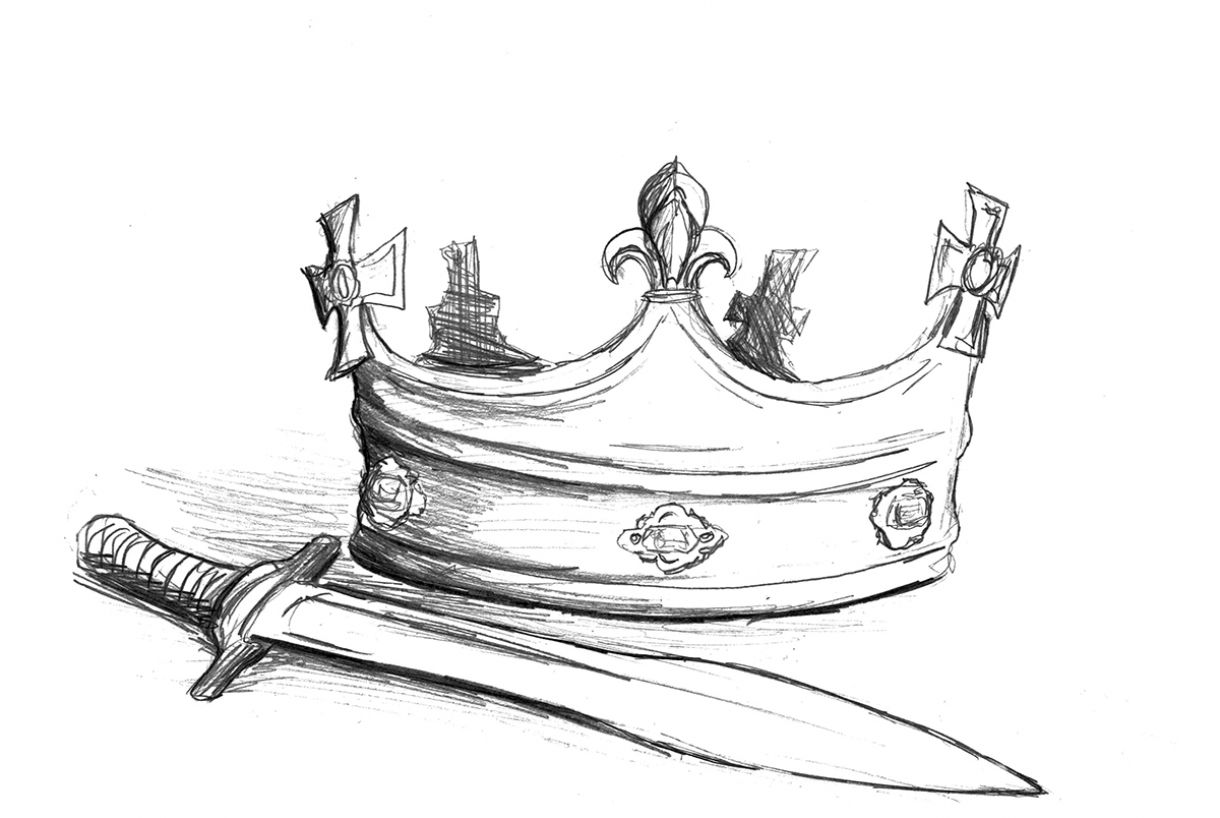
Ilustração Ashlyn Oakes/Reprodução
Não fui eu quem inventou a distensão na literatura e no teatro, embora sempre recorra a essa técnica nos meus textos. Walter Benjamin escreveu sobre o tema, fixando o conceito. Dramaturgos e romancistas que o antecederam já usavam o recurso como técnica ou linguagem. Benjamin sugeriu que escrever consiste largamente em citações – a mais louca técnica mosaica imaginável. Estou de acordo e obedeço. A partir de um relato do historiador grego Heródoto, ele fixou o conceito de distensão. Parece tão simples agora, tão óbvio depois do seu brilhante ensaio.
Quando conquistou Mênfis, o persa Cambises para humilhar o rei Psaménito mandou desfilar à frente dele sua filha vestida de escrava, na companhia de outras jovens da nobreza. Os pais caíram no pranto, mas Psaménito apenas baixou a cabeça. Depois Cambises ordenou que desfilasse um cortejo com 10 mil jovens da mais alta casta, entre eles o filho do rei, todos com uma corda no pescoço e um freio à boca. Iam ser executados. O rei soube controlar os sentimentos e, igualmente a quando viu a filha, não chorou. Logo após passarem os jovens, Psaménito avistou um mendigo velho e andrajoso e reconheceu nele um de seus comensais. Despojado da antiga riqueza, o infeliz ia de porta em porta implorando um pouco de alimento. Diante da cena, o soberano não se conteve, chamou o homem pelo nome e caiu no pranto. Quando foi interrogado por que procedera dessa maneira, Psaménito falou: “As desgraças de minha família são muito grandes para que eu as possa chorar; mas a triste sorte de um amigo que, já na velhice, cai na indigência, merece minhas lágrimas sinceras”.
A distensão não pode ser interpretada apenas como a catarse de uma personagem. É bem mais do que isso. Em Macbeth, de Shakespeare, na cena III do segundo ato, enquanto o espectador sofre e se horroriza com a sucessão de assassinatos cometidos pelo casal Macbeth, incluindo o do próprio rei, um porteiro discorre longamente sobre o seu ofício e o que a embriaguez estimula: nariz vermelho, sono e urina. Quanto à luxúria, ele diz, provoca e não provoca; provoca o desejo, mas leva embora a execução. E continua o blá-blá-blá sobre temas alheios à tragicidade da cena, conduzindo a plateia ao riso e à distensão. O homem ainda fala que o muito beber é o hipócrita da luxúria, cria e destrói, excita e paralisa, persuade e desanima, levanta e faz murchar. E outras elucubrações, queixas e sandices. Não poderia haver um contraponto mais estranho à ação de matar e morrer do que as parolices de um criado, porém trata-se de recurso usado por um gênio, artifício que será repetido por muitos outros escritores.
Dostoiévski abusava tanto da didática, de aulas e teorias nos seus longos romances, que as longas distensões irritaram o jornalista e escritor Paulo Francis. Certa vez, ele decidiu recortar tudo o que achava excessivo em Os irmãos Karamazov (ou seria Crime e castigo?), montando um novo livro, apenas com os trechos que considerava essenciais. A tesoura não perdoou as digressões sobre a Igreja e Deus, sobre a miséria, os estudos da epilepsia, as peças jurídicas de crimes, e etc., etc., até restarem poucas páginas. Depois da tosquia, Francis releu o seu Frankenstein e achou-o abominável, pobre, ridículo. Concluiu que não há Dostoiévski sem os excessos. Escrever muito era também consequência da miséria do autor, que recebia pagamento pelo número de páginas produzidas.
Nas viagens por feiras e salões internacionais de livros me impressionou, sobretudo na Alemanha, a recusa a qualquer formato de romance brasileiro que lembre o chamado romance de cultura. Sei que mesmo Thomas Mann, Robert Musil e Hermann Broch são pouco lidos nos tempos atuais. Em relação ao Brasil, a Europa e os Estados Unidos continuam desejando o velho exotismo e os estereótipos de brasilidade criados por Jorge Amado, ou livros sobre os dramas sociais da periferia de cidades grandes como o Rio ou São Paulo. É um estigma que dificilmente conseguimos quebrar.
Dentro de nossas fronteiras também existem cobranças. A moda dos anos 1960 e 1970 de prevalência da linguagem sobre a história (aliás, esta tem pouca ou nenhuma importância) continua valendo, com leis geralmente criadas pelo Sudeste e academias, com seguidores. Atravessamos contos, novelas e romances contemporâneos como se quebrássemos pedra, à procura de um veio aurífero que quase nunca se revela. Revela-se tedioso ler narrativas esquemáticas, sem paixão, cheias de ciladas que não assustam nem transtornam o leitor.
Quase não existe tensão ou distensão na nova literatura. A distensão se camufla em meros artifícios de linguagem e há uma rigorosa censura para não se dizer nem revelar. Patrulha-se tudo o que já foi estilo e forma nos clássicos: ensaios, exposição de ideias e pensamentos, digressões sobre a História, análise estética, opiniões políticas. Esqueceram que o romance era o espaço onde tudo cabia, do jornalismo à crônica, das cenas teatrais, como em Dostoiévski, aos grandes debates. Restam poucas saídas aos que se aventuram em escrever mais do que abobrinhas.
------------------------------------------------------------------------------------
*As opiniões expressas pelos autores não representam
necessariamente a opinião da revista Continente.







