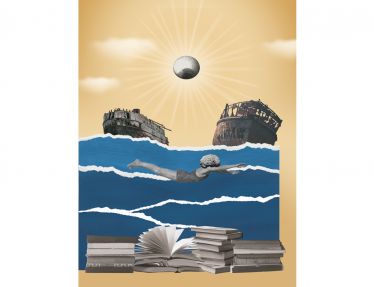A fluidez estética e musical de Harry Styles
Destaque do Grammy 2021, cantor britânico tensiona as fronteiras do pop e do rock em sua obra e chama atenção com seus figurinos libertários
TEXTO ERIKA MUNIZ E ANTONIO LIRA
17 de Março de 2021

O cantor, no centro da foto, acompanhado dos músicos Dev Hynes (esq.) e Mitch Rowland (dir.)
FOTO TWITTER HARRY STYLES/REPRODUÇÃO
"I know that you’re scared because I’m so open"
Golden, de Harry Styles
[conteúdo exclusivo Continente Online]
No último domingo (14), aconteceu a 63ª cerimônia do Grammy Awards, maior premiação da indústria da música norte-americana. Nesta edição, o evento teve que se adaptar às condições de segurança impostas pela pandemia. Contou, portanto, com algumas performances realizadas remotamente ou em locais abertos, com o público reduzido. Ao longo da noite, vários artistas costuraram as entregas dos gramofones dourados, em diversas categorias, com os shows. Na ocasião, um dos maiores nomes da música de todos os tempos, a cantora Beyoncé, quebrou mais um recorde, tornando-se a mulher mais premiada da história do Grammy. Outro destaque, esse com um toque brasileiro, foi a performance de Cardi B e Megan Thee Stallion, que contou com um trecho de funk remixado pelo DJ carioca Pedro Sampaio, na canção WAP. Taylor Swift também fez história como a primeira mulher a ganhar três vezes na categoria Álbum do ano. O músico Harry Styles, por sua vez, estreou na premiação vencendo em Melhor Performance Solo de Pop.
Ao jovem artista britânico, coube a responsabilidade de abrir a cerimônia, apresentando uma versão cheia de sensualidade de Watermelon sugar, canção de seu segundo álbum, Fine line (2019), que tematiza de forma subjetiva o sexo oral. Não por acaso, essa foi a música que o fez conquistar o prêmio. Acompanhado de sua banda, em um cenário minimalista vintage, que evoca símbolos de produções consagradas em décadas anteriores, ele estava em uma decotada jaqueta de couro e uma echarpe de plumas verdes, bastante comentada – e que também foi motivo de memes nas redes sociais.
Conhecido por figurinos intrigantes e apresentações que, vez ou outra, chacoalham as fronteiras entre o rock e o pop, com sua carreira solo, ele tem chamado ainda mais a atenção da crítica – e também dos tabloides. Em 2017, chegou a ter seu primeiro disco elogiado pela Pitchfork, publicação conhecida por dedicar textos a trabalhos de artistas indie. A Rolling Stone, em 2019, o reconheceu como “um rockstar do século XXI”. E, em dezembro de 2020, Harry estampou a Vogue dos EUA, tornando-se o primeiro homem a aparecer sozinho na capa da revista.
Se por um lado ele tensiona o lugar do rock britânico atual – por sua trajetória ter tido início na boyband One Direction, pop em sua essência, e também por suas performances questionarem o conservadorismo evidenciado no próprio gênero rock, que se pretende autêntico e não-mercadológico –, por outro é necessário pontuar que grande parte do destaque que ele vem recebendo também se relaciona à sua condição de homem, branco, cisgênero, britânico e compositor de músicas em língua inglesa. É possível encontrar vídeos e postagens na internet que refletem sobre o porquê das performances e figurinos fashionistas de Harry, que apresentam certa fluidez de gêneros, receberem mais visibilidade do que outros de seus contemporâneos.
Harry não é nem o primeiro, tampouco o único a se utilizar da moda para borrar os lugares rígidos atribuídos à masculinidade. Isso, porém, não parece ser uma de suas preocupações, mas ele acaba sendo necessariamente questionado por isso. David Bowie, Prince, Mick Jagger, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Tyler The Creator, Marc Bolan, André 3000, Jaden Smith e muitos outros, cada um à sua maneira, são alguns dos que utilizam – e/ou utilizaram – seus corpos para questionarem regras socialmente preestabelecidas. Mesmo assim, em tempos de “meninas vestem rosa e meninos vestem azul”, o estilo de Harry Styles acaba sendo mais evidenciado do que, por exemplo, diversos artistas negros que também pautam essas questões a partir da maneira com que se vestem desde sempre.
Importantes reflexões como essas, sobre como as indústrias musical e da moda privilegiam a branquitude deveriam estar no foco de todos os debates, sobretudo, no início desta década. Uma das maiores injustiças da história da música aconteceu no próprio Grammy, em 2017, quando Adele, com seu disco 25, recebeu o prêmio de Álbum do Ano, ao passo que Lemonade, de Beyoncé, não levou o prêmio, apesar de concorrendo na mesma categoria. Historicamente, a premiação é conhecida por ter ignorado, em vida, grandes artistas negros, como a própria Nina Simone. Nessa edição, a premiação repete a injustiça ao não indicar o canadense The Weeknd com o seu aclamado álbum After hours, o que o fez boicotar publicamente o evento.
Em pleno século XXI, o fato de um homem branco, famoso e britânico, como Harry Styles, vestir-se com peças que costuma(va)m ser associadas ao vestuário feminino ainda causa incômodo (para alguns). Exemplo disso foi quando ele usou um vestido Gucci em ensaio para a revista de maior prestígio no mundo da moda, a Vogue. Demonstrando grande insatisfação, a comentarista ultraconservadora Candace Owen chegou a criticá-lo, no Twitter, pelas imagens exibidas na publicação, afirmando que era preciso trazer de volta “homens másculos”, já que “nenhuma sociedade pode sobreviver sem homens fortes”. Várias celebridades partiram em defesa de Harry Styles e suas escolhas.
Envolto em uma aura de subversão, o rock sempre explorou signos associados à masculinidade, seja pela agressividade com que algumas letras e melodias se apresentam, seja pela suposta “seriedade” que atribui a si mesmo. Artistas do gênero costumam ser consagrados quando suas atitudes e criações são consideradas “autênticas” dentro de uma lógica que reproduz valores, em certa medida, conservadores. Constantemente, o valor artístico de uma obra de rock relaciona-se à racionalidade (eurocêntrica), isto é, prima por ser uma música “original e inovadora”, feita “para pensar”, “para ser bem-executada” ou “para transmitir uma mensagem política contundente”. Mas e por que não seria uma música para dançar?
Vale lembrar que em sua origem, na década de 1950, ele era o rock’n roll, cujo nome se relacionava à dança e à expressão do corpo de jovens, principalmente, negros. Sister Rosetta Tharpe, Chuck Berry e Little Richard – este último homenageado no Grammy, no último domingo, pelos artistas Bruno Mars e Anderson Paak – não receberam a mesma visibilidade que um de seus contemporâneos, Elvis Presley.
Harry Styles evoca, em suas performances, a tradição das “bandas de garotos”, que também faz parte do imaginário do rock britânico. Beatles, Stones, Smiths, Oasis, Arctic Monkeys, com suas músicas, cabelos e trejeitos de jovens ingleses também utilizaram do palco para construir sentidos e conquistar o afeto de fãs ao redor do mundo. Para Harry, que veio da One Direction, ser um roqueiro do século XXI é abraçar também o seu lado pop.
A dança, a maneira como se expressa por meio de roupas e a forma com que se relaciona com seu fandom são algumas de suas potências. No álbum Fine line, ele utiliza referências que vão de cânones do rock, como Bowie e Fleetwood Mac – banda de sua amiga Stevie Nicks –, ao pop contemporâneo, ao mesmo tempo em que se evidencia enquanto uma estrela do pop, contemporânea à ascensão do k-pop (gênero pop coreano), à febre do Tik Tok e ao tensionamento das fronteiras entre gêneros, sejam eles musicais ou de outras ordens. Não dá para esquecer que esta é uma época extremamente imagética, a superexposição é uma realidade comum a todos e os avanços relacionados aos movimentos sociais colocam questões que atravessam as produções de diversos artistas, sobretudo do mainstream.
Embora apoie diversas bandeiras políticas, constantemente, em entrevistas, Harry reitera que não deseja o protagonismo em nenhuma delas. Suas escolhas artísticas, inclusive, parecem partir menos de uma vontade de transgredir – mesmo que subvertam várias estruturas – e mais do intuito de reconhecer-se em suas complexidades, saindo sempre de sua zona de conforto criativa.
Para além da sonoridade e do visual marcante de Harry, esse tensionamento talvez seja a principal influência de David Bowie em sua obra. Durante a produção de Fine line, o jovem artista britânico assistira diversas vezes pelo celular um vídeo do astro de Space oddity (1969). Nele, Bowie sugeria: “If you feel safe in the area you’re working in, you’re not working in the right area” (“Se você se sente seguro na área em que está trabalhando, você não está trabalhando na área certa”, em livre tradução). Desafiar-se é importante e um passo fundamental para transformar o mundo tal como o conhecemos.
ERIKA MUNIZ é jornalista com graduação em Letras.
ANTONIO LIRA é jornalista, músico, pesquisador em comunicação e mestrando pelo PPGCOM/UFPE.