
Urbanismos: A relação entre o design e a cidade
Para onde olhamos, vemos design. Essa onipresença é significativa no traçado paisagístico de cidades como o Recife, Nova York, Londres, Mumbai ou Sidney, embora se mantenha, por vezes, invisível
TEXTO Luciana Veras
01 de Novembro de 2014
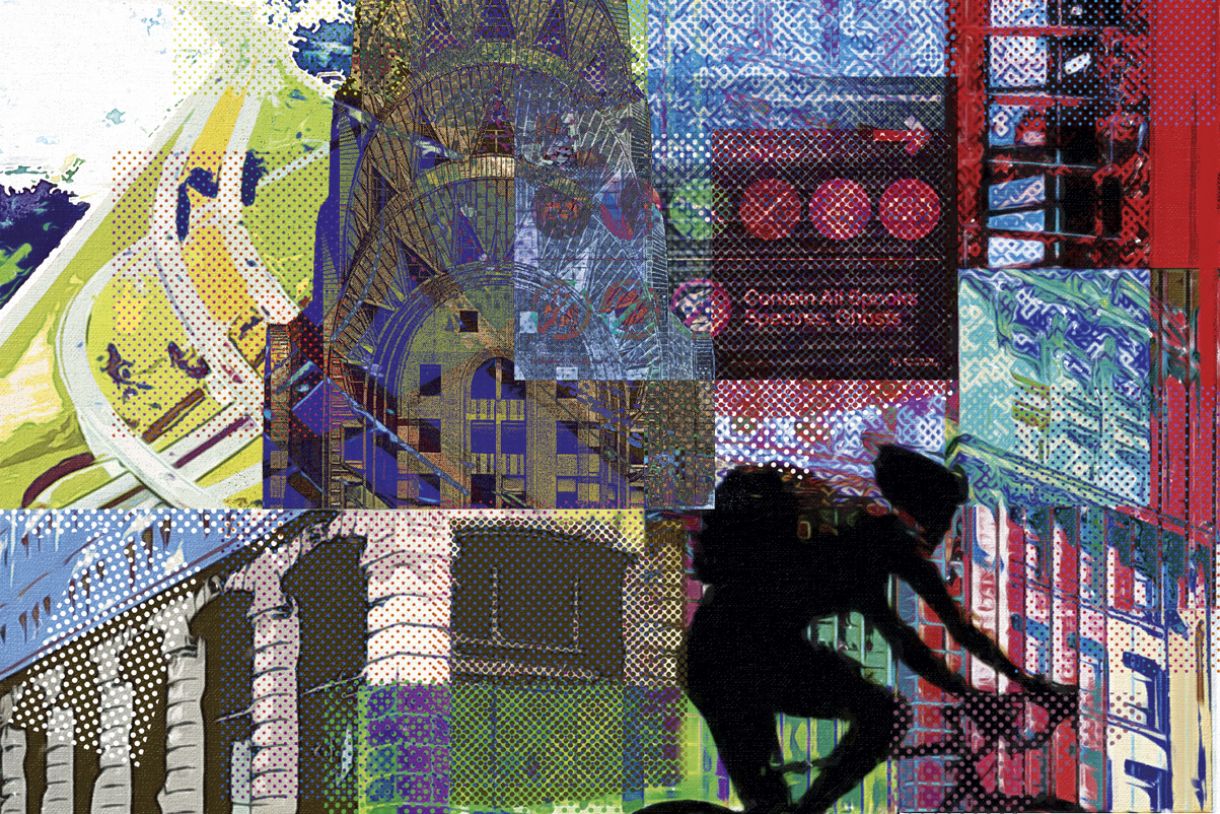
Ilustração Indio San
"Design pra mim foi um problema de responsabilidade social. Eu vivia como pintor e a necessidade de um engajamento na forma de utilização desse tipo de linguagem é que me levou a liderar, em certo sentido, um caminho”, disse certa vez Aloisio Magalhães (1927-1982), pintor, artista plástico, cenógrafo, gestor cultural e um dos maiores – se não o maior – designers gráficos do Brasil, autor de célebres marcas até hoje admiradas, como a do IV Centenário do Rio de Janeiro (1963) e da Fundação Bienal de São Paulo (1965). Na mesma ocasião, ao ser entrevistado pelo jornalista Zuenir Ventura para a revista Istoé, seis meses antes de sua morte, ele inventou um conceito para a profissão que abraçara: “O fenômeno do design é aplicar todo um instrumental e uma linguagem vinda das formas da criatividade em um processo de interesse coletivo mais significante”.
O pioneiro pernambucano esteve em foco na Ocupação Aloisio Magalhães, organizada pelo Itaú Cultural, entre os meses de julho e agosto deste ano. E o design, área para a qual deixou expressiva cota de contribuição em projetos e reflexões, segue em evidência no instituto sediado em São Paulo: neste mês de novembro, será inaugurada a exposição Cidade gráfica, cujo eixo temático busca problematizar as relações entre a prática do design e a vida em coletivo nas metrópoles de hoje.
É de design e cidade, portanto, que se erige a mostra, com projetos amealhados pelos curadores Celso Longo, Daniel Trench e Elaine Ramos em todo o país. Os três designers pertencem à Alliance Graphique Internationale/AGI, cujo congresso internacional se deu em agosto, na capital paulista, pela primeira na América do Sul e com apoio do Itaú Cultural. O ano de 2014 se constituiu no período em que o design gráfico foi enquadrado e debatido na programação de uma relevante instituição difusora da cultura brasileira. “Temos projetos de grande porte em todas as áreas de expressão cultural, mas, de fato, com a Ocupação Aloisio Magalhães, o evento da AGI e a Cidade gráfica, formamos um conjunto de ações que, de modo inédito, expandiu a reflexão sobre o design”, afirma Sofia Fan, gerente do núcleo de artes visuais do Itaú Cultural.
Natural que esse tipo de pensar se alargue, quando se constata que, em qualquer contexto de urbanidade, o design é onipresente. Está nos objetos com os quais as pessoas se municiam para atravessar suas jornadas de trabalho ou horas de lazer; na sinalização das ruas; nos carros, nas roupas, nos livros; e também no traçado paisagístico escolhido para o Recife, Nova York, Londres, Santiago, Mumbai ou Sidney. “O que sempre digo nas minhas aulas é que o design é absolutamente banal. O design que interessa é aquele que penetrou na vida individual e coletiva e nem se faz notar. Quem usa óculos, por exemplo, será que sente os óculos? Não, porque aquilo já foi incorporado. A interface é tão bem-resolvida, que a pessoa não sente o artefato”, pontua Ana Claudia Berwanger, professora do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, com formação em Desenho Industrial (UFPR), mestrado em Comunicação e Semiótica e doutorado em Sociologia (ambos pela PUC-SP).
Curadores da mostra Cidade gráfica viram no movimento o engajamento dos designers e participantes da política urbana. Foto: Sofia Lucchesi
Para ela, há uma tendência desnecessária à “espetacularização”. “Existe, na contemporaneidade, uma compreensão de que o design é algo que precisa ser visto, que só existe ao causar alguma medida de epifania ou espanto. No entanto, pode ser invisível, como uma faixa no chão que sugere às pessoas fazer algo. É quando não é visto, não é percebido, que é mais eficaz. O designer ora faz o papel dele em silêncio, ora de maneira espalhafatosa. Mas o desafio é fazer com que o cotidiano das pessoas no espaço público seja uma vida sem dor, em que o indivíduo, e não só o consumidor, não se sinta desprotegido da face construída da cidade. Quando falo em ‘face construída’, penso na engenharia, na arquitetura, no design… Todos são retalhos da colcha da cidade e, bem ou mal, ficam integrados. Cabe ao designer pensar projetos que promovam as sensações de proteção e orientação, para que o cidadão não se sinta hostilizado na própria cidade”, acredita Berwanger.
OCUPE ESTELITA
Em jogo, por conseguinte, está a conexão entre o profissional e o organismo vivo, no espaço contraditório que é a urbe. Cidade gráfica, antecipa o cocurador Daniel Trench, também trata disso. “Ser designer no Brasil, um país em desenvolvimento, é uma experiência distinta do que deve ser um profissional em um país desenvolvido, com uma cultura de design já estabelecida. Dessa forma, creio que o designer precisa pensar mais e mais propositadamente, e não a partir das demandas do mercado. Na exposição, por exemplo, não teremos projetos acabados, solucionadores de questões, e, sim, ideias que levantam outras questões. A cidade é um terreno de conflitos. Cabe ao design agir na mediação disso”, aponta Trench, bacharel em Artes Plásticas pela FAAP, mestre pela ECA-USP e professor do curso de graduação em Design Visual da ESPM, em São Paulo.
Ele cita o Ocupe Estelita – movimento da sociedade civil criado em oposição a projetos de urbanização no Cais José Estelita, na zona central do Recife, cujo ápice se deu no primeiro semestre de 2014, com a ocupação de uma das áreas do antigo terreno de 10 hectares, outrora pertencente à União – como um episódio em que se entrelaçaram design, política e urbanismo. “Há uma responsabilidade embutida no trabalho que você faz. O designer também deve se perguntar ‘para que estou fazendo isso?’. Não vejo problemas em desenhar capas de livro, mas penso que nossa atuação é política, e cresce quando ajudamos a um produzir um discurso do coletivo. O engajamento pode se dar de diversos modos, e o Estelita é um exemplo disso”, argumenta Trench.
Para Celso Longo, que, junto a Elaine Ramos, esteve no Recife em julho deste ano, na prospecção de projetos e ideias para integrar Cidade gráfica, o movimento encampado por parte significativa da sociedade recifense comprovou o quão fundamental é o design na vida urbana. “O Ocupe Estelita foi um processo emergente e coletivo. Percebemos que havia a intenção, por parte dos designers envolvidos, de fechar uma família tipográfica, de trabalhar com uma paleta cromática, mas isso não necessariamente reverberou, o que é uma característica de uma construção coletiva e horizontal. Não havia imposição do mercado nem de ninguém. A ideia do que está por trás disso é a forma como as pessoas se articulam para conseguir estabelecer bases de trocas políticas e de reflexão. O design pode ser peça importante e fundamental nessa conexão”, ressalta Longo, arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor de História do Design e autor de Design total, livro sobre o escritório paulista Cauduro Martino, publicado pela Cosac Naify.
Ele continua: “O curioso é que estivemos em Belo Horizonte e São Paulo, antes de chegarmos ao Recife, e vimos vários desses grupos que estão na mesma base do Ocupe Estelita já conectados, em conversas, brigando por direitos. A rede está um pouco implícita, e é legal pensar em transformar isso para o público que não é designer. Para esse cidadão específico, essas coisas estão acontecendo, e têm uma cara, em grande parte por causa da comunicação que o design propicia”. Por consequência, é no ato de se comunicar com aquele que anda pelas ruas, recorre às paradas de ônibus (a maior parte delas sem sinalização alguma), passeia a pé, de bicicleta ou de carro pelos bairros e vivencia a metrópole em sua essência cotidiana, que reside a chave para assimilar o quão enraizado é o casamento entre design e a cidade.
A sinalização pública torna-se marca registrada de um lugar, como as placas de metrô de Paris. Foto: SXC/Divulgação
SINALIZAÇÃO
Não se trata apenas da comunicação para o cidadão, mas de uma determinada metrópole para o mundo. Um jogo de dentro para fora, e de fora para dentro, em que as forças centrífugas e centrípetas deveriam estar, em tese, em equilíbrio, para garantir a sensação de familiaridade – para quem mora ou para quem apenas visita o lugar. “A cidade deve se vender para os turistas, mas também para sua própria população, que muitas vezes não faz ideia do que nela acontece”, examina o pernambucano Carlos Fernando Eckhardt, designer gráfico com experiência nos mercados dos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, agora atuando como consultor em estratégias de design e comunicação. “O ônibus vermelho e a caixa de correio de Londres, por exemplo, tornaram-se marcas inglesas. O bonequinho do sinal de pedestre de Berlim, elemento icônico importante, foi tombado como patrimônio. Esses símbolos ajudam a compor o vocabulário visual dessas cidades”, complementa.
Ele mira a falta de zelo com o patrimônio visual. “É preciso respeitá-lo da mesma forma que se cuida do patrimônio arquitetônico. Como pode uma faculdade comprar um prédio histórico no centro do Recife como é o Edifício JK e apagar aquela marca do INSS? Por gerações, ela foi referência para os que passavam por ali”, lamenta Eckhardt, que defende a tese de que a gestão da cidade deve abdicar de marcas atreladas a partidos políticos e fabricar uma identidade visual própria, íntima e intransferível. “Imaginemos o que seria de Paris se os prefeitos tivessem decidido destruir aquelas sinalizações antigas de algumas das estações de metrô, com elementos bem art nouveau? Uma cidade menos interessante, decerto”, sugere.
A escritora, crítica literária e pensadora argentina Beatriz Sarlo adentra esse raciocínio em um dos capítulo de A cidade vista – mercadorias e cultura urbana, lançado no Brasil este ano pela editora Martins Fontes. Ao falar de uma “lógica hiperidentitária”, noção aguçada pelo embate entre global/local, ela discorre sobre como a cidade, na condição de mercadoria turística, precisa ratificar o que é único e exclusivamente seu. “Na medida do possível, a cidade deve ser resumida a uma marca que remeta só a ela, como um logotipo: a baía do Rio de Janeiro ou de Nápoles, o Rockefeller Center e o Empire State Building, Notre Dame e a Torre Eiffel, o Coliseu e a Praça de São Pedro, o Guggenheim de Bilbao, a Ópera de Sidney, a Cibeles ou o Obelisco.”
Prossegue Sarlo: “O logotipo é a síntese das referências reais e imaginárias que se depositam no nome da cidade como espaço turístico, entre as quais se escolhe uma, não simplesmente por seu significado e beleza, mas por sua celebridade (e, se essa celebridade não existe, é produzida). Semiose pura, o logotipo permite, como o signo, identificar e diferenciar; identificar por qualidades específicas, ou seja, identificar através da diferença. A cidade só chega a ser uma cidade turística se tem algo que se possa transformar em logotipo, de modo que não é tão fácil esse processo de identificação semiótica, porque há cidades que primeiro tiveram de construir a base material do seu logotipo (a Ópera de Sidney, o Guggenheim de Bilbao) para depois sintetizá-lo como marca. Antes do Obelisco, Buenos Aires não podia ter logotipo. (…) Quer dizer que o logotipo não se elabora seguindo apenas as leis da produção de mercadorias, mas antes num entrecruzamento simbólico entre real urbano e o imaginário urbano”.
Dentro da perspectiva de que diversas linguagens se imbricam para forjar simbolicamente e literalmente a paisagem e o imaginário urbanos, o design surge como crucial. De acordo com Leonardo Castilho, coordenador da pós-graduação em Design no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, o que falta é uma visão sistêmica tal qual o “entrecruzamento” proposto por Sarlo. “Temos hoje trechos de visões sobre a cidade que não necessariamente refletem o coletivo”, situa o professor colombiano, formado em Design de Produto pela Universidade Nacional da Colômbia, com mestrado e doutorado na Universidade de Kyoto, no Japão, há uma década radicado no Brasil. “Os elementos têm que estar articulados numa visão sistêmica dentro de uma noção de cidade contemporânea. O designer, nesse sentido, está preparado para propor e levantar questões, para fazer uma articulação. Creio no design como ferramenta de estratégia”, assevera.
Boneco dos semáforos de Berlim. Foto: Divulgação
Recentemente, Castilho foi chamado para participar do Parque Capibaribe – Caminho das Capivaras, grupo interdisciplinar formado a partir de um convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, e a UFPE. “É um projeto para recuperação das margens do Rio Capibaribe. Nessa primeira fase, a proposta é reabilitar as bordas que vão do Parque de Santana até a ponte da Rua Amélia, e nela estou colaborando com o olhar do design”, diz. O Parque Capibaribe pretende atingir 35 bairros ao todo, abarcando “500 metros ao redor de cada margem, o que delimita 7.250 hectares de área de influência”, bordejando “35 bairros, que vão gradualmente se transformar em bairros-parque, atingindo 400 mil habitantes do Recife”, segundo o texto de apresentação em seu sítio na internet.
Ao designer é conferida a oportunidade de influenciar a concepção de cidade em que ele, na maioria das vezes, mora e trabalha. “Como posso fazer algo funcionar melhor? Essa é a pergunta que o designer deve se repetir todo dia. Não se trata apenas de garantir uma faixa exclusiva para bicicletas aos finais de semana e pensar uma sinalização para ela, mas lembrar que têm pessoas que por ela circulam às seis da manhã em dias de semana para ir ao trabalho. Como a cidade pode se aperfeiçoar e que tipos de serviços podem ser disponibilizados? Outras questões que o designer deve buscar, sempre atentando para o fato de que visões de curto prazo têm data de validade”, destaca Leonardo Castilho.
TOMADA POLÍTICA
Logo, a práxis não tem como se distanciar da política em sua acepção original – a palavra derivada do grego pólis, tradução para as “cidades-estado” ou para tudo aquilo que é público. Sem demagogia alguma. “O que vimos durante o Ocupe Estelita foi um trabalho colaborativo em que os designers contribuíram para uma situação específica, mas que reverberava na cidade como um todo. É importante para o profissional que vive de design também exercer a política no seu dia a dia, indo além das eleições, dos trabalhos que ele precisa tocar para se manter. Seja quem for o presidente, o governador ou o prefeito, o design deve estar inserido nas discussões sobre os modelos de cidade que queremos. Como profissional da área, como poderei me posicionar diante de um Congresso Nacional de maioria retrógrada, eleito em outubro? Não sei ainda, mas é algo que me disponho a fazer. É preciso mais designers ajudando a pensar o Recife e Olinda, por exemplo”, observa Luciana Calheiros, formada pelo curso de Programação Visual da UFPE e sócia de escritório de design no Recife.
Sua opinião quanto à inserção dos designers na formulação das políticas públicas é partilhada por Renata Gamelo, que, por cinco anos, coordenou as equipes do Centro de Design do Recife (CDR) e Centro de Formação em Artes Visuais (CFAV), ligados à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, e atualmente é pesquisadora para a Região Nordeste da Bienal Brasileira de Design Floripa 2015. “Design é sistema, é processo, e deve ser cada vez mais preocupado com os seres humanos envolvidos nos mais diversos contextos. Em algumas cidades, inclusive, a escala de intervenção do design no pensamento da cidade já chega às instâncias de gestão. Em Buenos Aires, na Argentina, há uma subsecretaria de Desenvolvimento Criativo, que tem interfaces e programas bem-desenhados com o Centro de Design e com os setores de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Inovação, Turismo, Cultura e Comércio Exterior”, comenta Renata, que fez residência no Centro de Diseño de Buenos Aires entre 2011 e 2012.
A experiência na capital portenha validou as crenças que ela já nutria. “Falta maior interação de designers com engenheiros, arquitetos e urbanistas, que pensem melhor na escala das pessoas na cidade. Países com qualidade de vida urbana têm, há anos, setores de design que interagem com equipes de urbanismo, que pensem essa ferramenta e sua aplicação na cidade a partir da escala humana. Em Buenos Aires, o design está no centro das discussões da economia criativa. Isso estabelece uma convergência de ações públicas e privadas para o desenvolvimento de todos os potenciais de contribuição dessa linguagem no desenvolvimento da cidade no longo prazo, independentemente de mudanças de governo”, observa.
A população também interfere na paisagem da cidade, como o grupo Piseagrama, com a ação Campanha não eleitoral. Foto: Piseagrama/Divulgação
MONSTRO OPACO
Assim como a exposição Cidade gráfica opta por transcender os ditames do mercado, “indo além das corporações, da indústria, para falar de um design para o coletivo”, nas palavras do cocurador Celso Longo, o embate entre mercado x conscientização pública é retomado em outras esferas. “A despolitização é uma crítica recorrente que faço à prática do design. Claro que os profissionais politizados estão aumentando em número, mas a formação ainda é ‘objeto centrado’. É preciso parar de pensar só no objeto enquanto construção de lógica interna e introduzir a consciência crítica, segundo a qual as decisões do designer afetam a vida coletiva – de pessoas que ele não conhece e de uma variedade de indivíduos e de grupos. A noção central da prática deve ser o usuário, mas sem que o designer acabe reificando esse usuário. Não se pode apenas idealizar um usuário porque, na prática, qualquer projeto vai atingir pessoas muito diferentes de um suposto público-alvo. E a cidade é um monstro opaco, em que a escala do indivíduo já é muito pequena. Não existe uma mediação de diversas maneiras. Até por isso é preciso projetar para o mais frágil, para os mais desprotegidos”, ressalta a professora da UFES, Ana Claudia Berwanger.
Uma volta a Aloisio Magalhães e à sua biografia atesta que ele enveredou pela política com os mesmos talentos e sapiência com que se graduou em Direito, foi artista plástico e ajudou a fundar a oficina de impressão literária O Gráfico Amador e a Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a primeira do país. Eram outros tempos. Quando morreu, aos 55 anos, era secretário de cultura do Ministério da Educação do governo João Figueiredo, o último do regime militar.
Três anos antes, em 1979, havia sido designado para diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. “Ele é o maior designer do Brasil. Se tivesse que eleger uma pessoa, seria o Aloisio. Ele tinha tanto o design corporativo como a experimentação, desde os tempos d’O Gráfico Amador, e ainda o lado político. O fato de ele ter trabalhado na ditadura tem um pouco de peso para alguns, mas em nada diminui sua relevância. Ele é o mais importante, sem dúvida”, expõe Elaine Ramos, também cocuradora da Cidade gráfica.
Lá atrás, muito antes do advento de tecnologias que alterariam por completo o âmago do design, ele já vislumbrava questões que, quatro décadas depois, desembocam nestas páginas da Continente. “Está no centro da questão o relacionamento entre tecnologia e comunidade, desenvolvimento e comunidade. Nesse processo de luta enfática, de posicionamento do desenho industrial, me chamou a atenção detectar a perda de valores culturais pela rapidez com que o processo de desenvolvimento é imposto, sem a necessária reflexão entre o que nós importamos como forma de fazer tecnológico necessário ao desenvolvimento”, afirmou em entrevista a revista Istoé, em 1979, cujo trecho está disponível no site Espaço Aloisio Magalhães.
Em maio de 1982, um mês antes de morrer, ao discursar em Goiânia na abertura do I Encontro dos Conselhos Estaduais de Cultura das Regiões Centro-Oeste e Norte (texto que fez parte da fortuna crítica da Ocupação Aloisio Magalhães), ele insistia em ampliar os horizontes de análise, em tom que hoje poderia ser entendido como profético, até, e certamente passível de leitura à luz atual: “Quais são os valores permanentes de uma nação? Quais são verdadeiramente esses pontos de referência nos quais podemos nos apoiar, podemos nos sustentar, porque não há dúvida de sua validade, porque não podem ser questionados, não podem ser postos em dúvida? Só os bens culturais. Só o acervo do nosso processo criativo, que deve tomar aí o seu sentido mais amplo – costumes, hábitos, maneiras de ser. Tudo aquilo que foi sendo cristalizado nesse processo, que ao longo desse processo histórico se pode identificar como valor permanente da nação brasileira. Estes são os nossos bens, e é sobre eles que temos que construir um processo projetivo.” ![]()
Leia também:
Uma marca para a cidade, e não para a gestão
"Como interagir com o lugar onde se vive?"
Signos: Como nasce a identidade de uma cidade?
"A Era do urbanismo autoritário acabou"







