
Signos: Como nasce a identidade de uma cidade?
Há o momento em que um lugar deixa de ser um conglomerado anônimo e passa à perífrase de si, como “a cidade-luz” ou “a cidade que nunca dorme"
TEXTO Luciana Veras
01 de Novembro de 2014
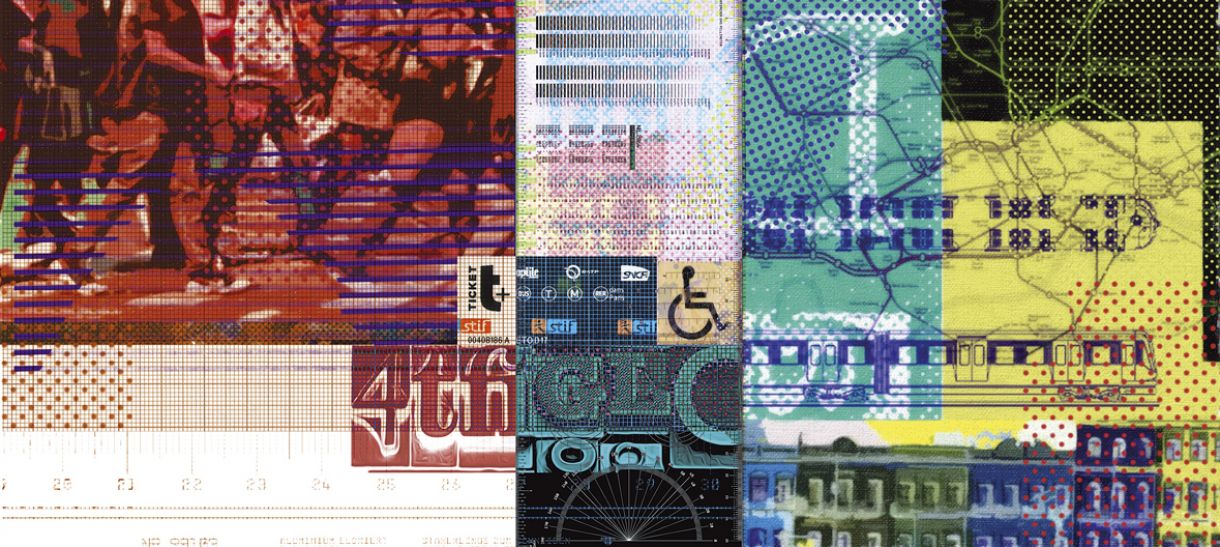
Ilustração Indio San
[conteúdo vinculado à reportagem de capa | ed. 167 | nov 2014]
É possível aferir o determinado momento em que uma metrópole como San Francisco, Barcelona, Marrakesh ou o Recife deixa de ser um conglomerado urbano anônimo para se legitimar como “a cidade da Golden Gate”, “a capital da Catalunha”, “a medina da praça Jemaa El-Fna” ou “a Veneza brasileira”? O curso da história ensina que a cidade é o que dela também transparece e o que dela é disseminado com um viés publicitário e turístico. E para esse notável fluxo, que pode transcorrer por anos ou décadas até ser capturado em um epíteto ou logotipo, é imprescindível a parcela criativa do design.
No capítulo intitulado A cidade imaginada, do livro A cidade vista – mercadorias e cultura urbana, publicado em 2014 no Brasil, a escritora e pensadora portenha Beatriz Sarlo convenciona a paridade entre as marcas e seus correspondentes textuais: “Sobre o logotipo, em alguns casos, acumula-se um signo verbal: a cidade que nunca dorme, a meca do cinema, a cidade-luz, a cidade do tango, a cidade santa etc. A lógica desses clichês é semelhante à do logotipo, porque resume qualidades diferentes em um só traço, embora este não seja uma descrição do ‘real’ mas uma metáfora. A imagem verbal funciona como os apelidos dos famosos: só os têm quem os ganhou. Algumas cidades têm logotipos reconhecidos; outras, em número menor, têm também imagens verbais sintéticas. Numa época em que a identidade é tudo (direito e dever de ter uma identidade ou várias, antes várias no mundo globalizado), a cidade multiplica o ícone identitário, comunicando-o com as técnicas do design”.
Pesquisador do Laboratório de Inteligência Artística do Departamento de Design da UFPE, arquiteto formado, professor adjunto do mesmo departamento e agora pesquisador em pós-doutorado no Royal College of Arts, em Londres, o pernambucano Gentil Porto Filho atenta para o que seria bem-descrito como desafio ontológico do design: o cabo de guerra entre a universalização, advinda com a Revolução Industrial dos séculos 18 e 19, e a particularização, que seria o esforço de amparar o local, tanto para propagá-lo como para dele fazer brotar uma identidade. “Submetido a processos industriais, o design tende a ser universalista. É resultado de uma civilização industrial e uma atividade que fortalece uma espécie de internacionalização do ambiente humano em que se vive. A indústria obedece a parâmetros tecnicistas que tendem a desconsiderar especificidades locais. Uma fábrica de automóvel funciona de um modo parecido em São José dos Campos ou nos Estados Unidos, na China ou no Japão. Esse é o paradigma do desenho industrial. O principal conflito é quando a tendência ao universal se vê em embate com especificidades culturais e geográficas”, sustenta.
Se, por um lado, afirma o professor, “é ingenuidade achar que o design sozinho é forte o suficiente para produzir uma identidade”, por outro, a atividade deve “afirmar a complexidade da realidade e não apagar vozes”. “A tendência da indústria é achatar as particularidades, porque ser uniforme é mais barato, mais simples, tem praticidade, velocidade e produtividade. Como planejar a partir de forças econômicas que tendem a padronizar, como produzir diferenças? Hoje, o Recife sofre pressões do mercado imobiliário, por exemplo, e da própria natureza da produção industrial. Essas forças tendem a apagar o que há de específico, mas encontram resistência nos hábitos de cada lugar, o que naturalmente gera uma disputa. O design deve proceder pelo não apagamento da diferença”, prossegue Gentil Porto Filho.
Conduzindo-se a discussão por esse caminho, ao designer não seria permitido se escusar de processos que podem moldar uma nova face do espaço urbano. “Ele deve ter no horizonte a consciência de que pode fazer projetos gentrificadores ou não. Há uma ideologia vigente que prega o design como uma maneira de pensar para deixar o mundo bonito, exterminando o feio. Estive recentemente em uma palestra em que foi citado o caso de um bairro decadente europeu, revitalizado a partir da instalação de um centro de design. O bairro foi transformado em polo cultural, a cidade toda festejou a recuperação, mas o palestrante, dentro de sua narrativa, exultava o fato de que todos os drogados e prostitutas haviam ido embora. Ou seja, não se deu conta do quanto isso era ruim para a cidade. O design, quando pensado dessa maneira estetizadora, tende a uma perigosa gentrificação”, vaticina a professora de Desenho Industrial da UFES Ana Claudia Berwanger.
No artigo O design e a cidade: considerações e perspectivas de análise (2010), ela reflete sobre o programa City of design, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura/Unesco, do qual já fazem parte localidades tão díspares e distantes quanto Pequim, Santa Fé, Buenos Aires, Nagoya, Montreal e Seul, a partir de uma possível adesão de São Paulo. “Os resultados previstos não se referem a qualquer benefício efetivo para a cidade de São Paulo e sua população em termos culturais públicos”, conclui. À Continente, reforça sua ponderação: “É uma iniciativa fetichista, sem preocupação alguma com a cidade, e, sim, com as unidades produtivas que vão gerar lucro por meio do design que é estetizado. Programas assim são facas de dois gumes: podem levar a uma dinamização econômica da cidade, mas, para mim, são uma etiqueta voltada a privilegiar alguns grupos e alguns setores, num esquema que não vai dar lucro para a cidade ou que preveja qualquer melhoria dos equipamentos urbanos”.
Mesmo desativada, a Battersea Power Station afirma-se na paisagem real e imaginária de Londres. Foto: Wikipedia/Divulgação
EFEITO DE SUPERFÍCIE
City of design seria apenas uma etiqueta. Há importância? Talvez, ainda mais quando Beatriz Sarlo recorda, em A cidade imaginada, que “a verdade não está em jogo na identidade, que é, por definição, a máscara daquilo que não se pode definir. A verdade não é um substrato, mas um efeito de superfície”. Mas é justamente na superfície, no que é percebido por qualquer transeunte, que se veem as intervenções de maior relevo, as que são apropriadas pela população como suas e superam, em importância, qualquer rótulo estrangeiro. Embutidos no corre-corre do cotidiano, estão lá “anúncios e letreiros, cartazes e outras peças gráficas, que, pelo tempo de permanência, já deveriam ser considerados parte da paisagem urbana e do processo de construção e mutação permanente da identidade da cidade”, como lembra a designer pernambucana Renata Gamelo, que tem trabalhando na pesquisa para a Bienal Brasileira de Design Floripa 2015, cujo tema é “Design para todos”.
Ela evidencia que a cidade, viva, transcende o previsto pelas instituições públicas e pelo setor privado. Todos auxiliam a sua metamorfose nesse labirinto, que ora parece gigantesco e incompreensível como o Aleph – no mais famoso conto do argentino Jorge Luis Borges, ora pequeno e familiar, como a aldeia de Liévin, em Anna Kariênina, de Liev Tolstói. “É no amálgama de contribuições que vamos fortalecendo a identidade da cidade. Não apenas seus equipamentos, edifícios e vias, mas também os anúncios em neon, outdoors, cartazes, lambe-lambes e nas expressões gráficas da arte mural, do grafite e do picho. No Recife, exemplos vivos são os letreiros em neon do Leite Floral e da Minhoto, próximos da Casa da Cultura, que podem ser vistos num passeio de barco ou numa caminhada pela Ponte da Boa Vista; a arte mural da Brigada Portinari, num prédio defronte à Basílica do Carmo; ou, ainda, os murais decorativos de edifícios comerciais, como os de Abelardo da Hora e Francisco Brennand, próximos à praça Joaquim Nabuco”, enumera Gamelo, referindo-se a marcos históricos que fazem tanto sentido para os recifenses quanto o Capibaribe e suas pontes.
Nada disso foi imposto ao Recife por governos ou consórcios empresariais. Uma vez instaurados em sua paisagem urbana, a partir da dinâmica própria da cidade, tais elementos foram a ela indexados como parte indissociável. Porque, como ferramenta de construção identitária, o design se alia a outras variáveis. Para criar a exuberância de Las Vegas, há algo além da estridência do neon. “O artefato neon é evidentemente algo universalizado. Mas, se Las Vegas é vista quase como uma ‘cidade neon’, não é porque a tecnologia e o objeto neon são mais próprios de Las Vegas que de outros lugares. É porque lá se associa a cassinos, hotéis e outras forças econômicas e sociais que podem gerar especificidade e dar um caráter identitário ao artefato que o design produziu”, afirma o professor Gentil Porto Filho.
ARTEFATOS PADRONIZADOS
Tome-se como exemplo o monumento londrino Battersea Power Station. Construído nos anos 1930 na margem sul do Tâmisa, era uma usina elétrica movida a carvão. Suas quatro torres altas, brancas, em contraste com os tijolos vermelhos da construção, até hoje dominam a paisagem nas cercania da Ponte Chelsea. Por que persiste? Do outro lado do Atlântico, por exemplo, pereceram os letreiros publicitários e outras fachadas simbólicas, de edifícios comerciais e residências já degradadas na década de 1940, imortalizados nas fotografias do norte-americano Walker Evans (1903-1975), em diversas metrópoles do seu país. Seria a resiliência da Battersea causada pelo protagonismo na capa de Animals, álbum gravado pelo Pink Floyd em 1977? Ou por reter a aura do industrialismo britânico? “Certos artefatos e arquiteturas padronizadas ganham peculiaridade a partir do modo como se inserem no contexto. O que pode ter tornado o prédio uma marca de Londres é sua associação com outros signos, como a capa do Pink Floyd e história da indústria inglesa. O objeto não fabrica isso sozinho, e, sim, ao estabelecer o diálogo em rede com outros aspectos. Nem o artefato nem a atividade do design podem ser avaliados isoladamente”, coloca Porto Filho.
Nada é por acaso. Não existe design desvinculado de contexto, do local em que se forja ou da presunção do usuário a que se destina. “A construção do design passa por um elemento de identidade, porém a cidade é um coletivo que, como um todo, vai se expressar da sua maneira. Um designer não tem que propor uma identidade aos mercados da Encruzilhada ou de Casa Amarela, por exemplo, porque neles já existem uma dinâmica, uma lógica que rege o trânsito, a disposição das barracas que vendem flores, dos quiosques da carne. Elementos identitários definem o que as pessoas vão adotar como referência na cidade, com parques, praças, o tipo de calçada. E essa é uma decisão para a qual o design contribui, mas que é do coletivo”, esmiúça o coordenador da pós-graduação em Design pela UFPE Leonardo Castilho. Ou seja, na contínua aproximação entre design e a cidade, existe uma carência mútua e decisiva para que se atinja o progresso harmônico de ambos. ![]()
Leia também:
Uma marca para a cidade, e não para a gestão
"Como interagir com o lugar onde se vive?"
"A Era do urbanismo autoritário acabou"



