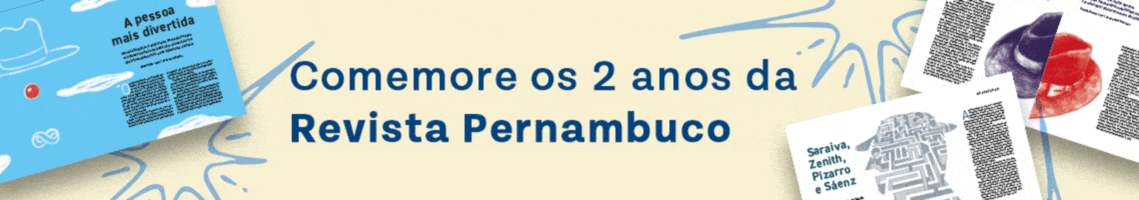Deus tem AIDS
Documentário de Fábio Leal e Gustavo Vinagre, em cartaz no Cinema da Fundação, é um corajoso mergulho nas experiências de pessoas que vivem com HIV e lidam com estigma e sorofobia no Brasil
TEXTO Luciana Veras
01 de Dezembro de 2022

Documentário mostra a vida de pessoas com HIV
FOTO Vitrine Filmes/Divulgação
Não poderia ser mais apropriada a estreia do documentário Deus tem AIDS. Em cartaz no Recife - nas salas do Cinema da Fundação - e no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Manaus e Belo Horizonte, o longa-metragem do cineastas Fábio Leal e Gustavo Vinagre acompanha sete artistas e um médico ativista, pessoas que há muito vivem com HIV, e propõe um mergulho nas suas experiências de lidar com a sorofobia no Brasil. E, nunca por acaso, entrou em cartaz no 1º de dezembro de 2022, o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Escolhas são políticas, como, aliás, são políticas as imagens desta obra necessária e obrigatória, até.
Uma distribuição da Vitrine Filmes, em parceria com a SPCine, e uma realização da Sancho & Punta, Ponte, Áspera Filmes e Carneiro Verde, Deus tem AIDS é, acima de tudo, a corajosa iniciativa de dois diretores comprometidos com os tempos em que vivem. Quarenta anos depois do início da epidemia de HIV/Aids no Brasil, as estatísticas ainda assustam: segundo o Unaids, programa da Organização das Nações Unidas criado para combater a doença, 50 mil novos casos foram registrados em 2021 – no mundo, a cifra de novas infecções foi de 1,5 milhão de pessoas. Ao todo, nosso país tem 960 mil pessoas vivendo com o HIV.
E estas pessoas são ignoradas pela mídia, castigadas por drásticos cortes de recursos nas políticas públicas (vide o que foi feito nos quatro anos de governo do presidente prestes a encerrar seu mandato), enxergadas sob o manto do preconceito e estigmatizadas como se ainda vivêssemos no início dos anos 1980. Tudo isso potencializa o generoso convite às vivências de Carué, Ernesto, Flip, Kako, Marcos, Micaela e Ronaldo, os personagens enquadrados pela fotografia de Tiago Calazans (que já trabalhara com Fábio no curta-metragem O porteiro do dia e também no longa ficcional Seguindo todos os protocolos) em situações nas quais se sentem à vontade para se expor, sem medo, e assim ratificar a necessidade de se falar sobre o assunto.
São momentos de dança, do corpo que baila sob o magnetismo de sua própria gravidade. De uma ousada performance artística que cutuca as pessoas dispotas a vê-la. De uma conversa em que o interlocutor mira a câmera, e assim nos encara, no conforto do descanso em sua rede. São instantes em que vemos um homem jovem sentado em uma praça pública, onde montou uma banquinha para conversar sobre HIV e Aids; registros de um espetáculo teatral em que a sexualidade é debulhada sem pudor; ou a captura da expressividade imagética e subjetiva da presença de Micaela Cyrino, artista e educadora, uma mulher negra que interpela a sorofobia vigente com um sinalizador pendurado em seu corpo e uma simples frase: eu não vou morrer.
 Micaela Cyrino em cena do longa. Imagem: Vitrine Filmes/Divulgação
Micaela Cyrino em cena do longa. Imagem: Vitrine Filmes/Divulgação
Por que é preciso, ainda, lembrar à sociedade que o diagnóstico da soropositividade não é mais, jamais, uma sentença de morte? O pernambucano Fábio e o paulistano Gustavo (Lembro bem dos corvos), acertamente, abrem Deus tem AIDS com imagens de arquivo - reportagens antigas de televisão cujas locuções em off acentuam que "AIDS, um fantasma para o homem moderno, uma doença que mata" ou ainda que o "inimigo avança, não poupa mulheres, nem crianças" e, como não poderia faltar, "o vírus da AIDS nasceu na promiscuidade sexual". E, ao longo da narrativa deste documentário que estreou no formato online no 10º Olhar de Cinema, em outubro de 2021, e depois esteve no 29º Mix Brasil e no IDFA - International Documentary Filmfestival Amsterdam, rebatem, por meio da força argumentativa, da presença física e da lucidez de seus personagens, esta argumentação estapafúrida e falida que, no entanto, ainda se faz perceber.
Em 2017, quando publicamos o dossiê A vida com HIV nas páginas da Continente #204, Fábio foi um dos entrevistados e assim discorreu sobre o projeto então denominado VHS HIV, assim pensando para, justamente, iluminar as memórias sombrias dos anos 1980, tempo em que a apresentação estigmatizada do "o câncer gay" ou da "praga gay" era recorrente na mídia. "As imagens de arquivo dos anos 1980, de revistas, telejornais e dramaturgia, estão em VHS, sujeitas a fungos e ações do tempo, assim como os corpos doentes daquela época, assolados pela magreza, por aquelas manchas da pele, pela toxoplasmose. Hoje em dia, o digital é cristalino e tudo está numa nuvem, assim como o vírus é quase uma virtualidade. As pessoas estão perfeitas, possuem a informação de que têm o vírus, não se vê doença alguma nos seus corpos, se estiverem em tratamento não transmitem o vírus. Mas, ainda assim, nós, como sociedade, não damos as condições para que elas escolham contar ou não contar que vivem com HIV. É muito estigma”, argumentava o realizador.
É compreensível, pois, que o filme adote um tom incisivo contra a sorofobia, esse pavor completamente descabido de quem vive com HIV. Porque hoje, quando I = I (indetectável = intransmissível, ou seja, se for baixa a contagem das cópias do vírus por cada célula CD-4, onde se aloja, o HIV fica indetectável no organismo, logo a pessoa não o transmite) e todo o tratamento em solo brasileiro segue sendo custeado e viabilizado por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, é inadmíssível perpetuar um preconceito arraigado em lógicas de quatro décadas atrás.
Sim, é verdade, estamos em novos tempos e a própria existência de uma obra cinematográfica com este título afirmativo é prova e reflexo disso. Porém, ainda em 2022, há quem pense e difunda que pessoas com HIV merecem ser escanteadas ou tratadas como párias. O que fazer com elas? Levá-las ao cinema para ver Deus tem AIDS, este golpe brutal e necessário para refutar crenças abomináveis, urdido com a delicadeza da partilha, com o acolhimento e a reverberação dos relatos e a assertividade das imagens.
Cartaz do documentário. Imagem: Vitrine Filmes/Divulgação
LUCIANA VERAS, repórter especial da Continente e crítica de cinema.