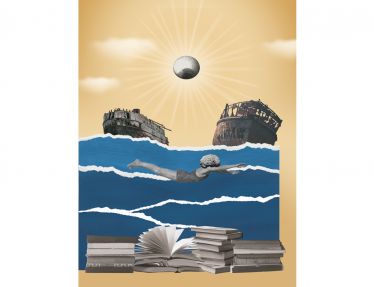O coração do Museu Nacional está batendo
Diretor da instituição que teve mais de 80% do acervo incendiado em 2018, Alexander Kellner conclama artistas, colecionadores e público a participarem da reconstrução do museu
TEXTO Mariana Filgueiras
13 de Setembro de 2021

Em meio à Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional está sendo reerguido
FOTO Victor Bittar, Orlando Grillo, Gabriel Cardoso e Pedro Seenhauser/ Divulgação
[conteúdo exclusivo Continente Online]
Durante o incêndio que lambeu mais de 80% do Museu Nacional, uma das peças mais importantes do acervo acabou revelando seus segredos depois de sucumbir ao fogo: da múmia Sha-Amun-En-Su (750 a.C.), que em quase 3 mil anos jamais fora aberta, sobrou apenas um pedaço do fêmur, um saquinho com quatro pares de pequenos amuletos, e seu escaravelho-coração. No Egito Antigo, a peça esculpida com a forma de um besouro era colocada no lugar do coração. O objetivo era evitar que o órgão da consciência e do caráter, levantasse contra o defunto em falso testemunho no tribunal dos mortos. Talhado em pedra, o artefato da Sha-Amun-En-Su estava intacto.
Neste mês completam-se três anos do incêndio de repercussão mundial e a tragédia segue revelando outras questões: que a arte pode ser uma grande aliada na sensibilização popular para a reconstrução do Museu; que a memória é um patrimônio que só se constrói coletivamente; e que a inoperância do poder público não conhece mesmo limites. Em entrevista à Continente, o diretor Alexander Kellner, há mais de 20 anos trabalhando na instituição e há 4 anos como diretor, explica como fez essas "descobertas" – amuletos pessoais que carrega para resistir ao extenuante processo de reerguer o Museu Nacional.

O escaravelho-coração, da múmia Sha-Amun-En-Su, de 3 mil anos, recuperado após o incêndio. Foto: Divulgação
"A ARTE COMO ALIADA PARA A SENSIBILIZAÇÃO POPULAR"
Quando recebeu a proposta de liberar o refugo de madeiras queimadas no incêndio para construir instrumentos musicais, Alexandre não pareceu muito convencido. Um dos bombeiros que havia atuado no combate ao incêndio, ocorrido no dia 2 de setembro de 2018, era também luthier e havia reconhecido madeiras muito nobres entre os escombros. O desejo de transformá-las em instrumentos musicais, dando novos sentidos à matéria destruída, encontrou o repórter da Globonews Vinícius Dônola, que fez a ponte entre a emissora e o Museu Nacional: queria acompanhar o trabalho de Davi Lopes durante a transformação do que iria para o lixo em arte. Ainda desconfiado, Alexandre topou.
O resultado acabou de estrear na Globoplay: Fênix, o voo de Davi, um documentário sensível sobre o encontro da rotina de trabalho de Davi – que já recolhia madeiras queimadas e as transformava em violões e cavaquinhos – com a dos funcionários do Museu que trabalham na sua recuperação. Com pedaços maciços de cedro, jacarandá e imbuia, Davi, que também é músico da banda do Corpo de Bombeiros, construiu dois violões, um cavaquinho, um bandolim e um violino. E os levou para serem tocados por artistas como Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Hamilton de Holanda, Nilze Carvalho, Felipe Prazeres e Paulinho Moska.

A reconstrução do Museu Nacional vem sendo realizado com minúcia e cuidado. Foto: Divulgação
"Ficamos muito contentes com a repercussão. O Davi transformou a tragédia em arte, eu tive a oportunidade de ouvir os instrumentos que ele fez, é muito emocionante. A arte é uma aliada para a sensibilização popular pelo Museu, foi uma das lições que aprendemos. No começo eu fiquei preocupado, achando que não daria certo, mas agora com a boa experiência do filme queremos usar essas possibilidades da arte para chamar a atenção para o Museu", disse Kellner.
Ele agora quer convidar outros artistas a oferecerem propostas de trabalho com as vigas de ferro que serão extraídas durante a reforma do prédio principal, e, quem sabe, fazer obras de arte que possam ser expostas no parque da instituição. "A ideia seria ter outra ação deste tipo que fizemos com o Davi, há vigas estruturais que terão de ser retiradas, e a partir dessas vigas será possível fazer projetos bacanas, que possam ser usados não sei se nos jardins da Quinta da Boa Vista, ou ou no nosso novo campus. Estamos construindo um parque-campus, que foi uma das conquistas desses três anos após a tragédia. Sem querer minimizar o incêndio nunca, mas estamos olhando pra frente para fazer o melhor que pudermos fazer", detalhou o diretor.
"A MEMÓRIA É UM PATRIMÔNIO QUE SÓ SE CONSTRÓI COLETIVAMENTE"
O acervo foi a parte da instituição que teve as perdas mais significativas. Vale lembrar que o Museu Nacional é um centro de pesquisa e ensino ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não deixou de funcionar em nenhum momento, apesar do incêndio. Mas o prédio histórico em que ficava sediada toda a parte expositiva, e que ficou praticamente destruído, virou um imenso canteiro de obras – e de garimpo – desde então. Neste ano, um dos resgates mais impressionantes tirou dos escombros um esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos.
Para reconstituir este imenso acervo perdido, o Museu lançou a campanha #Recompoe, com o objetivo de sensibilizar museus, instituições de pesquisa e colecionadores de todo o mundo a doarem peças ao Museu Nacional.
"O Museu Nacional não é um museuzinho de bioma brasileiro. A gente precisa de itens acervos mundiais. O nosso acervo era muito vasto, é um acervo que você não compra. Dos 20 milhões de exemplares que tínhamos, 85% foram perdidos. Com essa campanha, queremos recuperar pelo menos entre 20 mil e 100 mil exemplares. Essa memória só pode ser reconstruída coletivamente", detalha Kellner.
A campanha já começou a surtir efeito: uma das primeiras peças foi cedida por Kaimoti Kamayurá, representante da aldeia Karajá de Hawaló (Santa Isabel do Morro), da Ilha do Bananal, no Tocantins. É uma boneca Ritxòkò, um artefato de barro produzido pelas mulheres karajás reconhecida pelo Iphan como um patrimônio cultural brasileiro. A peça, que marca a campanha de doação, está exposta no estande do Museu Nacional na edição corrente da Bienal de Artes de São Paulo, que fica aberta até o dia 5 de dezembro. Outros itens recebidos foram: peças greco-romanas do diplomata aposentado Fernando Cacciatore de Garcia, uma coleção etnográfica africana do pesquisador Wilson Savino e as peças indígenas da coleção Lukesch doadas pelo Universalmuseum Joanneum, de Graz, da Áustria.

Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional. Foto: Divulgação
"Queremos fazer quatro circuitos, e precisamos de pelo menos 10 mil ítens para preenchê-los: o primeiro é o Circuito Histórico, que conta a história do palácio, desde o período colonial, passando pelo Império, até a República, com móveis, quadros e objetos históricos. O segundo seria o Circuito Universo e Vida, que conta a origem do universo, do nosso planeta, a diversificação das vidas fósseis e dos minerais. O terceiro seria o Circuito Diversidade Cultural, onde contaremos a história dos nossos povos originários, fazendo paralelos com povos de outros países, exibindo a beleza dessa diversidade, com múmias das Américas. E um último seria o Circuito Ambientes Brasileiros, que seria uma viagem por todos os biomas do Brasil, por todas as extremidades do país, suas ilhas, com exemplos de material biológico diverso, fazer ambientes acoplados, mostrando como esses ambientes mudaram ao longo dos anos", explica o diretor.
Ele tem alguns itens na cabeça que seriam verdadeiras relíquias para a nova coleção: "Para o Circuito Histórico, meu sonho seria ter um quadro da Imperatriz Leopoldina, que foi uma grande incentivadora da fundação do Museu junto a D. João VI. No Circuito Universo e Vida, queremos muito ossadas de dinossauros, esqueletos de variadas espécies. No Circuito dos Ambientes Brasileiros, ele queria troncos gigantes de árvores milenares, mostrando a sua história desde a geminação até a queda, para que os visitantes tivessem a real experiência da grandeza do Brasil. E uma coleção de entomologia fantástica, com inúmeros besouros e borboletas. Quem sabe uma lula gigante, ou ter um novo caranguejo gigantes, que a coleção perdida tinha, de quase três metros…", imagina Kellner, cujo gabinete repleto de documentos em mais de 20 anos como diretor do Museu Nacional também foi totalmente perdido no incêndio.

Coleção de molluscas cedida por um doador ao Museu Nacional. Foto: Divulgação
Para isso, no entanto, é preciso que o Museu Nacional convença museus internacionais de que as doações estarão bem cuidadas. "Nós temos que merecer essas novas doações, provando ao mundo que essa tragédia não vai acontecer de novo. Para isso, temos que mostrar o palacete reconstruído da forma mais segura possível. É isso que torna todo o projeto de reconstrução tão complexo", antecipa ele.
A previsão é que tão logo consigam todo o dinheiro que precisem para dar início às obras pesadas – dos 380 milhões necessários, já foram arrecadados cerca de 65% na campanha Museu Nacional Vive – a primeira parte, chamada de Jardim das Princesas, seja reinaugurada ainda este ano. Em 2022, as entregas do Jardim Central e de parte do novo campus de pesquisa, que será um parque construídos em um novo terreno de cerca de 44 mil metros quadrados, contíguo à Quinta da Boa Vista. E a entrega completa está prevista para 2026.
"A INOPERÂNCIA DO PODER PÚBLICO NÃO CONHECE LIMITES"
Durante o incêndio, uma das notícias mais chocantes além da tragédia em si foi a de que não havia água nos hidrantes no entorno da instituição, que fica em meio a um parque público centenário na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista.
A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), empresa responsável pelo abastecimento, que à época ainda era estatal, chegou a ser multada em fevereiro de 2020 por R$ 5,6 milhões pela falha na prestação do serviço no momento em que o Museu Nacional mais precisou. A multa era a maior que poderia ser aplicada pela Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa), pela gravidade dos efeitos provocados pela inoperância. Surpreendentemente, os hidrantes estão sem água até hoje.
"Nós aprendemos muito com essa tragédia. A inoperância de alguns setores do poder público não tem limites. Ficou muito feio para o Brasil. Estou tentando escrever um livro que deverá ser publicado ano que vem sobre todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado nos bastidores, coisas boas e ruins, mas vai faltar carapuça pras cabeças. Para que se tenha ideia, o prédio principal da Cinemateca Brasileira está em condições iguais ao Museu Nacional quando pegou fogo, acabou de ter um incêndio no prédio anexo, e o que está sendo feito no prédio principal? A UFMG também teve uma reserva técnica que pegou fogo, os incêndios existem e vão continuar a acontecer, e o que tem sido feito com essa grande lição que foi o incêndio do Museu Nacional? Temos que cuidar dos acervos que estão em risco também", pergunta-se o diretor.
Procurada, a CEDAE não respondeu às tentativas de contato.
MARIANA FILGUEIRAS é jornalista cultural no Rio de Janeiro e frequenta o Museu Nacional desde criança.