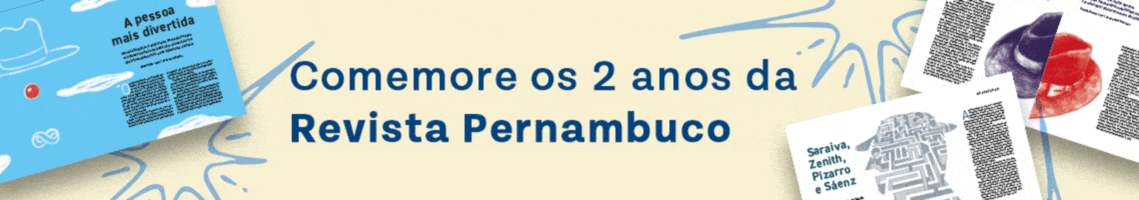Uma sereia em meu asfalto
O relato de uma jornalista negra, moradora da periferia do Recife, sobre a edição 2017 do Coquetel Molotov, este que já pode ser nominado como o principal festival de música da cidade
TEXTO Lenne Ferreira
23 de Outubro de 2017

Linn da Quebrada bradou e celebrou pelas 'trans' e travestis vivas em seu show potente no Molotov
Foto Tiago Calazans/Divulgação
O táxi subiu a ladeira do Cemitério do Barro por volta das 4h30. Eu tava mais acostumada a fazer esse trajeto a pé, quando voltava de bacurau para casa de mainha, que sempre morria de medo da filha não voltar. É o medo que mora no coração de qualquer mãe, principalmente se ela tiver a pele preta e for moradora de áreas socialmente vulneráveis. Dessa vez, eu já estava formada, do jeito que ela sempre quis, com motorista do lado e ar-condicionado, mas ela estava igualmente preocupada. Tinha ligado duas vezes para confirmar a hora da minha chegada. Sempre me esperou colada na porta pra não perder tempo de abrir. “Mataram um rapaz lá em cima ontem. A gente não pode vacilar”, me disse, enquanto se apressava para trancar o cadeado. Não dei muita atenção. Minha cabeça estava fixada na imagem da travesti negra “debruçada” na janela de um carro prata, estacionado exatamente na frente do portão do cemitério por onde acabara de passar. Com um dos pés envolto no outro, ela tinha as pernas torneadas juntinhas. Usava a mão direita para esquentar o braço esquerdo. Faz muito frio de madrugada na frente do cemitério. Na adolescência, a gente dizia que era a frieza dos corpos enterrados que deixava o vento mais gelado. Conheço bem esse frio, mas não tão bem quanto aquela mulher ali parada.
Vestida com uma blusa tomara que caia, saia vermelha curtinha, ela tinha o cabelo crespo alisado. Parecia negociar com o homem a bordo do veículo. “Tem gosto pra tudo nessa vida”, balbuciou o taxista. A frase me fez aterrissar. Porque eu acabara de sair de um lugar onde uma mulher maravilhosa fez uma festa em homenagem a todas as trans vivas, até dava para acreditar num mundo em que as escolhas individuais eram respeitadas e a gente pudesse ser o que quisesse. Era tanto amor ali. Mas aí, inacreditavelmente (nem tanto assim), a “sereia do asfalto”, exaltada por Linn da Quebrada, que fez, no último sábado (21/10), um dos mais potentes shows do festival No Ar Coquetel Molotov 2017, se materializou. Elas são muitas, eu sei. As que não foram mortas estão por aí. Nem sempre dão os melhores closes, nem usam as roupas e maquiagens mais “fechativas”, nem tombam nem nada. São garotas de vestes simples também, em busca de um trocado e algum prazer. A rua vira “amparo, desgraça, perdição e salvação”, me disse uma. A sereia estava ali bem perto do perigo. É como vivem. Vulneráveis à violência. Meses atrás, também no Barro, uma profissional do sexo foi sequestrada por dois homens, roubada e estuprada. Deixada na BR. Nua. Sozinha. Terminou dizendo que agradecia o fato de ter ficado viva.
Em seu show no Velvet, a rapper Linn também agradeceu por estar viva e pediu aplausos para todas as mulheres trans presentes: “Estamos vivas e vamos continuar vivas”. Pelas quebradas por onde andou, Linn conheceu a cor do “sangue que corre pelas marginais”. É preto. Em Bomba pra caralho, música-manifesto do álbum visual Pajubá que abriu o show, ela denuncia o genocídio contra o povo negro. O disco foi produzido por BadSist, produtora preta, que não desgrudou do palco. Aliás, que equipe afinada. O palco de Linn não é só dela. É de quem anda com ela e a cantora tá muito bem acompanhada. As participações performáticas de Jup do Bairro, Slim Soledad e Valentino tornam o show muito maior. Mas Linn tem luz própria. Canta, dança, recita, experimenta seu corpo. É uma performer; das mais vigorosas. Dá pra sentir a sua sede por arte, expressão e luta. Não se dá fruto bom sem se plantar as melhores sementes. Linn tá colhendo o que plantou com toda a sua verdade. Que mulher!
As provocações feitas pela rapper paulista também se trasvestem de um humor irônico e sagaz. Se tem uma coisa que Linn sabe produzir bem são as frases de efeito, tiradas bem originais, especificidades do universo que a circunda. Muitas passaram sem produzir significado algum na repórter que vos escreve. No público LGBT, causava um verdadeiro levante. Músicas como Transudo, Necomancia e Dedo nucué, repletas de termos e gírias sexuais, provocaram reações insanas na plateia. E como foi lindo ver a cultura falocêntrica contestada e pisoteada pelas batidas de funk como em Talento: “Se achou o gostosão./ Pensou que ia eu engolir./ Ser bicha não é só dar o cu./ É também poder resistir”. Ô bicha talentosamente necessária.
DIVERSIDADE
A programação do Coquetel foi “generosa” com o público LGBT. Além da Linn da Quebrada, a noite contou com outros nomes engajados em discutir raça a partir da intersecção entre sexualidade e identidade de gênero. Entre eles, o Afrobapho, que faz do “lacre” uma ferramenta de militância. O coletivo baiano alcançou visibilidade graças às redes sociais, com vídeos criativos e irreverentes, além de projetos como o ensaio fotográfico Vidas negras importam, realizado ano passado, que teve as imagens realizadas em frente a um quartel de Salvador, para questionar o genocídio da população negra. Na página do grupo, são mais de 25 mil seguidores. Uma fatia recifense desse público prestigiou com muita empolgação a apresentação performática e esteticamente empoderada do quarteto, que também usou o espaço para gritar contra a LGBTfobia. Corpos negros assumindo negritude, dando tonacidade às suas identidades. Mais tarde, o coletivo retornaria para uma participação especial no show dos conterrâneos do grupo Àttooxxá.
Circulando entre um e outro palco, esbarrando numa preta aqui e outra ali (sensação boa é essa de não ser única), na “brodagem” branca também, as “sapatão”, as bichas e travestis, pude notar certa familiaridade nos rostos. Ah, essa bolha chamada Recife. Ainda bem que choveu um bocado, o que nos obrigou a estiar, o que dispersa e mistura todo mundo. Estiar é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de conhecer gente. Foi estiando da chuva que conheci Gabriel Sá, de Belém de São Francisco, que fica a 170 km do Recife. Ele mora aqui há seis meses, mas morre de saudade da terra natal, onde, segundo contou, quem manda são as famílias latifundiárias. Estava acompanhado por um grupo de caruaruenses, que alugaram uma van para chegar até o Caxangá Golf Clube. De Belém de São Francisco, só tinha Gabriel mesmo. “O pessoal de lá nem conhece os grandes festivais daqui.” E mesmo que conhecesse: “A passagem é R$ 100. Daria R$ 200 ida e volta. Fora o valor do ingresso”, contou Gabriel, que, após retornar de um intercâmbio como bolsista na Austrália, resolveu mudar para a capital. Queria um lugar onde pudesse se reconhecer mais. A tal da representatividade. Essa que importa muito. Na noite de sábado, durante o Molotov, que teve a locução dos palcos principais conduzida por uma mulher trans, a Maria de Clara Araújo, Gabriel parecia estar entre os seus e as suas. Deu para notar pelo jeito que ele quebrava a “raba” durante o show da Linn. Que a sensação de liberdade que ele parecia experimentar também possa ser vivida pelas moças e pelos rapazes de Belém de São Francisco sem que eles nem precisem sair de lá.
A CIRANDA NÃO É DE LIA
De todas as atrações da noite de sábado do festival, a única que a segurança Ana conhecia era Lia de Itamaracá. Bem distante dos estereótipos físicos característicos de sua função, Ana era gordinha e estava com o cabelo trançado. Preta, moradora de Olinda, ganha a vida com diárias em eventos. Ela nem é frequentadora de rodas de ciranda. Ana curte mesmo é um pagode. Mas Lia é Lia. “Não tem como não conhecer.” Seu nome deveria integrar algum trecho do Hino de Pernambuco. “Salve! Ó terra dos altos coqueiros. Salve! Ó Lia”. Patrimônio Vivo, aos 73 anos, esta senhora de 1,80 m de altura merece o melhor tratamento. E não basta só ser chamada de “maravilhosa”, não. Ela quer um camarim para sentar e repousar antes de “divar”. Escalada pelo projeto Som na Rural, presente no evento, a cirandeira chegou vestida nas cores de Iemanjá, acompanhada pelas filhas de Baracho, Severina e Maria Dulce. Foi a primeira vez em que as três integraram a programação do Coquetel Molotov, que está em sua 14º edição.
Lia chegou ao Golf Clube ainda pela manhã, às 10h30, para a passagem de som, que não aconteceu porque o som nem havia sido montado ainda, segundo contou o produtor, Beto Hees. Como também era convidada especial do rapper Rincon Sapiência, que regravou Moça namoradeira, teria uma segunda passagem, às 14h30. Lia esperou até o início da tarde. Após concluir o ensaio, como não tinha hospedagem, preferiu voltar para Itamaracá a ter de esperar para a hora da sua primeira apresentação, marcada para as 23h. Foram duas viagens de ida e volta a Itamaracá. Uma senhora de 73 anos enfrentar 192 km no mesmo dia. Algumas horas em um hotel recifense não devem custar tanto assim. Lia está acostumada a ouvir que é forte, como se costuma intitular as mulheres negras. Elas não aguentam o tranco? Não suportam mais dor antes do parto, como sugerem alguns médicos? Lia, que carrega a ciranda no lombo, não aguenta mais. É esse o tratamento que vamos continuar dando a uma majestade da cultura popular? Pouco importa que o evento tenha até 100% da programação preta se, nos bastidores, a gente ainda continuar reproduzindo velhos tratamentos. Não é novidade para ninguém a maneira como os artistas das manifestações populares são tratados em nosso estado. Os cachês são os mais baixos, não se disponibiliza hospedagem, o palco é sempre o menor. Foram seis interrupções de som durante a apresentação de Lia (um único gerador dava conta do Som da Rural e do Palco Aeso). Não tinha sequer um banco disponível para ela ou as Baracho sentarem. Ainda bem que tinha a Rural, onde Lia subiu, assumiu o volante e posou para os flashes com aquele sorriso de espuma do mar.
Lia só pôde contar com uma estrutura à altura de sua relevância cultural antes da apresentação de Rincon, o que não incluiu seus músicos, que não tiveram acesso ao camarim do Velvet, onde o rapper paulistano se apresentou. Ele fez questão da presença da cirandeira, com quem esteve pela primeira vez e dividiu o seu camarim. Rincon, aliás, esteve muito receptivo ao público. Conversou com artistas da cena rap local, representados pelos MC's da Batalha da Escadaria, que integrou a programação do festival pela primeira vez, embora já tenha oito anos de trajetória, sendo considerada a única que acontece sem interrupção no Brasil. Aliás, no ponto de valorização dos artistas locais, o Coquetel até se esforçou. Houve várias apresentações descentralizadas, como a organizada em Belo Jardim, mas a programação do principal dia do festival foi majoritariamente de artistas de fora do estado. Só de São Paulo foram 10. O segundo lugar ficou com a nossa vizinha, a Bahia, que emplacou três grupos na grade. Apenas dois pernambucanos figuraram entre as atrações dos palcos principais: a cantora Alessandra Leão e a banda Kalouv. Nomes da cena emergente local foram reunidos no Palco Aeso, de porte muito menor, e que contou com shows como o da MC Lady Laay e Mari Periférica.
Parece muito claro que o festival se preocupou em promover o empoderamento de grupos recorrentemente marginalizados, esforçando-se para representá-los não apenas em cima do palco, mas fora dele também. Não é um movimento recente. A escalação dos Racionais MC's na edição de 2011, quando ainda era realizado dentro do Teatro da UFPE, já indicava a tentativa de dialogar com produtos populares, mesmo naquela pegada indie. Hoje, numa época em que cada vez mais artistas se engajam no ativismo social, impulsionado pelas redes sociais, é esperado que os festivais de música se esforcem para estar antenados com as “tendências” e ainda lucrem com elas. O engajamento também foi uma característica do No Ar, que fez parcerias com entidades como a Ameciclo, formada por cicloativistas. Também foi bem possível notar o empenho do evento em colocar pessoas negras em posições de liderança e atuando em várias áreas do festival. Dona Carmem, que teve um espaço reservado para suas comidas de terreiro, pontuou: “As pessoas negras não estão apenas servindo. Elas também estão em funções de protagonismo”. A ambientação do festival, por exemplo, foi assinada por Carlos Oliveira, decorador negro maranhense radicado no Recife.
Na mesma área onde a ialorixá mais badalada da agenda cultural recifense estava instalada, um senegalês de uns dois metros organizava tecidos de estampas coloridas. Mangassouba, estilista de moda africana, que mora no Recife há sete meses e atua na Feirinha de Boa Viagem, recebeu o convite de Dona Carmem para participar do festival. Com o fone de ouvido envolto no pescoço, Mangassouba vendeu poucos tecidos, mas curtiu alguns shows. O encontrei por volta das 2h, com duas bolsas pretas que guardavam o resto da mercadoria e, apesar de a gente não ter conseguido estabelecer uma comunicação muito produtiva, parecia feliz da vida. No breve papo que conseguimos manter, deu para entender que foi a primeira vez dele em um evento local como aquele. Imagina o que é para um africano, distante da cidade natal, um ambulante nômade, poder experimentar um pouco da sensação de pertencimento? Ainda mais num país onde seu povo, o nosso povo, foi também escravizado. Não sei se ele entendeu, mas eu disse: “Bem-vindo e fique o tempo que precisar”. Ele sorriu com o sorriso de espuma de mar. Que nem Lia. Se tem uma coisa que o povo preto sabe, independente da origem, é sorrir.
A presença negra não foi observada apenas na produção do evento. O público também estava mais colorido para a universitária e grafiteira Nathália. Militante de movimentos da causa racial, batuqueira e MC, ela já vai há, pelo menos, três edições ao Molotov. A estudante, moradora de Jaboatão, disse que este ano, o seu black esbarrou em muito mais blacks. Um amigo negro, produtor periférico, que prefere não ser citado, mencionou que achava “massa” ver tantos negros na programação, ocupando espaços de privilégio como o Golf Clube, que a maioria ali só conhecia de nome. No entanto, se questionava se estamos realmente estabelecendo as conexões necessárias com as comunidades que não têm acesso ao mesmo tipo de informação que aquelas oito mil pessoas ali presentes, segundo estimativa da assessoria de impressa. Porque, sim, a maioria ali sobre o piso daquela grama verdinha goza de privilégios que vão desde ter ouvido qualquer uma daquelas atrações até poder pagar o ingresso. E OK. Se estamos num degrau acima na cadeia, usemos isso para puxar mais gente para esse bonde. OK, se muitos de nós podemos comprar um ingresso de R$ 90. Mas será que produzir ou assistir a um show de Lia por ano, dentro de uma lógica da indústria de massa, que “gourmetiza”, “espetaculariza” as manifestações populares e periféricas, é valorizar a ciranda, por exemplo? A ciranda é só de Lia? Ela diz que não. “Ela é de todos nós.” Mas estamos cuidando dela? Estamos contribuindo para a sua sustentabilidade e manutenção?
Lia subiu ao palco pouco depois de 1h para cantar Moça namoradeira com Rincon, que apresentou seu álbum de estreia, o Galanga livre. Manicongo, como também é conhecido, tocou acompanhado por baixo, mesa eletrônica, percussão e DJ. Músicas como A coisa tá preta, Crime bárbaro e A noite é nossa foram acompanhadas pelo público. Em Ponta de lança, sucesso que alavancou a carreira artística do paulista, ele desceu do palco e errou a letra. “Foi a emoção de tocar com Lia. Perdoa, gente”, nos deu essa confissão. 
Rincon e Lia de Itamaracá no Molotov 2017. Foto: Tiago Calazans/Divulgação
Lia é mesmo de emocionar. Que os gritos e aplausos que a cirandeira escutou durante sua apresentação se revertam em apoio para a conclusão da reforma do Centro Cultural Estrela de Lia, em Jaguaribe, Itamaracá, que, em 2014, desmoronou por causa de fortes chuvas e falta de manutenção. Ano passado, a cirandeira iniciou uma campanha para conseguir adiantar a obra. Mais ainda falta muito: “Piso, camarins, palco, cozinha, banheiros”, enumerou ela. “Esse espaço não é para mim, não. É para servir à comunidade. Para as mulheres não terem que sair arrastando uma tuia de menino pra longe. Aqui, as crianças vão poder aprender cultura”, me explicou Lia, que ainda não recebeu o cachê da apresentação na última Fenearte, realizada em julho. Apesar dos atropelos da produção, ela saiu do festival feliz da vida e grata pelo convite.
O MURO QUE NOS SEPARA
A assessora de imprensa não me reconheceu. Eu havia falado com ela algumas vezes pelo Whatsapp. Mas tudo bem, é tanta gente para falar e dar conta em um festival com o porte do Molotov. Marquei de encontrar na entrada do camarim, mandei mensagem avisando. Quando ela apareceu, meio esbaforida, ficamos de frente uma para outra. Olhei para indicar que era eu a pessoa que ela procurava. Mas não adiantou. Pensei: “Ela não tava esperando uma jornalista com uma calça jeans talhada e pochete da Cyclone”. Sempre tive problema para escolher o que vestir antes de ir trabalhar em coberturas de shows. Só uma jornalista preta sabe o esforço que a gente faz pra ser levada a sério. Já rolou passada de mão na bunda, convite para motel e as piadas mais escrotas. Demorei para entender que o problema não tinha relação com beleza ou com comportamentos inadequados. O problema era o racismo dos outros.
Comprei minha pochete na feira de Cavaleiro. Passei boa parte da manhã do sábado por lá, sintonizada na voz rouca de Troinha. Comecei a pensar sobre fato de um MC como ele não ser escalado para tocar em festivais do porte do Molotov. Pior do que não tocar é ter a música tocada pelos outros: “Balança, balança, balança, balança”. E todo mundo balançar. Mas porque a música de Troinha entra e ele não? Já que estamos discutindo tanto apropriação cultural vale a pena pensar no brega como expressão social também, que representa a identidade de um território e um povo. Transformado em patrimônio cultural recentemente, o brega e o funk também foram muito bem explorado pelos DJs da noite. Mas foi a Nêga do Babado quem protagonizou o único momento em que, de fato, o brega falou por si só. A cantora pernambucana fez uma participação especial no show da rapper Linn, que chamou Mikshake de “o hino nacional de Pernambuco”. Ponto para a produção do Coquetel, que proporcionou o melhor momento “brega das antigas” do ano. 
Linn e Nêga do Babado no Molotov 2017. Foto: Tiago Calazans/Divulgação
Se por um lado o brega pernambucano, esse exemplo de auto-organização e sustentabilidade, não subiu ao palco em toda sua expressividade, quem ganhou muita moral foi o pagode baiano, que tem recebido declarações de amor explícitas de Caetano Veloso. Um dos mais badalados é o grupo Àttooxxá, que fechou a programação do Velvet. O grave pesado e as letras esbanjando sensualidade injetaram ânimo no público às 3h da madrugada. A performance lembra muito o estilo Baiana System de ser. Apesar do discurso pró-feminismo, fiquei um pouco incomodada com a forma como os meninos da Afrobapho foram recebidos. Convidados para fazer uma participação especial no show da Àttooxxá, o coletivo mostrou toda habilidade em mover as nádegas, mas não foi convidado a falar. O trio dançava, enquanto os homens ali os dirigiam com frases que beiravam à objetificação. Uma coisa é a Linn fazer piada, tirar onda com as bichas. Outra, bem diferente, é ouvir certas coisas da boca de quem, afinal de contas, desempenha o papel do opressor. Mas o show fez muita gente transpirar com o balanço “suingado”. Até Nina Simone entrou no meio com Feeling good, “sampleada” na abertura de uma das músicas do grupo. As diversas texturas sonoras, encorpadas por uma guitarra envenenada, produziram um efeito alucinante. Mais uma vez o brega pernambucano surgiu na fala de uma boca “estrangeira”. Só dá tu, da banda A Favorita, ganhou uma versão abaianada antes do encerramento do show da Àttooxxá.
Na saída do festival, Rincon, que fez uma participação no show dos baianos, conversava com fãs. Ele tava contente pelo show. Se despediu dizendo que quer voltar. Depois de uma selfie impublicável, segui. Em frente à portaria, um rasta contava vantagem: “Eu não paguei, mas vi o show”. Falava sobre como foi fácil pular o muro do clube e como ainda tinha ajudado outras pessoas a pularem. Gente preta como ele e branca também. Cobrou pelo suporte, obviamente. “Ganhei pelo menos uns 100 conto nessa ondinha”, disse ele, descobriu um local de acesso ao show.
Atravessei a Avenida Caxangá pensando nos muros que nós, pessoas negras, ainda temos que pular para acreditar que as coisas estão mudando, para derrubar o muro que a gente finge não ver. Pensava, mas mainha tava ligando; o taxista, esperando. O mesmo taxista que depois faria uma piada transfóbica com a travesti com frio que a gente ainda ia cruzar no portão do cemitério a caminho da casa de mainha, a mesma que luta contra uma síndrome do pânico, no mesmo bairro onde uma trans é sequestrada e estuprada e um menino é assassinado por dívida de droga. E onde eu que, mesmo com um diploma e desfrutando de privilégios conquistados, jamais recebidos, ainda preciso sentir medo de chegar. Pulei o muro de volta para o meu lugar, que é onde eu realmente quero estar.
LENNE FERREIRA, filha de Luciana, preta e favelada. Afoita como a mãe. Jornalista, feminista e produtora cultural.