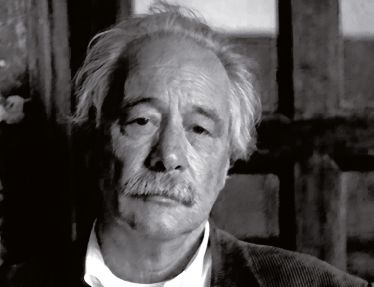
Jogando contra o preconceito
Nos 75 anos do lançamento de 'O negro no futebol brasileiro', de Mario Filho, e no ano da 22ª Copa do Mundo, uma revisão de casos de discriminação racial e de gênero no esporte mais popular do país
TEXTO DÉBORA NASCIMENTO E LUCIANA VERAS
ILUSTRAÇÕES JANIO SANTOS, MATHEUS MELO E RAFAEL OLINTO
01 de Novembro de 2022

Ilustração Janio Santos, Matheus Melo e Rafael Olinto
[PARTE 1 | ed. 263 | novembro de 2022]
Assine a Continente
“E o Maracanã como que se desintegrou. A multidão pipocava, enlouquecida. Desconhecidos se abraçavam e beijavam. Namorados, noivos, casados, mesmo à beira de um desquite, amavam às escâncaras. Inimigos se estendiam as mãos, uns para os outros. Aquela era a hora do amor. Não podia haver um brasileiro de mal com outro. O Brasil era campeão do mundo. Além da vantagem do empate, o Brasil tinha a vantagem de um gol. Era só aguentar o um a zero, desistir da goleada, agarrar o título com unhas e dentes. Mas a multidão, desvairada, exigiu outras Touradas de Madri. Mais um, mais um”, descreve o jornalista Mario Filho a reação da torcida ao primeiro gol da Seleção Brasileira contra a do Uruguai, na final da Copa do Mundo de 1950.
No entanto, em vez de “mais um” do Brasil, vieram os gols dos jogadores uruguaios Schiaffino e Ghiggia. “E quando Mr Reader deu o apito final, o Maracanã transformou-se no maior velório da face da Terra. Todo mundo queria ir embora, desaparecer. Muitos não tinham mais forças para um passo, para um gesto. Ouviam-se gritos de viúvas sicilianas. Poucos eram os que não choravam. Os que não choravam deixavam-se ficar numa cadeira numerada, num degrau de arquibancada, num canto da geral, a cabeça sobre o peito, largados”, continua Mario.
O gol feito por Ghiggia, aos 34 minutos do segundo tempo, “transcendeu sua condição de fato esportivo (…) para converter-se em momento histórico da vida de uma nação”, observou o crítico Paulo Perdigão, autor do livro Anatomia de uma derrota – 16 de julho de 1950 – Brasil x Uruguai (L&PM, 2000). No dia seguinte à final, o romancista José Lins do Rego retratou, no Jornal dos Sports: “Vi um povo de cabeça baixa, de lágrimas nos olhos, sem fala, abandonar o Maracanã, como se voltasse do enterro de um pai muito amado. (…) éramos mesmo um povo sem sorte, um povo sem as grandes alegrias da vitória, sempre perseguido pelo azar, pela mesquinharia do destino”.
Hoje, para um país que já assistiu atônito ao vexame do 7x1, no Mineirão lotado, na semifinal da fatídica Copa de 2014, a descrição da reação do chamado Maracanazo de 1950, diante de míseros 2 a 1, pode parecer exagero. Mas havia motivos para tanta decepção. Até então, o Brasil possuía raríssimas medalhas olímpicas em outras modalidades e tinha conquistado três Sul-Americanos (hoje Copa América), mas ainda não vencera uma Copa do Mundo. Sediar o grande evento do futebol no Rio de Janeiro, ideia do próprio Mario Filho, que era a primeira edição do campeonato após o final da Segunda Guerra, seria uma forma de mostrar ao mundo que o Brasil existia e importava. Parecia haver finalmente chegado a hora daquela gente bronzeada mostrar seu valor.
A partida anterior da Seleção na Copa de 1950 contra a Espanha (6 x 1) alimentou o orgulho e a autoestima de um país subdesenvolvido, ainda repleto de analfabetos e famintos, com índices recordes de mortalidade infantil e sem influência internacional. No entanto, a derrota frente ao Uruguai, no recém-inaugurado maior estádio brasileiro, diante de 200 mil pessoas e do mundo, através das ondas do rádio, expôs o que o irmão mais novo de Mario, Nelson Rodrigues, denominava de “complexo de vira-latas”.
E, por fim, conclui Mario sobre a reação dos torcedores logo após o fracasso de 1950: “Ou então esbravejavam, batendo no peito, apontando para o campo. Uns acusavam (o técnico) Flávio Costa. Mas quase todos se viravam era contra os pretos do escrete:
– O culpado foi Bigode!
– O culpado foi Barbosa!”
A descrição de Mario Filho, ao indicar a predileção da busca por culpados na cor da pele, é um dos trechos da segunda edição (de 1964) do livro O negro no futebol brasileiro, obra que é uma espécie de Casa-grande & senzala do desporto. Como demonstram as palavras do próprio Gilberto Freyre, no prefácio do lançamento da primeira edição, em 1947, há algo nesse esporte que vai muito além de um simples jogo de bola no pé: “(...) por trás da instituição considerável que o futebol tornou-se em nosso país se condensam e se acumulam, há anos, velhas energias psíquicas e impulsos irracionais do homem brasileiro em busca da sublimação”.
“Quando se fala em 50, ninguém pensa num colapso geral, numa pane coletiva”, escreveu Nelson Rodrigues, na Manchete Esportiva, de 1959. “Não. O sujeito pensa em Barbosa, o sujeito descarrega em Barbosa a responsabilidade maciça, compacta, da derrota. O gol de Ghiggia ficou gravado, na memória nacional, como um frango eterno. O brasileiro já se esqueceu da febre amarela, da vacina obrigatória, da Espanhola, do assassinato de Pinheiro Machado. Mas o que ele não esquece, nem a tiro, é o chamado frango de Barbosa.”
Moacyr Barbosa Nascimento tinha, em seu currículo, vários campeonatos e feitos, como a Copa América de 1949, destacava-se pelo bom posicionamento, elasticidade, defesas de mão trocada. Mas bastou apenas um erro para que sua imagem ficasse manchada e marcada pelo resto da vida. Após 1950, teve que sair da Seleção. Ainda defendeu a trave do Vasco da Gama, ganhando vários títulos, mas concluiu sua trajetória cuidando das piscinas do Parque Aquático do complexo do mesmo Maracanã de sua desventura. Já idoso, circulava por lá anonimamente, até falecer em 2000.
O seu infortúnio não morreu em si. Criou o estigma de que a função de goleiro não pode ser entregue a um negro, alimentou o preconceito de que os negros não merecem confiança em posições estratégicas, seja no futebol ou em outras áreas profissionais, e reacendeu o racismo contra futebolistas negros, de um modo geral. Somente cinco décadas depois de Barbosa, em 2006, outro goleiro negro veio a defender como titular a Seleção Brasileira numa Copa do Mundo, Dida. E, dentre os 62 vencedores do Campeonato Brasileiro, apenas 13 goleiros negros foram titulares.
Hoje, com a distância dos 75 anos do lançamento do seu livro, Mario Filho, morto por um infarto em 1966 (ano de outra infeliz participação da Seleção numa Copa), talvez ficasse surpreso ao saber que o tratamento dado pela sociedade a negros dentro (e fora) do campo não está tão diferente daquele praticado sete décadas atrás. Segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em 2021, foram 124 casos de preconceito envolvendo o futebol; 74 dizem respeito à discriminação racial (soma total de casos ocorridos no Brasil, 64, e no exterior, 10); 25 envolvem LGBTfobia (no Brasil, 24, e no exterior, 1); 15, machismo; 10, xenofobia (no Brasil, 6, e no exterior, 4).
Neste ano, coincidentemente também de Copa, são muitos os casos de injúria racial nos campos de futebol. Um deles envolveu a Seleção Brasileira no amistoso com a Tunísia, no dia 27 de setembro, em Paris. Um torcedor jogou uma banana em direção à área dos brasileiros após Richarlison marcar um gol. Antes de a equipe entrar em campo, havia sido exibida uma faixa com a frase mais do que verdadeira: “Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas na nossa camisa”.
A faixa era uma forma de apoiar Vini Jr. No dia 15 do mesmo mês, o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Bravo, falou em um programa de rádio que o jogador precisava “deixar de fazer macaquice” (hacer el mono, em espanhol), em referência a suas danças após os gols. O atacante do Real Madrid, que é o mais valioso do campeonato espanhol, o terceiro jogador mais caro do mundo e único brasileiro nesta lista dos 10 mais, respondeu: “Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa incomoda muito mais. Mas repito para você, racista: Eu não vou parar de bailar”.
Em outro ano de Copa, 2014, dois casos de injúria racial foram emblemáticos no Brasil. Após a ressaca moral do 7 a 1, o país voltava seus olhos para o Campeonato Brasileiro. Em um jogo da série A entre Santos e Grêmio, em Porto Alegre, o goleiro mineiro Mário Aranha estava em sua posição de defender a grande área santista quando passou a ouvir insultos racistas. “A torcida xingar, pegar no pé, normal; mas começaram com palavras racistas, ‘preto fedido’, ‘bando de preto’, ‘cambada de preto’. Até aí fiquei nervoso, mas estava me segurando. Aí, quando começou aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, pra não dar tempo de filmar, virei pra eles e bati no braço: ‘Sou preto, sim! Sou negão, sim!’. Se isso é insultar eles, não sei. Todo mundo que vem jogar aqui (na Arena do Grêmio, em Porto Alegre) sabe que são poucos, mas sempre tem racista aqui no meio. Eu fico nervoso mesmo. Felizmente não aconteceu nada de mais grave. Mas dói, dói. Dói”, desabafou, em entrevista à imprensa, após o jogo.

Imagens: Folhapress; Divulgação
Aranha assinou a denúncia do Ministério Público, que resultou em pontos perdidos para o Grêmio, torcedores foram impedidos de frequentar o estádio por um ano e uma torcedora flagrada pelas câmeras chamando o goleiro de “macaco” foi afastada do emprego. “A punição hoje é maior fora da Justiça, com os cancelamentos”, observa Aranha, em entrevista à Continente. Por ser um dos raros esportistas que tiraram a Constituição do papel no que se refere à injúria racial em campo de futebol, o goleiro recebeu o prêmio de Direitos Humanos entregue pelo governo de Dilma Rousseff, em 2014. E ele, que já militava sobre essa temática, passou a ser considerado uma das principais vozes no combate ao racismo no futebol, realizando palestras e concedendo entrevistas. Em 2021, lançou o livro Brasil Tumbeiro (Mostarda Editora), sobre os heróis negros da história do país.
Aranha conta que começou a ser alvo de discriminação racial no futebol no começo de sua trajetória, ainda adolescente. “Desde novo, já ouvia que goleiro negro não era confiável. E aí fui saber o porquê: por causa do Barbosa e toda aquela história. Então, praticamente durante a minha carreira inteira, eu convivi com esse tipo de comentário, que ‘goleiro negro não é confiável’, que ‘negro não é para jogar no gol’”, lembra. Fora isso, já perdeu contratos por conta da cor de sua pele – informação que chegou a ele em sigilo. “O racismo dentro do futebol é muito bem camuflado. Quando você é atleta, não sabe muito o que se passa nos bastidores, diretoria, comissão técnica”, destaca o hoje ex-goleiro e preparador de equipes. O que fica evidente geralmente são as situações em jogo. Mas que são apenas a ponta do iceberg.
Além de Aranha, outro nome relevante no combate ao racismo no futebol brasileiro é o do ex-juiz gaúcho Márcio Chagas. “Nada me livrou (do racismo). Fiz curso de arbitragem em 1999. Em 2004, fiz a estreia no campeonato gaúcho da primeira divisão. Em 2005, entrei no quadro da CBF. Apitei durante 10 anos, fui eleito melhor árbitro do campeonato gaúcho em cinco oportunidades; fui árbitro aspirante à Fifa e, mesmo assim, nada me livrou de situações de racismo.”
A primeira delas, relata em entrevista à Continente, foi no Encontro de Futebol Infantil Pan Americano, em 2001, em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. “Fui apitar a semifinal, Boca Juniors, da Argentina, contra o Defensor, do Uruguai. Quando entro no campo, a equipe argentina sai. Pensei que fossem fazer uma reza, mas demoraram uns 15 minutos. No final do jogo, fui perguntar para o coordenador da arbitragem o que tinha acontecido. Ele ficou sem jeito, mas contou: ‘Eles não queriam jogar porque disseram que não confiavam em um negro apitando um jogo decisivo. E eles queriam que eu te tirasse do campo. E eu não quis te tirar. E ainda bem que tu foi bem. Isso demonstrou que você está pronto para apitar grandes jogos. Eu não quis atrapalhar o teu rendimento na partida, com essa informação. Mas já te digo mais, isso vai ser bem recorrente na tua carreira’.”
Infelizmente, o colega de Márcio Chagas estava certo. “Em 2004, quando fui indicado a árbitro revelação na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, um membro da comissão de arbitragem, com quem eu tinha a melhor relação, me chamou para ir à casa dele. Fui à casa dele. Sentei, ele me deu um papel e uma caneta, pra gente fazer um plano de carreira. E eu inocente, comecei a anotar. Não deu cinco minutos, ele pediu licença, pegou o papel, começou a ler o que eu tinha escrito e falou: ‘Bá, a letra é tua mesmo! Nós estávamos em dúvida se alguém te ajudava a redigir a súmula, porque era um português muito bom e uma letra bonita’. Eu disse, ‘Eu sou formado, pós-graduado, concursado, trabalho em três empregos e tu tem dúvida se eu tenho capacidade intelectual de redigir uma súmula?!’ Aí ele, ‘‘Não, não é isso que você está pensando!’ – ‘Eu já sei o que vocês estão pensando. Vocês acham que eu não tenho condições. Eu entendi qual é a dúvida de vocês’. Senti que mesmo sendo bom dentro do campo, tinha que provar muito mais fora do campo”, contou.
Entretanto, o caso de racismo mais emblemático da carreira de Márcio Chagas ocorreu no mesmo ano da injúria racial da qual Mário Aranha foi alvo. Quando estava apitando um jogo entre Esportivo e Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho, em Bento Gonçalves, em 5 de março de 2014, a torcida do Esportivo foi além das ofensas comuns contra os árbitros, agredindo-o também com insultos racistas. Ao ver um dos torcedores com um filho, Márcio questionou se era isso mesmo o que o pai estava ensinando ao garoto – sim, as crianças são levadas aos estádios e aprendem, por tabela, com o mau exemplo dos adultos, a também insultarem com xingamentos racistas, homofóbicos e machistas, e a pensarem que isso é normal e aceitável.
No final do jogo, ao chegar ao estacionamento exclusivo da comissão de arbitragem, o juiz viu seu carro amassado nas laterais e cheio de bananas na lataria. Quando tentou dar partida, o automóvel não pegou. Duas bananas caíram do cano de escapamento. Foi o seu basta. Fez a denúncia à polícia. Vinte pessoas foram ouvidas, mas o inquérito foi concluído sem indiciamento. A polícia argumentou que não identificou os culpados. “Não é à toa que continua sendo o campeonato estadual e o estado com maior número de casos de racismo desde 2014, quando o Observatório da Discriminação Racial foi lançado. O Rio Grande do Sul tem mais de 80% das denúncias no país”, ressalta.
Márcio não obteve apoio da Federação Gaúcha de Futebol e ainda ouviu, no julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva, o comentário racista do advogado de defesa: “Chamar um negro de macaco não é ofensivo, eles estão acostumados com isso. Agora se deparar com um veículo com portas amassadas a pontapés, isso, sim, é doloroso para um homem”. A fala foi motivo de risada no ambiente. Márcio levantou, saiu. Após o episódio, resolveu abandonar a carreira, após 15 anos de arbitragem, com apenas 37 anos. Um árbitro pode apitar até os 55 anos e seu papel no combate ao racismo hoje é fundamental.
“Em 2019, a Fifa lançou um código disciplinar com relação ao racismo. Então, ela tira toda a responsabilidade da entidade e transfere para a arbitragem. A orientação é paralisar a torcida, comunicar ao delegado da partida através dos alto-falantes para que as manifestações parem e encerrar o jogo. Só que o que normalmente acontece é que, quando os jogadores são ofendidos e reclamam com a arbitragem, os próprios jogadores recebem uma advertência. Segundo, já viu algum árbitro preto apitando na Europa? Como é que vai ter luta antirracista com os próprios descendentes dos colonizadores? Um italiano que for apitar na Rússia, vai dizer que não entende o russo. E aquele que encerrar uma partida, nunca mais apita. Então, a Fifa simplesmente está lavando as mãos”, analisa Márcio.
Ao sair da arbitragem, passou, então, a ser comentarista de futebol na emissora RBS (afiliada da TV Globo em Porto Alegre). Mas os insultos racistas de torcedores que discordavam de seus comentários não o deixavam em paz. Já tentaram até invadir a cabine da imprensa. Foram anos de perturbação, até que, em 29 de abril de 2019, a convite do Uol, Márcio escreveu o depoimento “Matar negro é adubar a terra” (insulto que já ouvira) relatando muitos desses episódios. Após seu texto ter viralizado, o autor foi questionado pelo fato de o relato ter saído em veículo concorrente. Márcio argumentou que não conseguia apoio da empresa como, por exemplo, as imagens das agressões que sofria dos torcedores nos dias de jogos, para que ele pudesse formalizar denúncia no Ministério Público. Sua presença na TV, então, foi diminuindo. E, cerca de um ano depois, em abril de 2020, em plena pandemia, foi dispensado enquanto sua esposa enfrentava um câncer severo que a matou, deixando dois filhos.
Segundo Márcio Chagas, ao longo de sua trajetória, ele passou a entender melhor a dinâmica do futebol. “No meu entendimento hoje, de uma forma crítica, mesmo gostando do esporte, eu vejo o futebol como uma representação contemporânea da escravatura muito forte. É a única profissão no mundo em que se fala em comprar e vender pessoas e com naturalidade. E se partilham corpos. E normalmente esses corpos são pretos. Não tem mais o navio negreiro, mas tem o avião negreiro. Exploram a mão de obra barata, pobre, miserável, cada vez mais cedo. São famílias que entregam seus filhos aos 11, 12 anos para os clubes, por três alimentações diárias, café, almoço e janta, porque é uma boca a menos dentro de casa. Só que, ao mesmo tempo, esses clubes não têm compromisso algum com a formação e escolarização desses meninos.”
Nem com a segurança. Quem não se lembra do caso do incêndio no Ninho do Urubu, dormitório do Flamengo, em 2019, que matou 10 atletas? A maior parte, adolescentes negros. Até hoje, mais de três anos depois, os 11 indiciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não foram julgados.
E nem todos os garotos aspirantes a futebolistas desenvolvem uma carreira nessa área. “Quando eles não se tornam jogadores, simplesmente caem no mercado de trabalho para ocupar posições de subserviência, como porteiro, segurança, empacotador. Nunca numa perspectiva de acompanhar esse topo da pirâmide, porque não há interesse do sistema. A grande maioria dos negros que são protagonistas dentro do campo, quando saem das quatro linhas, são invisibilizados e mudos. Eles não ocupam posições de poder e nem de decisão dentro do futebol. Não são diretores de futebol, presidentes de clubes, CEO, árbitros, bandeirinhas, preparadores físicos, treinadores”, avalia Márcio.
“E a própria estratificação dentro dos estádios demonstra muito bem como se apresenta isso no cenário do futebol, quem senta na tribuna, no camarote, na cadeira, na arquibancada e na geral. Então, o futebol é uma representação muito forte da escravatura, onde os pretos são moedas de troca, explorados até hoje”, conclui. E essa divisão é uma continuidade da representação do começo do futebol, quando era um esporte fortemente vinculado à elite branca, repetindo a origem britânica da modalidade esportiva.

Imagem: Divulgação
***
Inicialmente, quando o futebol era um esporte amador, para jogar em um clube, era preciso ser sócio. Mas, como o sócio tinha direito a frequentar o clube por completo, uma solução para os insatisfeitos em ver jogadores negros circulando nas áreas além do campo de futebol foi a profissionalização, torná-los empregados do clube. Como servidores, recebiam pagamentos regulares, mas não tinham direito às benesses do ambiente. Ou seja, até o início da profissionalização do futebol no Brasil atendeu à demanda de alguns por estratificação social e não por respeito e dignidade.
“Há quem ache que o futebol do passado é que era bom. De quando em quando a gente esbarra com um saudosista. Todos brancos, nenhum preto. Foi uma coisa que me intrigou a princípio. Por que o saudosista era sempre branco?”, escreveu Mario Filho, em O negro no futebol brasileiro, que foi o primeiro livro a reunir num compêndio, e a partir de relatos orais, a importância do negro para o desenvolvimento do futebol no Brasil. “O saudosista sempre branco, nunca preto, dava para desconfiar. E depois, a época de ouro, escolhida pelo saudosista, era uma época que se podia chamar de branca. E os jogadores, claro, bem brancos, havia até louros nos times, ia-se ver: inglês ou alemão. Poucos morenos. Os mulatos e os pretos, uma raridade, um aqui, outro ali, perdiam-se nem chamavam atenção.”
“Surgido paralelamente ao Império Britânico, por décadas o futebol teve seu destino ligado ao dele. De 1848, data da primeira uniformização das regras, até 1912, fecho de várias e importantes adaptações, o futebol foi típico representante daquela cultura”, narra o historiador Hilário Franco Júnior, no livro A dança dos deuses (Companhia das Letras, 2007). “Em 1909, dominava 20% dos territórios e 23% da população mundial. A propagação do futebol seguiu a lógica da influência cultural inglesa: de início nas próprias ilhas britânicas, a seguir na Europa germânica, depois na Europa latina, pouco mais tarde na América Latina.” Não é coincidência que, nesta região, vários clubes tenham adotado nomes ingleses: na Argentina (Boca Juniors, River Plate) e no Brasil (Corinthians, River do Piauí, Arsenal do Mato Grosso, Sport Club do Recife).
Segundo o historiador, jamais houve interesse dos britânicos em exportar o futebol, considerado um exemplar da cultura britânica por excelência. Por isso, recusaram-se a participar de eventos internacionais e relutaram em aceitar a Fifa. Praticado inicialmente pela classe média alta, fundadora da Football Association, logo o esporte ganhou o interior daquele país e atraiu o interesse da classe média baixa e do operariado.
O futebol nasceu na Inglaterra através de uma estratégia que incluía objetivos sociais, políticos e morais. “Dentre as condições para que seu pequeno país pudesse ser a maior potência mundial, estava a construção do caráter de suas elites. O caminho para tanto foi, entre 1820 e 1900, o chamado ‘cristianismo atlético’. Ou seja, a concepção pedagógica que pretendia desenvolver a fibra moral da elite britânica destinada a governar regiões longínquas e inóspitas, plenas de súditos hostis e pouco civilizados. (...) Tal projeto incorporou o recém-lançado Origem das espécies (1859), de Charles Darwin, adaptando à vida social a ideia biológica de sobrevivência dos mais fortes”. (...) “O futebol moderno nasceu como instrumento do darwinismo social”, escreveu Franco Júnior.
Essa modalidade esportiva chegou oficialmente ao Brasil através de Charles William Miller, filho de um engenheiro escocês radicado no Brasil. Enviado para estudar na Inglaterra aos nove anos, Miller retornou ao Brasil em 1894, com a ideia de promover o esporte no país. Na bagagem trazia dois uniformes, um par de chuteiras, duas bolas, uma bomba de ar e um livro de regras. E a alta sociedade, que era aficcionada por regatas, passou a se interessar pela novidade. Sócio do São Paulo Athletic Club, fundado em 1888, e funcionário da São Paulo Railway Company, Miller organizou um jogo entre as duas instituições, no dia 14 de abril de 1895.
Em 11 de agosto de 1900, no último município a abolir a escravatura, Campinas, surgiu o Ponte Preta, o primeiro time a contar com um jogador negro, Miguel do Carmo. Devido aos xingamentos racistas que o time recebia, como “lá vem a macacada”, foi adotado o apelido que perdura até hoje, Macaca, cuja imagem se tornou mascote do clube – em 2015, o time passou a usar a imagem de um gorila, atendendo a pedidos da torcida.
Em 1907, um ano depois do início do campeonato carioca, a diretoria do Bangu recusou-se a aceitar o regulamento que proibia a inscrição de jogadores “de cor”. Com associados de origem operária e com o jogador negro Francisco Carregal, o clube só retornou à liga cinco anos depois.
Em pouco tempo, foram surgindo clubes criados por pequenos comerciantes, operários e artesãos, como o Internacional, em 1909, e o Corinthians, em 1910. E o Vasco da Gama entrou para a história por ter tido um presidente negro em 1904, Candido de Araújo, e pela vitória na sua estreia na primeira divisão carioca, em 1923, com jogadores negros e brancos, todos da classe operária, se tornando o clube mais popular do Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930.
A conquista do Vasco da Gama em 1923 e o bicampeonato estadual no ano seguinte incomodaram os outros clubes cariocas. Era difícil aceitar que um time formado por jogadores negros e pobres pudesse ter melhor desempenho do que um integrado por brancos. Inicialmente houve, por parte dos outros clubes (Fluminense, Botafogo, Flamengo, América, Bangu e São Cristóvão), a tentativa de excluir os jogadores analfabetos que não pudessem assinar a súmula. Depois, fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Amadores (Amea).
A nova entidade, então, não permitiu acesso ao Vasco, alegando que o clube não possuía estádio próprio. Contudo, havia, nos bastidores, a chantagem para que excluísse seus jogadores negros, pardos e pobres. O Vasco escreveu uma carta, datada de 7 de abril de 1924, negando a proposta. Um marco contra a discriminação racial e social no Brasil, a chamada “Resposta histórica” encontra-se, em uma réplica, na sala de troféus do time. É considerada a “Lei Áurea do futebol brasileiro”, pois, em 1925, o Vasco foi admitido na associação, mantendo sua dignidade.
A primeira regulamentação frente ao preconceito racial no Brasil foi realizada somente em 3 de julho de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, um ano após a fatídica Copa de 1950. Embora propusesse evitar a discriminação racial em território brasileiro, a legislação não considerava atos racistas como crime, mas como contravenções penais, com penas brandas. Apenas no ano do centenário da Lei Áurea, no artigo 5º XLII da Constituição da República Federativa do Brasil, a prática do racismo foi enquadrada como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
O crime de racismo é definido como sendo aquele em que o agente impede o exercício de qualquer direito líquido e certo em razão de um preconceito baseado em etnia, cor, religião ou procedência nacional. Já o crime de injúria racial está tipificado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal e ocorre quando o agente se utiliza da etnia, cor, religião, origem ou pessoa portadora de deficiência para ofender a honra subjetiva da vítima.
Com a obrigação de ter um estádio para poder participar da Amea e, por consequência, do campeonato carioca, o Vasco da Gama promoveu uma campanha de arrecadação de fundos com os torcedores, cujo valor, hoje equivalente a R$ 321 milhões, permitiu, então, ao clube a construção, em 1927, do maior estádio particular do Rio de Janeiro até hoje, o São Januário.
A partir da crescente participação de jogadores mestiços e negros, começaram a surgir as primeiras estrelas do futebol, como o jovem Arthur Friedenreich, de 17 anos, filho de um comerciante alemão e de uma professora negra. Mestiço de olhos verdes, alisava os cabelos com gomalina e toalhas quentes para tentar esconder sua negritude no antigo Germânia (hoje Pinheiros), em 1909. Em 1919, fez o gol do título do Sul-Americano para a Seleção. Assim, se tornou o primeiro ídolo do futebol brasileiro.
Em 13 de maio de 1914, na data comemorativa ao fim da escravidão, o jogador Carlos Alberto, do Fluminense, entraria para a história do futebol, por um motivo menos futebolístico. A torcida do América, ao ver seu rosto com uma tonalidade diferente, identificou o produto e gritou “Pó-de-arroz!”, que virou apelido para o time carioca.
Tentar disfarçar a negritude, no futebol do início do século XX, era a forma encontrada pelos jogadores para serem aceitos em um país a poucos anos da abolição da escravatura e que praticava a política de branqueamento de sua população, facilitando a vinda de imigrantes europeus ao Sul e Sudeste, iniciada na segunda metade do século XIX. Com a chegada de alemães, italianos, portugueses e espanhóis, surgiram alguns dos times que se tornaram importantes no futebol nacional: Grêmio (1903), Coritiba (1909), Vasco da Gama (1898, departamento de futebol em 1915).
Nas duas primeiras décadas do século XX, as torcidas já manifestavam comportamentos hostis em relação aos rivais. “Amiudadamente vêm acontecendo esses atritos em campo, essas agressões a juízes, jogadores etc. que afugentam as famílias das praças de esporte”, noticiou o Correio da Manhã, em 30 de novembro de 1920. A partir do início dos anos 1930, a população vinculou-se mais fortemente ao futebol e aos clubes, com as narrações do rádio e as coberturas jornalísticas de Mario Filho. O jornalista promovia, no Jornal dos Sports, concursos das torcidas mais animadas, ações que contribuíram para a festa de cores, bandeiras e cânticos que se tornou o dia de jogo.

Fotos: Brazil Photopress/Folhapress; Caio Falcão/Divulgação
Paralelamente, o futebol se transformava, além de esporte e diversão, em um instrumento para estimular o patriotismo e o espírito de nação. “Apesar da maioria esmagadora de jogadores do Rio de Janeiro, a seleção foi celebrada pelos governantes como expressão da unidade nacional. O negro Leônidas foi a grande estrela brasileira, jogador aclamado com o destaque individual da Copa (de 1938) e artilheiro da Competição, com oito gols. E o resultado foi considerado uma vitória particular de Getúlio Vargas e de seu regime autoritário. A partir de então, ao mesmo tempo em que se consolidava a figura do presidente, outros heróis nacionais despontaram com a difusão do futebol através dos meios de comunicação. Além de Friedenreich e Domingos da Guia, outros nomes eram objeto de culto pela comunhão de fiéis. E representavam uma possibilidade concreta de ascensão de membros dos grupos subalternos da sociedade brasileira”, afirma o historiador Hilário Franco Júnior.
Leônidas da Silva, conhecido também como Diamante Negro (o nome do chocolate foi em sua homenagem), de tão aclamado e adorado, tornou-se o primeiro jogador brasileiro negro a aparecer em propagandas. Sua imagem e seu nome garantiam a venda de todo tipo de produto, inclusive jornais e revistas. Sua participação em jogos lotava estádios. O craque, cuja marca era o gol de bicicleta, abriu as portas para a chegada do maior jogador da história do futebol brasileiro e mundial, cujos feitos foram tão extraordinários, que seu nome virou adjetivo para alguém que se destacava bastante naquilo que fazia: o Pelé da música, o Pelé da literatura, o Pelé da pintura.
Ao contrário do carioca Leônidas, o mineiro Edson Arantes do Nascimento tinha a popularização da TV a seu favor. Seus lances geniais, como os filmados em película na Copa de 1970, podem ser vistos facilmente no YouTube e redes sociais. Sua presença imponente, seja no campo ou em qualquer outro ambiente, atraía olhares admirados, como se houvesse mesmo uma coroa na cabeça do jovem, já chamado de rei aos 17 anos. Sua importância para projetar positivamente, em um país racista, a imagem do homem negro é incalculável.
“Na Suécia, ele não tremerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém. E é dessa atitude viril e, mesmo, insolente, que precisamos. Sim, amigos: – aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Por que perdemos, na Suíça, para a Hungria? Examinem a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time, e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós”, escreveu Nelson Rodrigues, em 8 de março de 1958, antevendo a primeira conquista de uma Copa do Mundo pelo Brasil.
Para Hilário Franco Júnior, em torno de cada divindade futebolística desenvolve-se algo semelhante a rituais religiosos. “Ora, como qualquer seita, toda torcida é rotulada pelas demais. No seu interior, entretanto, o sentimento de pertencer ao lado correto da sociedade global. (...) O culto à divindade comum tem evidentemente espaço e tempo privilegiados (o estádio e a partida nos quais o time joga), e também ocorre em qualquer lugar no qual dois ou mais torcedores se reconheçam. Assim como em qualquer religião, os fiéis estão unidos por sua história sagrada, feita de personagens e episódios conhecidos por todos, os torcedores de um clube sentem-se unidos por um destino comum repleto de heróis e vilões, de momentos épicos e outros trágicos, que, mesmo não tendo sido pessoalmente vividos por todos, fazem parte da vida de cada um. Assim como os ritos religiosos sintetizam, relembram e revivem a história sagrada que os fundamenta, os ritos futebolísticos fazem o mesmo com a história do clube”, compara o estudioso, para arrematar: “Toda religião une e, contudo, para fazê-lo, ela divide, separa, antagoniza. Todo novo fiel de uma crença é infiel às outras. (...) O forte espírito de concorrência que alimenta o futebol e permite sua sobrevivência leva consigo menosprezo sistemático às divindades de seitas rivais”.
“Os esportes parecem sintetizar e expressar as psicologias coletivas, como percebeu o escritor Friedrich von Schiller no século XVIII, antes do nascimento do futebol moderno. “Joga-se como se vive”, definiu o espanhol Miguel Azkargorta, técnico da Bolívia na Copa de 1994. Preconceitos existem, é claro, nos mais diversos ambientes sociais, entretanto é inegável que a forte concorrência leva o futebol a potencializá-los. E de forma diretamente proporcional à proximidade física ou cultural das comunidades em questão. (...) Foi o que, no bojo das rivalidades geopolíticas entre Brasil e Argentina, levou nossos vizinhos a projetarem nos jogadores brasileiros traços coloniais, escravistas, chamando-os de macaquinhos. Na Copa de 1950, estimulados por sentimento de superioridade graças à vitória em pleno Maracanã, alguns torcedores uruguaios recorreram à mesma adjetivação”, destaca Franco Júnior.






