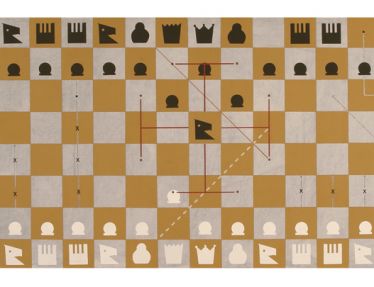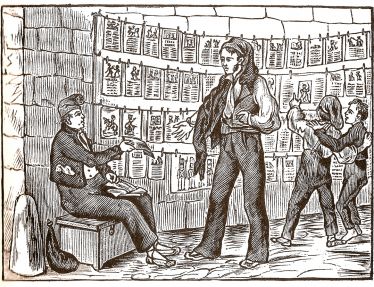Imagine uma cidade
TEXTO PEDRO SEVERIEN
01 de Novembro de 2018

Sobrevoo no Cais José Estelita, Recife, no filme 'Cabeça de prédio'
Foto Divulgação
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 215 | novembro de 2018]
Em Cabeça de prédio (2016), enquanto um drone sobrevoa o Cais José Estelita, um narrador provoca o espectador. “Você mesmo aí, olhando, não consegue imaginar mil coisas mais interessantes do que 13 prédios de luxo?”. Para responder a essa pergunta, depois de caminhar pelo terreno, de vivenciá-lo, não seria nenhuma surpresa que esse espaço se tornasse um lugar. A diferença entre espaço e lugar é que o primeiro é neutro, uma dimensão física, material, o segundo é psicológico, afetivo, impregnado das sensações e dos desejos do sujeito que o configura em sua imaginação.
Construa na sua mente uma imagem do que você quer para esse vazio urbano e para todos os espaços nos quais você transita em uma cidade. Projete-os e compartilhe essa projeção. Esse é um dos gestos de Cabeça de prédio, que coaduna com uma das atividades fundamentais à produção democrática de uma cidade, afinal “uma cidade se inventa” – aqui me aproprio do título do estudo sobre a história do centro do Recife realizado por Claudia Loureiro e Luiz Amorim (1997).
Em Cidades rebeldes (2014), o geógrafo e ativista David Harvey argumenta que para inventar uma cidade é preciso imaginá-la coletivamente, uma vez que o direito à cidade é “muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos desejos”. A cidade e o processo urbano que a produz são, portanto, importantes dimensões de luta política, social e de classe.
Em 2008, o terreno de mais de 10 hectares situado no cais foi vendido através de um leilão público contestado na justiça para um complexo de empresas privadas do setor imobiliário, formado por Moura Dubeux, Queiroz Galvão, GL Empreendimentos e Ara Empreendimentos. O consórcio empresarial propõe para a área a construção de um empreendimento de luxo, dividido entre estabelecimentos comerciais e moradia de alto padrão econômico.
Uma vez tornado público, o projeto Novo Recife recebeu imediata oposição, articulada por uma mobilização social que luta, entre outras pautas políticas, pelo direito à cidade e pela democratização do planejamento urbano. O Novo Recife é mais uma etapa de uma trajetória contemporânea na qual o desenho urbanístico da cidade vem sendo determinado pelo capital imobiliário, sem participação social. O ativismo pelos direitos urbanos cresce e ganha força justamente em face a uma guinada neoliberal no planejamento da cidade. Nos anos 2010, acirra-se a disputa sobre os destinos da cidade e catalisa-se a formação do Movimento Ocupe Estelita.
Na noite de 17 de maio de 2014, ao se depararem com o início da demolição dos antigos armazéns de açúcar situados no cais, o que denotava o início das obras do projeto Novo Recife, ativistas entram no terreno e barram com os próprios corpos o trabalho das máquinas. Esse gesto de ocupação para barrar projetos privados em espaços públicos não acontece de forma isolada, ocorre em diálogo com uma mobilização global. Ocupar praças, ruas, prédios públicos e fazer desse gesto o dispositivo para a produção coletiva intensifica-se em diversas cidades pelo mundo. O Occupy Wall Street, em Nova York; o Movimento 15M, ou Indignados, na Espanha; as ocupações das praças Tahrir, no Cairo, e Taksim, em Istambul, são alguns exemplos dessa modalidade de manifestação política. Mesmo que haja grande heterogeneidade entre as pautas desses levantes, e também uma pluralidade nas suas formações internas, uma reivindicação comum os atravessa: a crítica aos sistemas representativos de governo que se distanciam dos anseios participativos da sociedade.
Os movimentos de ocupação ganharam visibilidade por se articularem como estratégia política e midiática, reação à captura do espaço urbano para o consumo e à opressão articulada pela desigualdade social, mas também emergem de uma reflexão sobre as estruturas tradicionais do campo da esquerda e das lutas por direitos. A ocupação do Cais José Estelita dura cerca de 50 dias, contando as suas diferentes etapas – a primeira parte ocorre na área interna do terreno e depois na área externa, embaixo de um viaduto –, criando um circuito particular de cooperação, debate, articulação e experimentação social na cidade.
Os militantes questionam as relações entre governos e o capital privado, argumentando que são essas relações de favorecimento do mercado que vêm produzindo cidades excludentes, segregadoras e violentas. Usam manifestos, textos, fotos, performances, design, vídeo, aulas públicas, transmissões ao vivo, intervenções artísticas, ações jurídicas e debate institucional, entre outras táticas, para mobilizar subjetividades e intervir nos processos de produção de cidade.
Nessa complexa teia de atividades, emerge no Recife um cinema militante, que ocorre de forma autônoma, em associação com o movimento social. Em 2015, num levantamento resultado de uma convocatória do Movimento Ocupe Estelita, são identificadas mais de 90 produções audiovisuais relacionadas à luta pelo direito à cidade.
Parto da leitura desse material para empreender um desenho conceitual, estético e político desse cinema, não como trabalho isolado, mas como um circuito de subjetividades que se expressam em gestos audiovisuais. Um cinema de ocupação. Não faço isso de forma distanciada ou supostamente isenta. Sou sujeito implicado nessas ações, pois participo da militância pelo direito à cidade, assim como da realização de diversas peças audiovisuais nesse viés. Alguns desses trabalhos serão abordados neste texto, com o objetivo de produzir um trajeto que entende os filmes como gestos em suas dimensões também antropológicas e afetivas. Novo Apocalipse Recife foi criação coletiva do Movimento Ocupe Estelita e da Troça Empatando Tua Vista. Foto: Divulgação
Novo Apocalipse Recife foi criação coletiva do Movimento Ocupe Estelita e da Troça Empatando Tua Vista. Foto: Divulgação
***
As comunas contemporâneas não reivindicam o acesso nem o encargo de um “comum” qualquer, elas põem imediatamente em prática uma forma de vida comum, que significa a elaboração de uma relação comum com aquilo que não se pode apropriar, a começar pelo mundo. (…) Qualquer movimento, qualquer encontro verdadeiro, qualquer episódio de revolta, qualquer greve, qualquer ocupação é uma brecha aberta na falsa evidência desta vida e que mostra que uma vida comum é possível, desejável, potencialmente rica e alegre (COMITÊ INVISÍVEL em Aos nossos amigos: crise e insurreição, 2016).
A ocupação do Cais José Estelita surge sem anúncio, de forma inesperada tanto para a esquerda quanto para a direita, desestabiliza momentaneamente os poderes de dominação, mas, ao mesmo tempo, não busca em si tomar o poder institucional. Há em muitos desses grupos de contestação influência de vertentes anarquistas que identificam o Estado como uma das principais forças de opressão, junto com o princípio estruturador da propriedade privada. Em suas práticas, exercem outras formas de organização, como a democracia direta ou estratégias de produção de bens e espaços comuns. Os ativistas são movidos pela disposição de intervir no real para a constituição de outras relações possíveis. Para utilizar um termo um pouco mais específico, esses coletivos usam a ação direta.
Se há na cidade neoliberal uma tomada do público pelo privado, há no cinema também uma fórmula dominante que adere ao modelo industrial fordista. Nessa perspectiva, as relações entre os sujeitos implicados nas diferentes instâncias da cadeia produtiva do cinema são mediadas pela dinâmica da produtividade em escala e pela compartimentação das funções. A lógica da linha de produção é aplicada de forma que a equipe de cinema se organiza por uma hierarquia entre funções, dividida num organograma que determina os agentes criativos, técnicos e financeiros. Há uma variedade de possibilidades e permeabilidades entre essas instâncias desde os primórdios do cinema até os dias de hoje.
Na perspectiva do cinema industrial, os detentores do capital e dos aparatos técnicos organizam-se como operadores de um sistema, disputando não só o controle sobre os modos de produção, mas também sobre os efeitos cognitivos, políticos e sociais de recepção dos filmes. Os espectadores passam a ser regulados por uma tentativa de predeterminação na qual não são vistos apenas como indivíduos ou sujeitos, mas, sim, consumidores. As narrativas dominantes visam, portanto, uma disseminação massiva desses produtos aos consumidores, ao mesmo tempo que ensejam produzi-los enquanto tais. Uma das linhas de força por trás dessa operação é evidente: fazer cinema para fazer dinheiro, buscando uma fórmula eficaz de produção para esse objetivo. No entanto, como linguagem, meio e suporte, o cinema está permanentemente no centro das disputas encampadas por grupos sociais revolucionários, transgressores e libertários.
Essa contraposição estabelece uma das bases para a discussão de um aspecto específico dessa trajetória histórica e política – a autoria. No cinema contemporâneo pós-industrial, não raro a divisão técnica do trabalho, que se separava em funções específicas, é abolida ou subvertida. A difusão online a partir de matrizes digitais adiciona à disputa da distribuição mais uma dimensão: o controle corporativo das redes virtuais. Ao mesmo tempo, a virada pós-industrial abre possibilidades para reconfiguração tanto do cinema de autor como dos cinemas militantes e insurrecionais.
Em abril de 2010, é publicada nas redes sociais por um grupo de ativistas, identificado apenas como [projetotorresgemeas], uma convocatória para reunir interessados em discutir as relações de poder no território urbano através da produção de um filme coletivo. A chamada evidencia um desejo de misturar olhares, quase como uma transposição para o campo audiovisual do conceito de cidade enquanto mecanismo “misturador de gente”.
Salve o Estelita... foi produzido em um dos atos de rua realizado pelos ocupantes do Cais. Foto: Divulgação
[projetotorresgemeas] ganhou forma final em um curta-metragem de 20 minutos reunindo registros que ora se utilizam de relatos subjetivos, irônicos ou poéticos, ora se inscrevem no real para estabelecerem suas articulações com a cidade. A narrativa geral desenha-se justamente como um encontro desses olhares, experimentações díspares na cidade. As imagens caminham juntas na tela, sendo o filme como uma amálgama de singularidades expressas nas imagens. Ao todo, participaram da ação 57 realizadores coautores, dos quais a maioria já tinha vínculo com a produção audiovisual, mas uma parte significativa se somou à iniciativa a partir de outros campos, como arquitetos, ativistas da luta por moradia, músicos, professores, produtores culturais e estudantes.
Em seus gestos metafóricos, de fabulações sensíveis ou sob o risco do real, a constituição de uma narrativa-multidão se dá justamente porque as relações de poder internas ao filme são partilhadas, distribuídas em uma rede colaborativa. O agenciamento das subjetividades em [projetotorresgemeas] ocorre não por uma centralização do sensível, do qual seria dotado um autor individual ou institucional, mas justamente por sua distribuição nesse microcircuito colaborativo. O gesto do filme é produtor de uma comunalidade, dentro e fora da tela.
Se, em [projetotorresgemeas], há uma mistura nas texturas dos diferentes registros imagéticos e sonoros – mas também nas diferentes abordagens narrativas imanentes aos sujeitos-autores, em Novo apocalipse Recife (2015), realizado pelo Movimento Ocupe Estelita, há uma centralização do regime estético do filme. Enquanto o primeiro caso fala de uma cidade múltipla, articulada pelas diferentes naturezas da imagem e das singularidades incluídas numa narrativa polifônica, no segundo, há um ataque frontal e unificado. Elege-se um alvo: a relação do prefeito do Recife, Geraldo Julio (com primeiro mandato em 2012 e reeleito em 2016), com as empreiteiras que compõem o Consórcio Novo Recife.
O gesto do filme coaduna com a ação do coletivo político-performático Troça Carnavalesca Empatando Tua Vista, que é também personagem na história. Utilizando-se de um tom satírico e provocativo, a narrativa faz uma ode ao projeto Novo Recife, na qual o prefeito — “reencarnado” com uma máscara de papel – é o seu garoto propaganda. Mirando nos afetos e no riso, o filme produz uma paródia da música de Reginaldo Rossi Recife, minha cidade.
Em uma série de situações lúdicas, o personagem-prefeito age em louvação às “qualidades” do projeto Novo Recife, seja dançando de sunga estampada com a insígnia da bandeira de Pernambuco em frente aos espigões espelhados da beira-mar do Bairro de Boa Viagem ou sendo conduzido como um cachorrinho por uma das torres-fantasia. Em um momento de clímax do filme, as torres-personagens crescem vertiginosamente, como Godzillas, esmagam trechos históricos e vulneráveis da cidade e catapultam o prefeito pelos ares como um super-herói. O gesto de produzir a imagem de um “novo” prefeito para uma “nova” cidade propõe desmascarar uma face nem sempre visível das relações de poder: a associação de interesses privados na agenda de representantes do poder público.
A carnavalização da imagem do prefeito mantém-se associada ao gesto do movimento social, que utiliza esse recurso como instrumento político. Essa busca pelo constrangimento mais direto já integrava a performance das torres da Troça Empatando Tua Vista, que nos últimos carnavais da cidade realizavam aparições durante o tradicional café da manhã no camarote do bloco Galo da Madrugada, local de encontro de políticos da cidade. Essas ações da troça têm recebido reações restritivas do poder público. No carnaval de 2016, funcionários da Diretoria de Controle Urbano impediram a saída dos manifestantes com as fantasias de prédio. E, no ano seguinte, policiais militares apreenderam as fantasias. Em 2018, os manifestantes conseguiram um habeas corpus cautelar para garantir a saída com as fantasias. O filme enquanto gesto crítico coletivo desdobra essa performatividade perante o poder hierárquico institucionalizado.
A diluição da autoria em um grupo de mais de 70 pessoas que roteiriza e encena uma peça de coesão estética não funciona para o apagamento das singularidades das pessoas envolvidas, mas para expressão de seus afetos agenciados. Na fase final de montagem, o movimento decide ocupar a calçada em frente ao prédio onde mora o prefeito. A ocupação permitiu inclusive que uma cena dessa intervenção fosse incluída no filme, estreitando os laços entre a narrativa carnavalizada e a ação presencial do coletivo. Novo apocalipse Recife teve mais de 500 mil visualizações na página do Movimento Ocupe Estelita, e também viralizou pelo WhatsApp. Salve o Estelita... foi produzido em um dos atos de rua realizado pelos ocupantes do Cais. Foto: Divulgação
Salve o Estelita... foi produzido em um dos atos de rua realizado pelos ocupantes do Cais. Foto: Divulgação
***
Não foi o mundo que se perdeu, fomos nós que perdemos o mundo e o perdemos sem parar; não é ele que em breve vai acabar, somos nós que estamos acabados, amputados, cortados, nós que recusamos alucinadamente o contato vital com o real. A crise não é econômica, ecológica ou política, a crise é antes de tudo crise de presença (COMITÊ INVISÍVEL, idem).
Os movimentos contemporâneos de ocupação usam os corpos não só para disputar uma visibilidade num jogo assimétrico de representações. A presença dos corpos nas ruas funciona para, antes disso, instaurar um espaço de aparição, o próprio espaço da política. Ou seja, o que está em disputa não é apenas a formulação de um debate público ou de um discurso a ser compartilhado ou rechaçado, mas a criação de outro espaço para o encontro, o contato e o contágio entre corpos em suas interdependências. Judith Butler (2015) argumenta que nenhum corpo é totalmente autônomo em sua existência, uma vez que, para o reconhecimento de si e de suas subjetividades, ele opera segundo relações que se estabelecem num “entre” corpos.
Autorretrato (2012), de autoria anônima, é filmado durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano, que aprova a construção do projeto Novo Recife. Em meio a esse acontecimento desfavorável para a militância dos direitos urbanos, um ativista decide usar a câmera e o seu corpo para intervir nesse jogo de poder – filma insistentemente o então presidente da Associação Imobiliária de Pernambuco e diretor da Moura Dubeaux, Eduardo Moura. O personagem-alvo, ao identificar o sujeito-câmera com o grupo daqueles que se manifestavam contra o projeto, desconfia que sua imagem seria posta para circular de maneira desfavorável a si; por isso, ele se incomoda e solicita não mais ser filmado, conforme afirma a narração cuja voz foi alterada com um efeito de distorção digital, imprimindo um aspecto robotizado à fala.
Da perspectiva do sujeito-câmera, trata-se de oferecer ao olhar do espectador a imagem do inimigo. O diretor da construtora figura ali não apenas como uma pessoa física, o dono de uma das empreiteiras proponentes do Novo Recife, mas como uma encarnação do neoliberalismo e do patriarcado que assombram a cidade, privatizando espaços públicos e reproduzindo relações assimétricas de poder. No geral, essas duas figuras – o empresário neoliberal e o sujeito patriarcal – são poupadas pela grande mídia, quando se trata de narrar situações de conflito. O apagamento da voz do poder privado termina distanciando esse sujeito do cenário de conflito do qual faz parte.
Por outro lado, os insurgentes da ocasião (sem-terra, sem-teto, povos indígenas, mulheres, comunidades LGBTTQIs, praticantes das táticas black blocs, manifestantes, ocupantes etc.) são frequentemente responsabilizados por ações consideradas violentas e criminalizados pela Justiça por agirem contra a propriedade privada. Essas ações por vezes fazem uso de violência contra o patrimônio privado ou o patrimônio público. Mas é possível produzir resistência sem alguma dimensão de violência? Ocupar o Cais José Estelita foi lido pelo poder dominante como um gesto de violência contra o direito dos empreiteiros em construir o Novo Recife. Essa perspectiva, no entanto, exclui as ilegalidades cometidas pelo consórcio e sua desigual influência em processos administrativos, jurídicos e de planejamento. O que problematizo aqui é como o legalismo é utilizado recorrentemente para a criminalização dos sujeitos individuais e coletivos que lutam por seus direitos. Na luta por direitos, a mediação é, em muitos casos, a força.
Na tentativa de restituir uma imagem que diariamente escapa às narrativas hegemônicas da mídia, o sujeito-câmera, mobilizado enquanto um corpo-câmera, põe para funcionar um dispositivo bastante específico. Em vez de filmar as pessoas que tomam a palavra durante a reunião em pauta, dirige seu olhar e sua presença para o lado da plateia, do público, daqueles que assistem e, aparentemente, não protagonizam a cena. Mais do que isso, dirige a lente da câmera e o seu corpo para uma única pessoa. Mais ainda, através de um recurso de edição, enquadra a imagem desse indivíduo, limitando seu espaço na tela. O efeito é de aprisionamento. Aprisionado na imagem, o indivíduo-alvo não tem como escapar. Acuado, ele agora é ostensivamente exposto a diversos olhares (do corpo-câmera e, futuramente, do espectador). A vigilância ininterrupta do corpo-câmera sobre ele atua como uma intervenção que, ao mostrá-lo, dá-lo a ver, ameaça-o, amedronta-o, fere-o.
Essa inversão do olhar provoca um deslocamento micropolítico. O sujeito ordinário, esse “um qualquer”, ao erguer a câmera perante uma figura do poder, provoca uma fissura na ordem estabelecida, interfere no real com sua performatividade. O que se vê na tela reverbera a potência do dispositivo. O curta evidencia o embaraço de uma pessoa que reage ao campo de força sensível instituído por um corpo-câmera que age fora do script.
Se em Autorretrato essa disposição do corpo-câmera para intervir no acontecimento é organizadora da cena, em Salve o Estelita com direito a rolezão no Shopping RioMar (2015), esse fluxo é coletivo. Salve o Estelita… é um filme-manifestação, produzido num dos atos de rua organizados pelo Movimento Ocupe Estelita. A câmera participa da passeata junto com a multidão, há pouco tempo para pactuações coletivas, o que denota uma certa cumplicidade entre quem filma e as pessoas filmadas. Embora manifestações de rua possam chegar a um roteiro predeterminado – e muitas realmente seguem esse roteiro, principalmente as que têm carros de som e organização de estruturas mais tradicionais –, a manifestação dessa multidão articula um outro agora, e não necessariamente um vir a ser. O filme vai cartografando esse comum da caminhada.
A igualdade é uma condição e caráter da própria ação política ao mesmo tempo em que é seu objetivo. O exercício da liberdade é algo que não vem de você ou de mim, mas do que está entre nós, do vínculo que fazemos no momento em que exercitamos liberdade juntos, um vínculo sem o qual não existe liberdade (JUDITH BUTLER em Notas para uma teoria performativa da assembleia [tradução livre], 2015).
Em sua primeira metade, o filme parece expressar uma certa impossibilidade do ato de rua – falas para dentro do próprio grupo e manifestações indignadas diante de batalhas perdidas, como quando a multidão grita “Au au au essa porra é ilegal” em frente aos edifícios Píer Maurício de Nassau e Duarte Coelho. A forma solene com a qual os manifestantes se põem quando caminham pela frente do cais parece ativar memórias da ocupação e da desocupação. Mas então é o filme que opera com a montagem para fazer uma justaposição ativa: corta do trecho onde manifestantes caminham nas imediações do terreno do Cais José Estelita para o coletivo entrando no Shopping RioMar.
Esse gesto interventivo da montagem funciona para uma alteração energética. No processo de organização da manifestação, ainda não se tinha certeza do ponto final. A ideia foi sendo gestada no encontro e na caminhada. A escolha do filme, por não mostrar esse processo de debate e reflexão, e já cortar para o ato em si, demonstra mais uma vez uma cumplicidade. A intervenção dos corpos no espaço do centro de compras faz o filme chegar a um novo estágio enquanto happening.
Quando entra no shopping, essa performatividade coletiva desestabiliza os lugares preestabelecidos para os sujeitos naquele espaço. Em Quando o ambiente é hostil (2009), a pesquisadora e urbanista Lucia Leitão afirma que a natureza privada e privativista do espaço “que na casa-grande se expressava em sua domesticidade, se revela, nos shopping centers, na seleção ‘natural’ dos que são convidados a frequentá-los, definida pelo poder aquisitivo de cada um”. Segundo a autora, os shopping centers funcionam como “um outro tipo de espaço edificado a indicar a opção brasileira por um modo de vida privado e privativista tão ao gosto do Brasil patriarcal”.
No vocabulário contemporâneo das ocupações e dos movimentos autonomistas, o termo festa é utilizado para ações que envolvem uma intervenção, uma ação direta. Pensar na ação direta como uma festa não é apenas uma maneira de codificá-la, distrair a atenção de um algoz que perscruta o movimento e suas ações, mas é também adicionar ao ato coletivo uma alegria, uma festa de viver do levante, de viver o gesto que liberta, de se dispor a se indispor com os mecanismos de controle e os agentes de opressão.
“Os que participam de levantes invariavelmente notam seus aspectos festivos, mesmo em meio à luta armada, perigo e risco” (HAKIM BEY em TAZ - zonas autônomas temporárias, 2001).
Velho Recife Novo faz uma relação entre a militância e o discurso acadêmico que reflete sobre a cidade. Foto: Divulgação
***
Pode a imagem protagonizar uma ação? É a imagem sujeito de uma ação em alguma situação possível? Não. A imagem não é sujeito de nada. É um objeto, uma coisa. Consequentemente, a imagem não pode ser responsabilizada pelos atos dos sujeitos que agem. Mas, se a imagem não faz nada, por que a desejamos? Ou não a desejamos? Caso não a desejemos, vivemos em total dissintonia com nossas vontades, afinal de contas estamos imersos em imagens até o pescoço, ou mesmo até a cabeça. Mas, mesmo que estejamos nos afogando em imagens, podemos nos sufocar dentro desse mar imagético? Não podemos materialmente nos afogar em imagens. Mas será que o hiperfluxo de imagens na contemporaneidade em todos os seus formatos e formas não nos impacta cognitivamente?
O verbo imaginar quer dizer, entre tantas coisas, a capacidade de criar imagens. Está associado ao ato de pensar. O pensamento por sua vez, numa certa tradição filosófica, foi determinado como condição primária para a existência (Penso, logo existo). Mas essa premissa parece deixar de fora as coisas que não pensam. Será que as coisas não pensam? As imagens não pensam? Talvez não. Mas nós pensamos com elas. Dessa operação, há de se conceder pelo menos que as imagens, se não fazem nada em si, pois são coisas, nos fazem fazer. Essa é uma das premissas que Marie-José Mondzain nos apresenta em A imagem pode matar? (2009). Pode a imagem intervir na realidade?
A principal aposta do cinema engajado é na sua eficácia histórica, e isso ocorre em relação a três pontos, dos quais cada filme organiza a sobreimpressão, segundo os imperativos do combate. (…) No fogo da ação, René Vautier definiu como “cinema de intervenção social” um trabalho de instantaneidade performativa que visa o sucesso de uma luta e a transformação concreta de uma situação de conflito declarado ou de injustiça estrutural. (…) Em médio prazo, o trabalho consiste em difundir uma contrainformação e agitar as energias. (…) A longo prazo, tratou-se de filmar, e assim conservar fatos para a história, constituir documentos, legar um arquivo e transmitir a memória das lutas às gerações futuras (NICOLE BRENEZ em Contra-ataques, 2017).
Essa breve descrição das diferentes funcionalidades do cinema militante e das temporalidades históricas, como colocado por Nicole Brenez, serve como mote para pensar essas relações também com os movimentos de ocupação. Pois o mesmo poderia ser dito das ocupações enquanto gestos que intervêm no presente, produzem uma contrainformação para um futuro próximo e, por fim, também deixam de legado um arquivo, uma memória para lutas futuras. Mas a divisão dessas funcionalidades não opera como um dado isolado, uma vez que são os corpos e os sujeitos que ocupam um espaço, enquanto as imagens… Que espaço seria esse que as imagens ocupam?
O cinema engajado – ou de intervenção social, militante, de urgência – deseja intervir no real, deseja tocá-lo, ou seja, configura-se como expressão de um desejo. Afinal de contas, os filmes são compostos de imagens e sons, elementos que não agem por si só, a não ser no sentido de que podem ensejar uma ação nos sujeitos. Como? Partamos da hipótese colocada por Didi-Huberman ao investigar o que move as pessoas a um levante.
O que nos torna protagonistas de um levante? Vamos partir da hipótese de que é a força de nossas memórias quando se inflamam junto às memórias de nossos desejos – imagens que se encarregam de inflamar nossos desejos a partir das nossas memórias, memórias no vazio de nossos desejos (GEORGES DIDI-HUBERMAN em Através dos desejos [fragmentos sobre o que nos subleva], 2017).
O cinema engajado age, portanto, segundo uma “eficácia histórica”, a de agitar as informações para um presente e também para um futuro. Ou seja, age com a memória. Mas, nessa condição, não deixa de se entender como agenciamento de um passado contido nas imagens. Por outro lado, essas imagens e vontades interventivas, funcionam para ativar desejos que “se inflamam” ou não. A memória, nesse sentido, se coaduna ao ato de imaginar, uma vez que conclama um rearranjo das imagens que carregamos e como as reformulamos diante do presente.
Muitos dos filmes que foram realizados sobre o direito à cidade no Recife têm essa pulsação do tempo. Surgem sob a égide da urgência, mas se entende também que não irão por si só alterar esse presente, que se refaz a cada gesto, a cada contato, a cada experimentação de produção audiovisual, com o desejo de uma intervenção. Foi justamente do combate às dinâmicas de opressão que passou a circular no mundo o termo cinema de urgência. Esse cinema estaria ligado a algum tema sob o qual o debate público seria urgente e sob o qual haveria um bloqueio midiático, que a produção audiovisual feita fora do sistema corporativo da mídia poderia abordar com o objetivo de furar esse bloqueio e alimentar uma memória coletiva.
Mas o termo, que em primeira instância se entende como que designando a urgência do filme que é feito, também parece clamar pela realização de filmes. Parece dizer “que se façam filmes urgentemente”. Daí uma dupla potência. Isso permite que entendamos que os gestos desses filmes no plano narrativo ou na disputa por sentidos também se abrem para uma dimensão simbólica. Os filmes nos fazem fazer filmes.
***
No artigo De esculpir e materializar o tempo (2017), Barbara Lino e Cristiano Borba Nascimento estabelecem um interessante método de leitura dos filmes produzidos no Recife nos últimos anos, vinculados ao debate sobre o direito à cidade. Os autores organizam uma cronologia de acontecimentos no plano da gestão urbana, relacionando-os aos acontecimentos do campo do cinema em Pernambuco. Ou seja, comparam historicamente marcos da legislação urbana recente, assim como ações de mobilização social e embates públicos, com a retomada do cinema brasileiro em Pernambuco, que tem como um marco inicial o longa-metragem Baile perfumado (1996).
Como resultado, encontram uma sugestiva relação entre as alterações na paisagem urbana e as representações cinematográficas da cidade, a partir de uma legislação que permite uma intensificação da verticalização e que é aprovada curiosamente no mesmo ano de 1996.
Barbara e Cristiano fazem um levantamento dos filmes produzidos entre 1996 e 2016 que abordam a questão urbana de alguma forma, articulando essas produções nessa tabela cronológica relacional. Essa análise aponta que, numa primeira fase, de meados dos anos 1990 até final dos anos 2000, os filmes expressam em suas narrativas uma crítica ao modelo de verticalização da cidade. Boa parte dessas produções foi realizada por meio de financiamento público, através dos editais do Funcultura, promovidos pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. A retomada da produção audiovisual em Pernambuco vem impulsionada por uma trajetória histórica de ciclos cinematográficos, um movimento como o Manguebeat, que impacta o cenário musical e cultural, e as políticas públicas que impulsionam a produção cinematográfica a partir da retomada do cinema brasileiro.
Lino e Nascimento afirmam que, se, num primeiro momento, os filmes trazem esse olhar crítico mais como expressão de um incômodo com as desigualdades sociais e com a violência operacionalizada por essa cidade vertical que se construía, num segundo momento, o cinema passa a tomar posição mais direta e se associar aos movimentos sociais de contestação desse modelo.
Velho Recife novo (2012) é um dos filmes desse momento de tomada de posição. Como já vimos, a produção audiovisual militante extrapola os sujeitos criativos do campo do cinema – nesse caso, dois dos realizadores são arquitetos. A articulação com outros sujeitos de outras áreas de pesquisa é central ao desenvolvimento de um cinema de ocupação, que em Velho Recife novo apresenta uma aproximação com estudiosos da cidade no ambiente acadêmico. O curta-metragem consegue articular, em entrevistas com pesquisadores, o desenho de uma cidade voltada para o consumo a partir de variados campos de saber – o urbanismo, a sociologia, a economia e a história.
Recife, cidade roubada (2014) parece expressar de forma mais direta um gesto panfletário. Retomando o viés crítico estabelecido em Velho Recife novo, pretende-se ainda mais incisivo. Um apresentador, o ator Irandhir Santos, é convocado como personagem-articulador da narrativa, que problematizará o conceito de “novo”. Logo nos primeiros momentos do filme, o narrador afirma: “Nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é novo é novo”.
O filme articula a narração com entrevistados especialistas dos campos jurídicos e urbanísticos, mas também personagens da cena cultural e moradores de comunidades que sofrem com a especulação imobiliária. Todos falam de frente para a câmera, num discurso roteirizado, coeso. As imagens são amplificadas por uma trilha sonora orquestral. Do início ao fim, Recife, cidade roubada reafirma a sua posição diante da disputa para a produção de um impacto discursivo. Assim, o cinema demonstra-se linguagem fabricada também como uma máquina ideológica.
Talvez, para examinar de maneira mais produtiva esse gesto, precisemos adentrar um campo histórico do cinema enquanto uma ferramenta de guerra. Por que falo em guerra? Porque, mesmo que não haja um conflito armado entre os sujeitos, há uma disputa na qual subjaz uma violência latente entre campos opositores. Essa violência consiste na forma como uma interpelação do outro se dá pelas linhas discursivas de uma verticalização. É importante notar que, durante a realização de Recife, cidade roubada, o consórcio Novo Recife veiculava uma campanha publicitária massiva nos principais canais de TV argumentando sobre os benefícios do projeto.
***
Se perguntamos pelos recursos expressivos e pelas operações nos quais o cinema contemporâneo tem investido para criar novas figuras do comum de uma comunidade, a primeira coisa a ressaltar é que não basta que as relações de poder e de sujeição surjam como tema dos filmes; é necessário que eles produzam signos e relações capazes de desestabilizar o ordenamento social vigente, alcançando outras formas sensíveis de experimentar o espaço e o tempo (CESAR GUIMARÃES em O que é uma comunidade de cinema?, 2015).
Quando falo de uma imagem desobediente não é que evoco a imagem da desobediência civil (uma representação da desobediência). Em Audiência Pública (?) (2015), é gesto do filme desobedecer à imposição de uma significação para a imagem política criada numa audiência pública que discute o projeto Novo Recife. As audiências eram uma reivindicação central do Movimento Ocupe Estelita, que pedia debate com a população e participação popular. A audiência que é objeto do filme tinha como pauta principal colher informações e posicionamentos da sociedade para um “redesenho” do projeto Novo Recife. Devido à intensidade da disputa, tanto o Movimento Ocupe Estelita quanto o consórcio Novo Recife realizam uma grande mobilização para o encontro.
O capital imobiliário ativa um procedimento ao mesmo tempo perverso e eficaz: paga moradores do Coque, uma comunidade pobre dos arredores do Cais José Estelita e que será uma das mais afetadas, para formarem uma claque a favor do projeto. O procedimento é revelado pelos realizadores, quando passam a interpelar as pessoas que descem dos ônibus privados estacionados próximo ao auditório onde ocorrerá a audiência. Perguntam sobre a pauta do encontro, os motivos de estarem ali, se conhecem o projeto Novo Recife. As respostas dos entrevistados vão evidenciando que aquelas pessoas não estão engajadas no debate sobre o Novo Recife. A narrativa do filme então tentará produzir uma reflexão em torno desse evento – como lidar com as contradições desse acontecimento?
O gesto de ir até essas pessoas e indagá-las serve para estabelecer o dissenso, desestabilizar a imagem encenada para as câmeras da mídia corporativa. No entanto, o gesto dos realizadores e de outros ativistas de conversarem com os participantes da audiência, que vieram nos ônibus privados, é igualmente complexo. Está em operação uma trajetória histórica, diferenças de classe, de cor, de gênero. Logo, a busca por um diálogo se transforma em conflito com a ação de líderes comunitários que se engajam em demonstrar oposição ao Ocupe Estelita para as câmeras. O conflito ganha contornos mais expressivos já antes do início da audiência, quando um dos líderes comunitários responde a esses contatos puxando uma vaia para o Estelita. Essa reação parece legítima em sua aparência, tanto quanto a intransigência de militantes do movimento em discursos afirmativos.
A investigação do espaço exterior à audiência, quando os militantes pró e contra o Novo Recife se misturam, indica as contingências históricas desse tipo de contato. Não há espaço e não há tempo para produção de relações mais horizontais. Isso vai permanecer nas falas na audiência, quando os presentes expressam discursos prontos a favor e contra o projeto. As superfícies identitárias entre brancos e pretos, pobres e ricos, são o suficiente para a mídia corporativa fazer uma foto e uma legenda, estabelecendo a desconfiança e a suposta ilegitimidade do Movimento Ocupe Estelita.
O gesto de Audiência pública (?) para animar essa complexidade é se voltar para as imagens. Também no sentido histórico, daí a apresentação de imagens de um outro tempo no início do filme. É preciso atravessar a imagem atual na direção de um passado histórico sobrevivente. Mas é no trânsito entre as imagens, que são levadas até a comunidade do Coque para uma sessão de análise, que o filme articula essa potência histórica com o presente. Os depoimentos realizados nesse visionamento coletivo do material servem para revelar a engrenagem por trás da ida de moradores do Coque e a ação de um líder comunitário submetido ao capital imobiliário. Esse movimento de levar as imagens pressupõe uma busca por novas alianças possíveis. E essas relações possíveis se estabelecem a partir de um transbordamento das imagens. No esforço de partilha das imagens e também nesse contato de presenças com estas imagens, se busca a produção de uma outra coletividade.
***
Um levante é geralmente um acontecimento pontual. Tem um fim. Seu fracasso é parte intrínseca de sua definição. Consequentemente, mesmo que um levante não atinja seus objetivos, ele “entra para a história”, o que em si já é uma realização, um evento discursivo com repercussões afetivas. (…) Um levante sempre cita um outro e é animado por imagens e narrativas do anterior (JUDITH BUTLER em Levante, 2017).
Mesmo diante do êxito do Ocupe Estelita em barrar a construção do Novo Recife, muitas das ações diretas articuladas pelos movimentos sociais contemporâneos não produzem um resultado mais imediato quanto à pauta de reivindicação. Outras ações, mesmo que eficazes, não recebem tanta visibilidade ou simplesmente são esquecidas. Nesse sentido, a memória é uma ferramenta não só de narrativização, mas de reconfiguração do presente. Os filmes produzem, portanto, um lugar também conceitual, movimento de produção de lugares de memória, uma memória urgente, em diálogo com o espaço, em contato com os corpos. Isso permite novos encontros, outras intervenções possíveis mesmo que em outra temporalidade. Os corpos podem passar, mas esse lugar da ocupação permanece.
Nessa perspectiva, concordo com a proposição do Comitê Invisível de que não é o povo que produz o levante, é o levante que produz seu povo. Consequentemente, não são os autores que produzem os filmes num cinema de ocupação, mas os filmes é que produzem seus autores. Cada gesto cinematográfico contido na disputa pelo direito à cidade funciona como dispositivo organizador das subjetividades daqueles envolvidos na produção. Assim, o processo de produção e construção narrativa não se volta apenas para um exterior, mas também para os grupos mobilizados nessas ações. Os gestos dos filmes funcionam para deslocar subjetividades e transformar sujeitos dentro e fora. Os filmes integram-se, portanto, em circuitos de afetos, produzem coletividades.
Um cinema de ocupação é necessariamente influenciado pelos dispositivos organizadores da presença no espaço – ou seja, as formas de agenciamentos coletivos da ocupação. Um desses dispositivos é a assembleia. Conceitualmente, não há uma hierarquização preestabelecida numa assembleia. No entanto, o que se discute nela não necessariamente se materializa na ação desejada. De tal forma, que a força não está depositada nos filmes e nas ações já realizadas, mas nas ações que esses gestos ensejarem. Ou seja, naquilo que pode ser feito daqui em diante.
No âmbito do cinema, continuam a surgir produções que questionam o modelo de produção de cidade, como por exemplo O grande clube (2016), #ForaPresídio (2017) ou Quem mora lá (2018). Na dimensão da mobilização social, as ações organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto – MTST, como a ocupação Marielle Franco, que deu vida a um prédio abandonado no centro da cidade, e os debates sobre a revisão do Plano Diretor da Cidade, organizadas pela Articulação Recife de Luta, só demonstram o quanto a luta pelo direito à cidade está ativamente se reinventando.
Um cinema de ocupação visa intervir nas subjetividades, nas sensibilidades. Ou seja, também deseja disputar a narrativa. Mas para isso não há uma fórmula que coloque o resultado em visualizações ou em audiência como um fim em si mesmo. O trajeto é tão importante quanto o objetivo final, de tal maneira, que a narrativa está permanentemente conectada com a memória e com a reconfiguração do presente.
Um cinema de ocupação não tem modelo. As linhas de força reconhecidas neste texto são também potências, gestos que engendram outros gestos. Não há um manual para realização do cinema de ocupação, uma vez que se faz na prática do encontro, do contato e do contágio.
Um cinema de ocupação nunca é. Um cinema de ocupação soma, ou seja, torna-se sempre aquilo com o qual se associa. Um cinema de ocupação vai junto a uma luta.![]()
PEDRO SEVERIEN é realizador audiovisual, pesquisador e ativista. Colaborou com este texto Cristina Teixeira Vieira de Melo, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE.