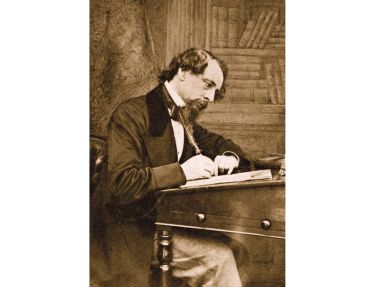Imagem Karina Freitas
O conto é um vértice de ângulo da memória e da imaginação. A memória conserva os traços gerais, esquematizadores, o arcabouço do edifício. A imaginação modifica, ampliando pela assimilação, enxertias ou abandonos de pormenores, certos aspectos da narrativa. (...) É preciso que o conto seja omisso nos nomes próprios reais, localizações geográficas e datas fixadoras do caso narrado no tempo. (...) Os contos variam infinitamente, mas os seus fios são sempre os mesmos. A arte de narrar vai dispondo-os diferentemente. E são incontáveis e com a ilusão da originalidade.
O texto acima não foi escrito por Ricardo Piglia, refletindo sobre a arte de escrever. Ele está no prefácio dos Contos tradicionais do Brasil, livro de 1946, de Luiz da Câmara Cascudo. Refere-se, portanto, à narrativa oral. Ao estilo dos velhos contadores de histórias, eu o editei, retirando a palavra popular, deixando que o leitor imaginasse que se tratava de mais um ensaio sobre a narrativa contemporânea.
Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Câmara Cascudo e alguns intelectuais brasileiros achavam que no Brasil ainda não havíamos resolvido a questão entre a oralidade e a escrita. Na época em que a discussão estava levantada, mais de meio século atrás, o Brasil era um país de muitos analfabetos. Hoje, ainda temos os analfabetos funcionais, pessoas que não são capazes de compreender e interpretar o que lêem. Portanto, vivemos num país fortemente vinculado à narrativa oral, mesmo que não se trate mais de contar histórias de encantamento, de exemplos, facécias ou adivinhações. Reconhecemos a presença da oralidade nos escritores referidos e também em Jorge Amado, José Lins do Rego e em Graciliano Ramos. De que modo ela ainda se manifesta na nova geração de escritores?
A narrativa oral sempre foi associada às pessoas que vivem no interior do país, como se os centros urbanos não possuíssem uma oralidade própria. A partir do fim da Segunda Guerra, quando se inverteu a densidade demográfica brasileira, o campo se esvaziou e as cidades incharam, chegando-se aos últimos dados do IBGE: 85% de moradores nas cidades e apenas 15 % na zona rural. O problema levantado por Cascudo, Mário e Rosa parecia resolvido: Bom, não existe mais campo, apenas a cidade e suas periferias, portanto, a narrativa oral morreu, já se acabou e está resolvida a questão. Estará mesmo? Talvez o nosso preconceito com a literatura oral, imaginando ser a produção de camadas incultas do povo, nos impeça de refletir com mais serenidade sobre essa matéria antiga. Não precisamos desejar como Jorge Luis Borges que a escrita retorne ao estágio de oralidade, podendo ser lida em voz alta. Basta dar a cada uma das formas narrativas seu devido lugar e valor.
Tenho escutado a fala de vários escritores. Alguns buscam escrever distanciados de uma geografia pessoal, de nacionalidade, engajamento político ou causa. Essa procura de universalidade tem levado esses escritores a paisagens estranhas aos lugares onde nasceram e vivem. Os deslocamentos lembram a mobilidade e a falta de raízes das histórias populares de tradição universal: é preciso que o conto seja omisso nos nomes próprios, localizações geográficas e datas fixadoras do caso narrado no tempo. Um mesmo objetivo em comum? Mas também há ritmo, vocabulário, gíria, modos de construir falas e musicalidade nos autores urbanos, sobretudo nos mais periféricos, reconhecendo-se a influência de uma narrativa oral, que denuncia quem eles são e de onde vieram. Muitos poetas e escritores se afinam com outras premissas do conto popular, que revela informação histórica, etnográfica, sociológica, jurídica e social; um documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidade, decisões e julgamentos. Buscar lugares diferentes como cenário é tão antigo, Shakespeare praticava isso ao escrever comédias e tragédias ambientadas na Itália, na Dinamarca ou na Inglaterra, embora seus dramas se ocupassem da eterna questão do humano.
Meus escritos quase sempre remontam a um mesmo lugar, o sertão. Embora os personagens trafeguem por Nova Iorque, Toulouse, Paris, Londres, São Francisco, sintam-se deslocados, não pertencidos, eles retornam para onde os seus umbigos foram enterrados. De tempos em tempos surgiram livros sobre o sertão, marcos a partir dos quais seria necessário inventar um novo modo de chegar ao Brasil profundo, às terras de trás. Desde o romântico O Sertanejo, de José de Alencar; passando pela crônica da Guerra de Canudos, no Os Sertões, de Euclides da Cunha; migrando com os retirantes de Vidas Secas, de Graciliano Ramos; reinventado em idioma, poesia e metafísica no Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa; mítico e épico no O Romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Através desses escritores e de muitos outros, o sertão se criou e se desfez, ganhou concretude e transformou-se em assombração.
Com Galileia, romance de 2008, tentei plantar novo marco, fincar um mourão nas terras secas do universo sertanejo, inventando um pós-sertão, pós-pó, periférico e arruinado. Sim, eu havia frequentado uma universidade formal, mas bem antes eu me formara dentro de uma rica cultura de tradição oral, na academia sertaneja dos Inhamuns e do povo caririense de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, com mestres analfabetos, que praticavam o hábito de pensar. O meu projeto de escritor não abria mão de nada do que eu ouvira e aprendera. Não seria eu a resolver os impasses entre a tradição oral e a escrita. Desejava apenas torná-los mais agudos e dilacerados. ![]()
RONALDO CORREIA DE BRITO, escritor.