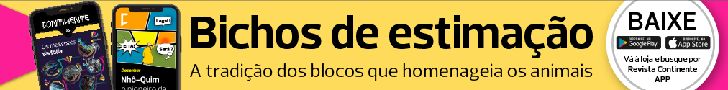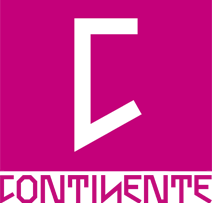Morto não fala, mas diz muito
Baseado no conto homônimo do jornalista policial Marco de Castro, 'Morto não fala' explora a violência e a questão de classe no Brasil
TEXTO Augusto Tenório
16 de Outubro de 2019

Daniel de Oliveira como Stênio em 'Morto não fala'
Imagem Divulgação
Os lamentos dos cadáveres que chegam a uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) da periferia de São Paulo podem ser ouvidos em Morto não fala (2019), obra que marca a estreia de Dennison Ramalho nos longa-metragens. Engana-se, porém, quem parte da premissa de que o terror reside apenas no suspense ou na plasticidade dos órgãos e sangue dos que já partiram: o filme costura com as mortes e discursos que perpassam a narrativa o recado de que o Brasil é um país violento, no qual a morte tem classe social favorita e essa classe mata, morre e não se surpreende com a tragédia dos seus iguais.
O longa, baseado no conto homônimo do jornalista policial Marco de Castro, conta o drama de Stênio, plantonista noturno do IML que possui o dom de conversar com os cadáveres. Os corpos que chegam à unidade possuem, quase todos, a mesma história: são de comunidades e perderam a vida de maneira violenta. O personagem interpretado por Daniel de Oliveira vive em uma dessas comunidades e, por fazer parte desse ambiente, quebra mais uma barreira de comunicação. A tranquilidade desta rotina de sessões de conversas com os mortos é interrompida quando um deles revela a Stênio um segredo sobre sua família, levando tragédias para a casa do plantonista por causa da quebra de uma regra inviolável no contato com o mundo dos mortos.
O drama, contado do começo ao fim sob uma fotografia de luz verde-escura, é incessante com a violência. Ela se faz presente, inicialmente, com a naturalidade da apresentação da habilidade de Stênio. Não há explicação nem introdução: acontece de forma nua e crua, diante de um morto que acaba de ser costurado pelo plantonista que comanda o “lava-rápido de peru”. O nome informal da ala é reflexo do fluxo de mortes na periferia e do destrato dos funcionários com os corpos que chegam ao local, que mesmo após a morte são alvo de piadas com as possíveis causas dos óbitos.
Para além da violência plastificada nas entranhas e no sangue, ela também se faz presente na banda sonora, que inclui as transmissões de rádio e TV que fazem parte do filme, trazendo notícias de tiroteios, mortes e até pregações agressivas de neopentecostais. A violência maior, porém, talvez seja construída na rotina de pobreza do protagonista, que mesmo levando uma vida com sufoco financeiro, se sujeitando a salário atrasado, dívidas na mercearia e convívio conflituoso com sua família, não larga o emprego.

Morto não fala também aborda drama familiar de família pobre. Imagem: Reprodução
Toda a problemática social canalizada por Stênio e potencializada pelo seu dom de conversar com os mortos conduz o público a um acompanhamento quase dostoievskiano da construção de uma mente atormentada pelos seus erros e pela miséria que a cerca, seja ela sobrenatural ou não. A formação dessa tensão, atravessada pelas violências simbólicas conduzidas por Dennison Oliveira com ritmo único, culmina em reações físicas que vão além do susto, se tornando emocionais à medida que o filme nos aproxima do personagem de Daniel de Oliveira. A imersão na narrativa só é quebrada pela escolha técnica de computadorizar a atuação dos personagens falecidos nos rostos dos mortos, o que pode causar incômodo.
Encontramos em Morto não fala um filme de gênero que utiliza o terror como ferramenta de denúncia, e, nesse sentido, torna-se difícil medir até que ponto o incômodo da expressividade dos mortos é proposital. Pode-se notar, porém, que a atuação de Daniel de Oliveira impulsiona Stênio para um patamar expressivo que quebra o estereótipo do funcionário calejado e frio do Instituto Médico Legal. Destacam-se também as atuações de Fabíula Nascimento (Odete), Bianca Comparato (Lara) e Marco Ricca (Jaime).
VICTOR AUGUSTO TENÓRIO é estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco e estagiário da Revista Continente