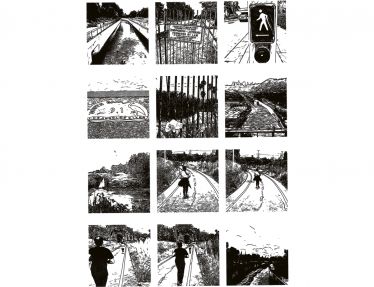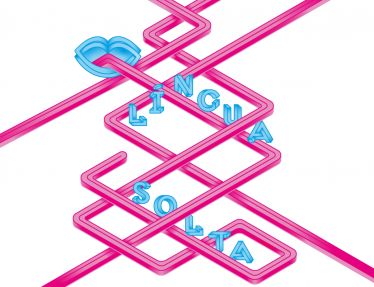
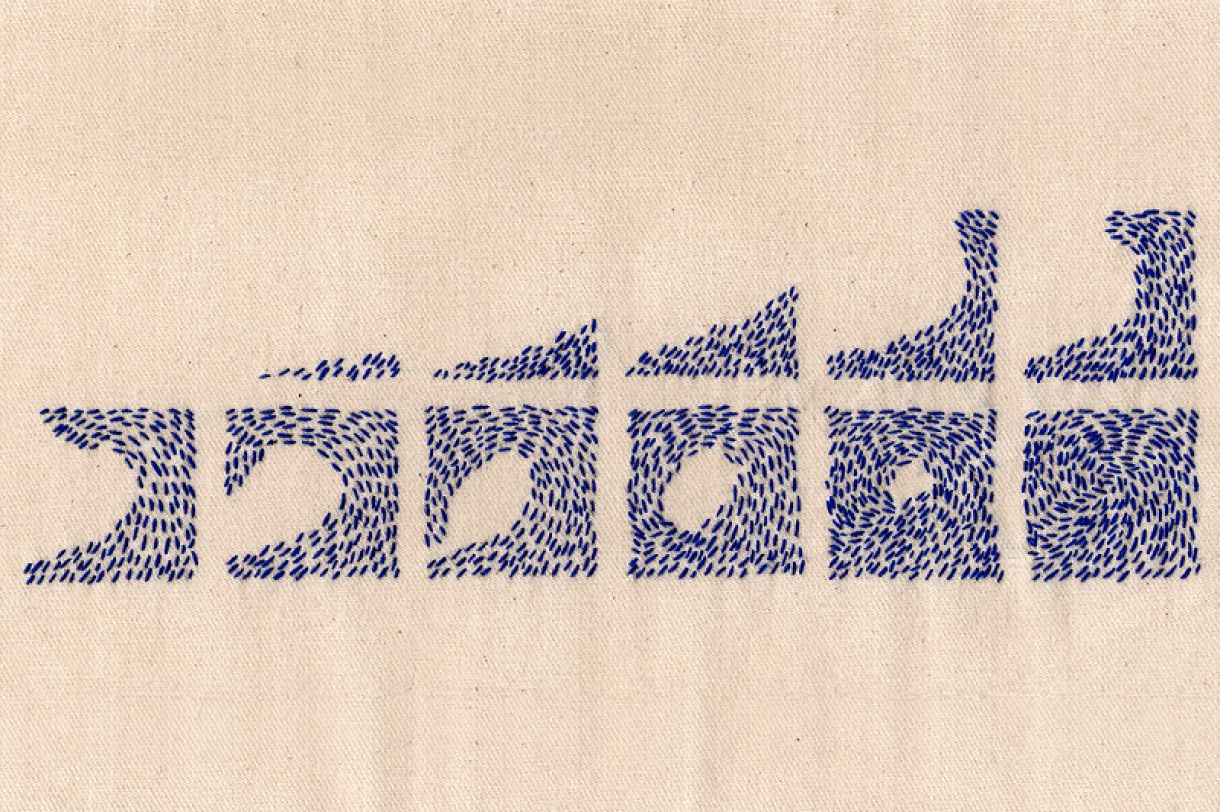
ILUSTRAÇÃO Filipe Aca
[conteúdo exclusivo Continente Online]
Antes das seis, já escurece. Eme conta sobre o treinamento que fez para aprender a não se afogar. Sugar and violence, tosse a voz do homem de camiseta grudada no corpo. Achamos ele tão bonito cantando na tevê. Nem parece que tem suor, Eme diz. Sugar and violence: morrer aprisionada não era um desejo que se dissesse em voz alta. Mas já haviam passado 21 dias desde que abandonamos o açúcar, e por isso continuamos. De choque, o tratamento, com cara enfiada na água, ela diz. Nunca havia imaginado a água como contenção. Penso se não estamos ambas sem previsão de entrega à superfície, mas não falo.
Eme conta que havia entre os dedos um botão, campainha de emergência, fosse o caso de não sustentar o sufoco. Eme tem olhos cansados de tela e mal me olha enquanto conta coisas grandes como se fossem bobagens. Dá risada quando diz que tentou apertar, mas o pulso vacilou, a mão inteira água-viva se debatendo como voz que não sai. Penso nas frases que estancam na curva do precipício, quando o abismo é alívio e, as palavras, mortalhas da apatia: mergulho solto, expressão. Penso que eu também já tive entre os dentes um pedaço de riso e, entre os dedos, um botão, que não consegui apertar.
Nós duas, distanciadas na mesma sala, viciadas em engolir dopamina sob livre pressão, doses maiores do que escolheríamos: Eme, eu, marionetes, algoritmadas, inventando linhas narrativas para cocriar um susto no silêncio. Eme desativou todas as notificações depois de ter reiterada a crença de ser manipulada quando distraída. A água subindo à cabeça pelo meio do nariz, os batimentos muito rápidos, mais fortes e então muito devagar ficando fracos, o fundo inteiro mundo, abrangendo o fio gasto que é o corpo, um trapo que começa a apagar a vida – e na quase-morte parece ter sido sempre assim: o céu e os arredores e tudo que alcança o olho: sempre espelhado, tons claros, luz incidente que vem de um céu logo ali, mas tão logo longe. O afogamento não tem som.
Tiro dos dedos os botões do celular, penso: ainda que ninguém veja, existo. Penso nas noites em que misturo ovos e como sozinha, à luz amarela da luminária, à luz amarela das gemas, espelhadas como me afogasse também. Não ser vista é também uma experiência de quase morte. O corpo todo esfria de uma vez, Eme prossegue, mas sente que dentro tudo é quente, uma pressão de espirro sobe ao canal do meio do nariz enquanto o líquido toma feito tapa de mão aberta a região frontal do rosto. Aí então sobe, inundando a cabeça. Essa noite tomei banho antes de escurecer, ainda antes das seis. A água quase irrompendo queimaduras: a sensação mais próxima que tenho tido de toque, ou de gozo, ou de morte. No meu corpo a marca da meia que apertou a canela enquanto eu corria na Pacaembu às quatro me pede esfregar até que se tire fora o que já não é pele. Até que a quase morte seja levada pela água.
Me reconheço embaçada no vidro da sala. Me vejo dentro à janela, redoma protetora, abrigo que de vez em quando me incentiva, que de vez em quando me vê de cima, no chão, contando céus imaginários. Sempre observo distantes as luzes acesas. Sou muito acostumada com sombras, mas nunca soube se, um dia ou outro, já me olharam de volta. Fumaça do vapor, dentro, e fora a fumaça centro-oeste, abandonada, pedindo desesperada abrigo na cidade feia. Penso em todos os amores que tive. Penso em todos os tempos quando o amor foi fumaça. Nunca menosprezei as convulsões do fogo. E tudo que é físico me dá ânsia.
Eme agora me conta sobre a areia. Não consigo me lembrar da textura. Ela elabora o encontro seco depois do afundamento, depois de voltar à terra do corpo, rapé secando a água, aterrar, de fato. É estímulo corrente, como o sangue, ela diz, mas áspero. Escorre vermelho feito tempo. Feito pedra espancada até virar grão. Estudando espanhol, aprendi: “la sangre” é palavra feminina. Eme finalmente compreende, sei porque me olha. Apáticas há tanto, mas juntas ainda em 21 dias últimos, estudando enredos possíveis para nos entretermos, criando obsessões ainda sem soltarmo-nos – rostos n'água, fumaça em vertigem –, ainda sem saber a diferença entre autodisciplina e abnegação.
Hey, Playgirl, canta a mulher de cabelo metade branco, metade preto, o rosto quadrado, vestindo uma combinação de cores feliz aos meus olhos, cover de Ladytron. Achamos ela tão bonita cantando na tevê. Why are you living in tomorrow’s world, playgirl? Xarope de açúcar no gim, o suor na camiseta branca, a violência dos encontros, Eme e eu, por um fio, por um corpo, disposto à água – mas ainda aqui. Quando nada acontece, uma frequência contínua, átomos desconjuntados, um reto quente, batidas em vacilo, a neblina, uma linha de costura – elástica, adstringente – me conecta a Eme. Sei e sabemos, porque já não nos assustamos uma com a outra. Porque nos é fácil construir narrativas, ainda que nenhuma seja nossa. Porque nada mais nos interrompe, e, no entanto, continuamos aqui.
GABRIELA SOUTELLO é escritora, ganhadora do Prêmio Mix Literário 2019 com o seu livro de estreia Ninguém vai lembrar de mim (Pólen Livros).