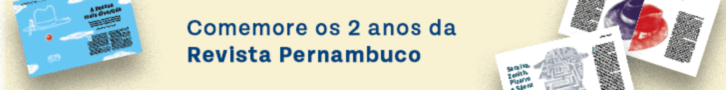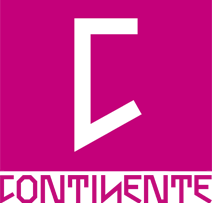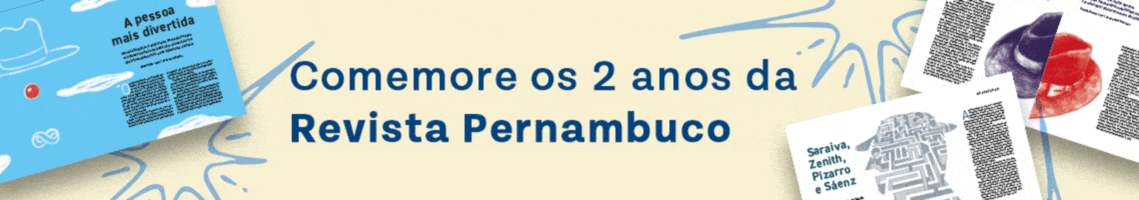Uma tragédia no Recife
Romance de Altemar Pontes, 1975 – Recife afundou em silêncio reimagina a grande enchente que inundou a capital pernambucana
TEXTO Mario Helio
10 de Julho de 2025

Foto Divulgação
No Brasil não é comum que os profissionais da tecnologia exerçam também uma vocação para as letras e as artes. O escritor e empresário da tecnologia Altemar Pontes representa uma exceção. Sua carreira no software e no hardware começou na adolescência, sob os auspícios de Belarmino Alcoforado, nas já remotas Elógica e Corisco. Depois, fundou com os irmãos a própria empresa, que lidera até os dias atuais.
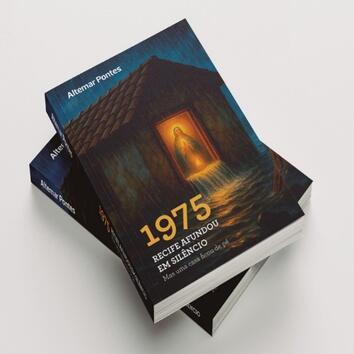 Paralelamente às atividades que sempre exerceu no mundo das ciências e tecnologias da informação, ele escreveu textos que foram premiados, fez exposições de arte. Depois de um longo intervalo sem publicar nada como contista, cronista ou poeta, ele regressa ao mundo das letras para celebrar uma catástrofe. Sim, os 50 anos da enchente terrível que abateu o Recife, em julho de 1975. Apesar de ter havido muita pesquisa para construir o novo livro, não é a história que ele conta, mas as estórias sob a forma de um romance. O título dá quase para um poema lírico: 1975 – Recife afundou em silêncio. Mas o que realmente lhe interessa: tomar o acontecimento como pretexto estético. Partindo dos momentos dramáticos em que a cidade afundou-se no desespero e, assim, contar a história de pessoas comuns, numa narração tão fácil de ler quanto de gostar. A noite de autógrafos vai acontecer no Museu do Estado, no dia 17 de julho, às 19h.
Paralelamente às atividades que sempre exerceu no mundo das ciências e tecnologias da informação, ele escreveu textos que foram premiados, fez exposições de arte. Depois de um longo intervalo sem publicar nada como contista, cronista ou poeta, ele regressa ao mundo das letras para celebrar uma catástrofe. Sim, os 50 anos da enchente terrível que abateu o Recife, em julho de 1975. Apesar de ter havido muita pesquisa para construir o novo livro, não é a história que ele conta, mas as estórias sob a forma de um romance. O título dá quase para um poema lírico: 1975 – Recife afundou em silêncio. Mas o que realmente lhe interessa: tomar o acontecimento como pretexto estético. Partindo dos momentos dramáticos em que a cidade afundou-se no desespero e, assim, contar a história de pessoas comuns, numa narração tão fácil de ler quanto de gostar. A noite de autógrafos vai acontecer no Museu do Estado, no dia 17 de julho, às 19h.
Altemar Pontes não é um neófito na literatura. Há mais de trinta anos, foi revelado como autor em obras coletivas. Depois, sozinho, lançou a poesia de Mácula, resquícios e máscaras (1996) e os contos de Retalhos (1997).
Sua estreia como contista tinha-se realizado alguns anos antes, em 1989, como cronista, na obra coletiva Livro de crônicas: Jovem escritor (Editora: Nova Dimensão - Porto Alegre/RS. Reuniu os vencedores do Concurso Nacional para secundaristas: Jovem Escritor, da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul). Quatro anos depois, volta a figurar numa antologia: Contos de tantos (Editora Alcance, Porto Alegre – RS –, 1993).
Nesta entrevista exclusiva à revista Continente, Altemar Pontes fala sobre o seu novo livro: 1975 – Recife Afundou em Silêncio, que será lançado no próximo dia 17 de julho, no Museu do Estado. Faz também um balanço de sua trajetória literária e existencial.
Conte um pouco sobre a sua trajetória pessoal, profissional e literária, com ênfase no seu interesse por tecnologia, artes visuais e literatura.
Sou resultado de muitas linguagens. Minha trajetória — pessoal, profissional e literária — sempre orbitou entre palavras, imagens e sistemas: suas lógicas, falhas e formas de expressar o indizível.
Nasci em Goiana, interior de Pernambuco. Por lá, o poliovírus ainda circulava de forma selvagem, e fui acometido pela poliomielite, por volta de um ano de idade. Muitas crianças não resistiram. As que sobreviveram, como eu, carregaram não só sequelas físicas, mas o peso do medo alheio. A desinformação, mãe de muitos temores, nos cercava. Havia receio do contato com os sequelados, um aviso constante das consequências que ninguém queria para os seus filhos. Por muito tempo, meus amigos eram só parentes. Os outros, eu imaginei. E foi com esses amigos imaginários que comecei a conversar, pouco depois decidi escrever para eles. Usava o caderno da escola como casa para essas vozes invisíveis.
Aos cinco anos, minha família mudou-se para o Recife, no bairro de Tejipió. No recreio, virei passatempo dos valentões que me empurravam só para ver de que lado eu cairia, a graça era que eu sempre caía para o lado direito. Foi duro; no entanto, também formador. A literatura surgiu como sobrevivência, como estratégia de silêncio e escuta, até que, na adolescência, aprendi a me posicionar, o intelecto era uma força superior ao braço. A realidade mudou; porém, as palavras ficaram. Tornaram-se casa.
Na Escola Técnica Federal de Pernambuco descobri em mim o gosto pelas exatas. A lógica das coisas me fascinava. A tecnologia entrou pela porta da curiosidade e nunca mais saiu. A faculdade veio, formei-me profissionalmente entre códigos de computação, manutenção de equipamentos e sistemas de informação. Descobri que a tecnologia também tem linguagem, gestos e um certo lirismo.
Hoje, vejo minha trajetória como um tecido em que palavras, imagens e sistemas estão costurados com o mesmo fio. Sempre me interessou o ponto de interseção entre esses campos: como a poesia pode habitar uma tela, como uma imagem pode provocar um texto, como um software pode contar uma história que a narrativa dificilmente alcança. Essa mistura não é apenas técnica ou estética — é afeto. É assim que enxergo minha escrita: atravessada por códigos, sensibilidades e sobrevivências.
Poesia e prosa. Gosta de cultivar os dois gêneros ou se sente mais à vontade na prosa?
A poesia é minha casa — hoje, cada vez mais intimista, mais silenciosa, algo que resolvi guardar para mim. A prosa, por sua vez, é meu quintal com vista para o mundo; onde posso convidar outros olhares a caminhar comigo, quem sabe até noutra pele.
Gosto de transitar entre os dois gêneros. Ainda assim, a poesia é sempre o lugar de origem, mesmo quando se disfarça de parágrafo. Em 1975 – Recife Afundou em Silêncio, por exemplo, há um lirismo que sustenta a narrativa. As cenas têm ritmo, as falas têm melodia, e as pausas dizem tanto quanto os gestos. A musicalidade está ali, mesmo quando a forma é narrativa.
A prosa, no entanto, me oferece liberdades que a poesia por vezes cerceia: posso expandir vozes, cruzar personagens, sustentar atmosferas, brincar com o tempo e a inquietude das lembranças.
Escrever ficção é, para mim, uma forma de acolhimento. É catarse. É poder imaginar pessoas, suas histórias, seus medos e expectativas — e assim em nome delas indagar o mundo sem me colocar diretamente em xeque. Convido o leitor a refletir comigo, mesmo que discorde, mesmo que veja outra camada, que ainda não me dei conta. Isso é o que me move: escrever para que o outro também tenha a oportunidade de se rever.
Tenho me dedicado a uma escrita cada vez mais cinematográfica. Quero que o leitor experimente o ambiente — sinta o cheiro, o calor, a umidade — como se tocasse a cena. Talvez, juntos nesse espaço sensorial, possamos viver melhor a pele dos personagens. E compreender, de forma mais encarnada, o que eles tentam sussurrar, vez por outra.
O que há de atraente na temática das cheias de 1975 no Recife, além do fato de que faz data redonda de meio século?
O atrativo está, paradoxalmente, no esquecimento; diante de uma realidade que ainda se repete, em intensidades menores, mas insistentes. O convite a revisitar o passado é também uma alternativa de construir um presente com o que já deveríamos ter aprendido.
A enchente de 1975 foi uma das maiores tragédias urbanas da história recente do Recife — 350 mil desabrigados (cerca de um terço da população da cidade na época, segundo o IBGE), mais de uma centena de mortos — e, ainda assim, permanece à margem da memória coletiva. Dela pouco se fala. Quase nada se discute. É como se estivesse resoluta, e não mais estivéssemos à mercê.
O livro nasceu desse incômodo com o silêncio. E da urgência de escutar vozes que nunca foram ouvidas — mães que perderam filhos, crianças que cresceram na lama, casas que resistiram ao afogamento literal e simbólico.
Como escrevo no prefácio:
“Ao nascer dentre as águas, o Recife mirou-se demais no Capibaribe e, ao invés de enxergar o futuro, ficou preso na moldura do espelho. Chamaram-na de ‘Veneza Brasileira’, como se o título estrangeiro fosse proteção contra as marés que vinham de dentro. [...] Não! A tragédia não começou em 1975. Ela vem anunciada desde 1632, quando se tem o primeiro registro de uma cheia devastadora.”
As águas não leem decretos. Em 1973, prometeram redenção com a barragem de Tapacurá. Em 1975, a cidade foi traída — não pela natureza, mas pelas omissões.
Por isso, o livro não é sobre a enchente: é sobre os silêncios que a antecedem e a resistência que a sucede. Escrevê-lo foi, antes de tudo, um gesto de escuta e memória. Porque o Capibaribe ainda corre. Porque a cidade ainda esquece. E porque há feridas que só cicatrizam quando alguém tem coragem de contar de onde veio o corte.
Você estreou cedo como autor, inclusive sendo premiado. Por que tardou tanto do seu último livro publicado a este agora?
A vida me escreveu mais do que eu escrevi livros.
Entre uma obra e outra, desempenhei muitos outros papéis: projetos, estudos, demandas práticas e afetivas — fui estudante, empreendedor, marido, pai, filho, irmão, como tantas outras pessoas. As urgências do cotidiano, por vezes, nos tomam de assalto o deleite, no meu caso o tempo da criação literária. Ainda assim, sempre estive perto da palavra, mesmo quando ela não estava impressa.
Contudo, publicar exige mais; exige entrega, disponibilidade e uma dor viva, latente, aberta. A enchente, o boato, a perplexidade, tudo isso abriu uma ferida.
A faísca veio há dois anos, numa conversa com amigos. Falávamos sobre o impacto das fake news, e um deles me contou uma experiência pessoal: ao ver uma multidão correndo, no alto dos seus 15 anos, saltou do ônibus em pânico, certo de que a barragem de Tapacurá havia se rompido. Não houve rompimento. O boato se dissipou em duas horas. Porém o pesadelo da enchente de quatro dias antes ainda estava vivo — como uma cicatriz que, sob ameaça, volta a sangrar.
Aquilo me atravessou. Fui investigar, revisitar e descobrir uma tragédia que não se resume à enchente, mas ao que ela revela: um Recife vulnerável; recifenses atônitos em dúvida de como seriam os dias seguintes depois de 48h de chuvas incessantes.
Fui arrebatado. E era isso que faltava, a vontade de contar uma história que me tomasse o sossego até a última frase.
Sua história de 1975 é um romance de autoficção?
Não. O romance nasceu de uma inquietação. Desde o início, meu exercício foi o mesmo: colocar-me naquele cenário e imaginar — como foram aqueles dias? Quis interiorizar a experiência dos que viveram aquelas semanas de dor e abandono. Teci a pele de pessoas que pudessem representar a estrutura social mais atingida da época. Gente invisibilizada, cujas histórias raramente ganham espaço ou palavra.
Há muito de mim em 1975 – Recife Afundou em Silêncio, entretanto não é minha história que está ali. É a história de muitas vozes, muitas dores, muitos que conheci e outros que intuí.
Se há algo de autoficcional, está na forma como me coloco diante da história — e não na literalidade dos fatos. O livro foi escrito com o desejo de emprestar minha voz a quem nunca pôde narrar a própria.
Algumas histórias só podem ser contadas quando há maturidade para escutar e coragem para sustentar o silêncio. Não acredito que elas possam ser emaranhadas às pressas. Há o tempo do barro, que assenta.