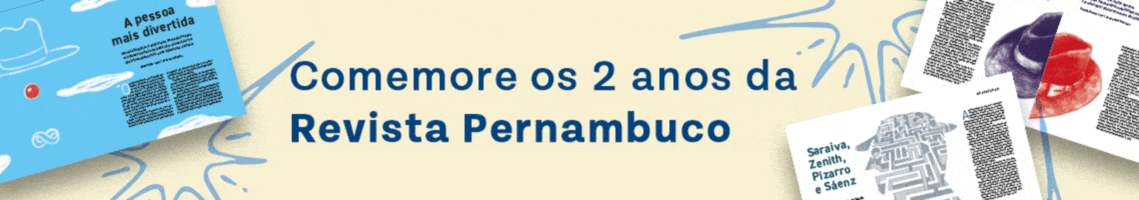O poder da escuta
De como 'Grande sertão: veredas', de Guimarães Rosa, merece nossa (re)leitura, sendo fonte inesgotável de sobrevivência ao nosso tempo – este do agora
TEXTO Flávia Suassuna
28 de Agosto de 2018

Ilustração Luisa Vasconcelos
Quando estou muito confusa e minhas ideias não conseguem dar conta dos fatos em redor, costumo pegar meu Grande sertão: veredas. Passeio por ele, lendo o que grifei, releio trechos, passo um tempo com o sábio João Guimarães Rosa... E isso me ajuda a entender e a saber o que tenho que fazer daí para frente. Esta semana, minha pressão subiu, passei uns dias fora do meu prumo e, então, peguei o livro, como faço sempre...
Ele me lembra de uma coisa que está muito esquecida, país afora: a nossa complexidade inominável. O jagunço Riobaldo (cangaceiro, aqui, diríamos), num monólogo ininterrupto, fala a um interlocutor que o escuta atentamente. E o que é essa narração? De início, um espelhamento de Os sertões, de Euclides da Cunha, já que ambos falam do Sertão. Mas Rosa obriga a classe dominante a ouvir a dominada, ao contrário de Euclides, que, ele mesmo, testemunha, de sua perspectiva de elite intelectual, o horror que foi cometido contra o arraial de Canudos naquele distante e próximo final do século XIX, tempo em que, talvez, também se passa o livro de João Guimarães Rosa.
Eis aí a outra lição que o Grande sertão: veredas (1956) nos ensina: a escuta atenta do outro; alguém (não importa quem) mais estudado e pertencente à classe dominante escuta, com atenção, aquele relato de experiências e descobertas. Devagar e amorosamente, João Guimarães Rosa aponta um novo patamar da inteligência brasileira, quando dá à classe dominada a envergadura humana, diferentemente de Aluísio de Azevedo em O cortiço (1890). Aluísio não deixa de denunciar injustiça social e econômica, não há dúvidas. Porém o faz dizendo que a pobreza animaliza as pessoas e as torna diferentes das mais ricas.
Não foi o que disse João Guimarães Rosa: Riobaldo é um homem, humano em tudo a que tem direito – ele pensa, analisa, escolhe, erra, elabora consequências, se reestrutura dentro de novas circunstâncias e relata tudo que aprendeu. Ele tem, portanto, todas as prerrogativas humanas, com os limites dele, é claro.
O livro de Rosa, que ninguém lê, é uma resposta ao nosso tempo: ele é longo, muito longo; ele é a história de uma escuta muito, muito atenta; ele nos obriga a uma leitura vagarosa, já que é escrito numa língua tão, tão própria do autor que não permite velocidade na leitura... Grande sertão: veredas é um livro difícil, principalmente para nós, habitantes deste tempo não só rico e “conectado”, mas também apressado e simplificador. É um livro que nos desafia a visitar o que há de humano em nós – nossas imperfeições, nossos erros, nossa dificuldade de pedir perdão e de perdoar. O personagem Riobaldo tem coragem de admitir o que é: um cangaceiro que gosta do que faz; que sabe do lugar perigoso que ocupa (tão perto do Mal...); que, por conta dessa proximidade, é capaz de quedar... Mas que se remenda, como diz, e prossegue no trajeto possível.
O Grande sertão: veredas, portanto, nos aconselha a não continuar seguindo sem nos escutar! Esses maravilhosos telefones precisam começar a servir a que vieram: para viabilizar melhor os nossos diálogos e nossas compreensões. E nossas tolerâncias. E nossos afetos.
Em nenhum momento do livro, João Guimarães Rosa apresenta apenas uma perspectiva de olhar o mundo e a vida: ele reconhece as dificuldades; obriga a ir devagar; convida ao exercício difícil do silêncio para viabilizar escuta; oferece o desmantelo do fundamentalismo simplista, um dos caminhos desta modernidade cega em que vivemos. O Bem, diz ele, não pode ser perseguido de “incerto jeito”; fazer isso, completa, “pode já estar sendo se querendo o mal, por principiar”. Ele indica, numa narração labiríntica como a vida, que a estada material não é um mero exercício de compras, nem um aproveitamento sequenciado de prazeres. Ela é um embate: não é fácil ser pessoa.
Todos somos como os cangaceiros de João Guimarães Rosa; a proximidade com o Mal sempre é uma ameaça contra a qual devemos lutar com todas as armas que temos (nossa Razão, nossa Arte, nossa Filosofia, nossos estudos de História, nossa difícil capacidade de Diálogo, nossos meios de comunicação...).
Não podemos desistir da utopia de nos entender cada dia mais.
Para isso é necessária a Palavra. A Palavra e suas circunstâncias inescapáveis: a expressão franca e verdadeira do Eu; a Escuta; a concordância ou discordância; o Respeito e, por isso, a Tolerância (Gandhi uma vez disse que não é preciso aceitar o que se tolera. Eu poderia enfatizar acrescentando que discordar não significa apagar, nem matar, nem desqualificar).
Não é o que vejo: ninguém escuta ninguém (estamos tão fascinados com nossas maquininhas que elas viram brinquedinhos que não estão nos levando a lugar nenhum, como previu Drummond); só se lê a manchete de notícias curtíssimas (pois, dizemos, não temos tempo); só se escreve para impor “uma” versão, ou para obter resultados em concursos, dizendo o que deve ser dito (sei lá o que isso significa); ninguém quer fazer o esforço de ler mais, analisar mais, pensar mais e conseguir se expressar acrescentando novos horizontes, novas utopias...
É como se estivéssemos abandonando o nosso posto de seres humanos, como diz Érico Veríssimo (de quem ninguém mais fala), num livro chamado Solo de clarineta. É como se abríssemos mão de nossas conquistas humanísticas, democráticas e constitucionais, as quais exigiram o sacrifício de tantos para que, neste tempo de hoje, vivêssemos e nos compreendêssemos melhor.
É preciso reconhecer que as redes sociais (a parte que cabe a cada um de nós no latifúndio da comunicação) não estão cumprindo a melhora que se quer da grande mídia: nelas, continuamos sectários, intransigentes, intolerantes e violentos. E sua rapidez nos mantém desinformados, pois seguimos sem pensar, sem ler e sem criticar. Devemos ser a pluralidade que exigimos; está em cada um de nós a inabilidade de se colocar no lugar do outro; a incompetência de ler nas profundezas e devagar um texto e a preguiça de assumir o tutano triste de nossa condição. Erigimos um império de tolices, e contra isso ninguém se insurge; a mídia é criticada por motivos variados. Mas não vejo ninguém questionando programas bobos e, às vezes, absurdos de competição esportiva, culinária ou musical (inclusive com exposição de crianças em situações inaceitáveis de avaliação). Todo mundo assiste! E, enquanto todo mundo assiste, a mídia vai mostrar, porque ela vive disso. Sua ambiguidade desconcertante repousa num fio de faca: ela não só manipula, mas também diz o que queremos ouvir.
Ninguém assume nada – sempre é o outro que é corrupto, mentiroso, errado, partidário. Isso pressupõe que “eu” nunca pratico nenhum ato ilícito, digo sempre a verdade e ajo, em todo caso, certo, com isenção e equilíbrio. A mídia está errada, o governo é omisso, todo político é corrupto, eu posso viver sem governo, sem Constituição, sem Leis... Sem nenhum projeto coletivo... É a ditadura fundamentalista do Eu, que meus alunos costumam atribuir ao capitalismo, não a si próprios, como se o capitalismo individualista existisse por si mesmo e não houvesse a contrapartida nossa de cada dia que o fortalece. A escola, dizem meus alunos, resolve tudo. Mas, nos entretantos do dia a dia, eles escolhem uma escola apenas funcional e, com telefones nas mãos, participam do jogo “só escuto o que quero escutar ou nem isso”. Pelo que entendo, uma escola reflete a sociedade em que está e pode mudar apenas a sociedade que escolha mudar.
Vendo tevê, outro dia, ouvi uma moça que disse:
− Não entendo nada, isso deve ser culpa da mídia!
Fiquei impressionada com o fato de que ela não pensou: “Não estou entendendo, preciso ler mais”.
Nessas redes sociais, somos todos jornalistas. E estamos achando que somos melhores do que “eles” (os jornalistas). “Todos eles” são vendidos, partidários e escondem interesses escusos. Solução? Matar ou agredir “todos” os jornalistas? Calá-los? Viver sem mídia? Travar as possibilidades de diálogo e se conformar com uma sociedade partida, em que cada lado só lê o que escreve? Como estamos nos informando? Não vemos tevê? Vemos o quê, na tevê? Estamos lendo? O quê?
Na verdade, acho que não estamos lendo é nada. E a culpa de quem é? Da mídia? Dos jornalistas? Da tevê?
No mesmo programa de tevê, vi um jornalista, trabalhando na rua, cobrindo manifestações, com medo, dizer:
− Aqui eu não tenho condições de distorcer a realidade... Sou um trabalhador...
Aonde vamos parar assim?
Está faltando literatura... Nessa “mídia”, também deveria estar colocado o texto que nos ajuda a fugir (porque “verdade” demais adoece e mata), a ver de outra perspectiva, a enxergar a trágica ontologia dos homens, a nos reconhecer como parte de uma aldeia chamada Humana, a criar laços, a montar novos sonhos e utopias... Grandes escritores (com licença da expressão), além de fotografar as incoerências de nossas sociedades, dão pistas sobre o que fazer com elas; oferecem-nos possibilidades de semear um futuro “que fala a nossa língua”, como diz Mia Couto. Apresentam-nos personagens por meio dos quais aprendemos a nos identificar com quem é diferente de nós e nos fazem parar – várias horas e vários dias – para olhar para nós mesmos e para (e com) o outro...
Riobaldo faz isto: narra, reflete, olha-se, assume-se;em nenhum momento, se exime de ser parte do grupo a que pertence; ele não é um promotor da verdade: conta a sua história, passada num tempo em que não se começara a estruturar o Estado de Direito brasileiro, e não esconde nada do que fez e do que viu – grupos armados, julgamentos arbitrários, assassinatos, pilhagem, chefias escusas... Naquele ramerrão, embora motivado pelo Bem, ele escolheu o Mal: numa encruzilhada, aonde ele chegou com suas próprias pernas − ele assume –, comprometeu-se com o Cujo e (coisas da vida), assim pactuado, tomou a chefia do grupo que venceu o Mal da narrativa, o Hermógenes. “Natureza da gente não cabe em certeza nenhuma”, diz João Guimarães Rosa, que acrescenta, noutra passagem: “O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come”.
“A perene, insuspeitada alegria de con-viver”, diz Drummond num poema sobre máquinas e homens, é uma descoberta que tem a ver com as nossas entranhas, ou seja, com a prospecção íntima possível de cada um, cada dia... Não nos é possível abrir mão de nós mesmos, nem viver sem o outro… Talvez seja essa a encruzilhada em que estamos. Pensar não pode significar viver num tribunal de acusação, em que o outro está errado, e eu estou certo.
Ariano Suassuna tem um poema lindo que fala da natureza das flores, as quais vivem seu “termo delicado e concedido”, comparada à dos homens, que vivem à sombra e querem o sol; se estivéssemos tranquilos, ele nos ensina, estaríamos presos ao destino das coisas e das flores, que não podem.
Nosso desafio, portanto, é esse verbo intransitivo de difícil: precisamos continuar aprendendo a poder. Nada que já construímos pode ser jogado fora – o Estado de Direito, Leis, Constituição, Democracia são conquistas irrenunciáveis. Daí para frente, às cegas, precisamos ir juntos, procurando, pois, como diz João Guimarães Rosa, “a Liberdade ainda é um pobre caminhozinho, no dentro do ferro de grandes prisões. Tem uma verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina; o bêco para a liberdade se fazer”.
FLÁVIA SUASSUNA é escritora e professora de Literatura.