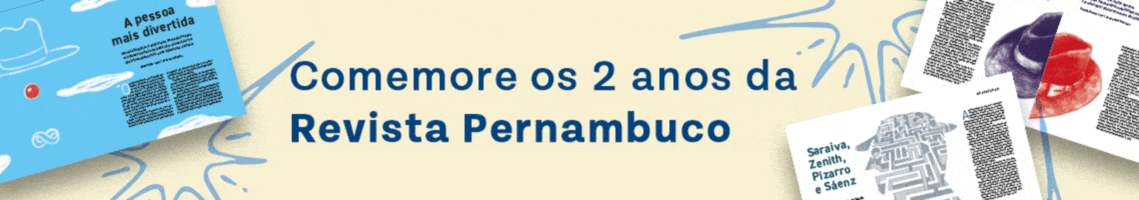Em casa: onde mais?
Uma reflexão, a partir da literatura e outras fontes, sobre os sentidos e as ambiguidades desse espaço onde devemos (ou podemos) estar neste momento
TEXTO Jonatas Ferreira
23 de Julho de 2020
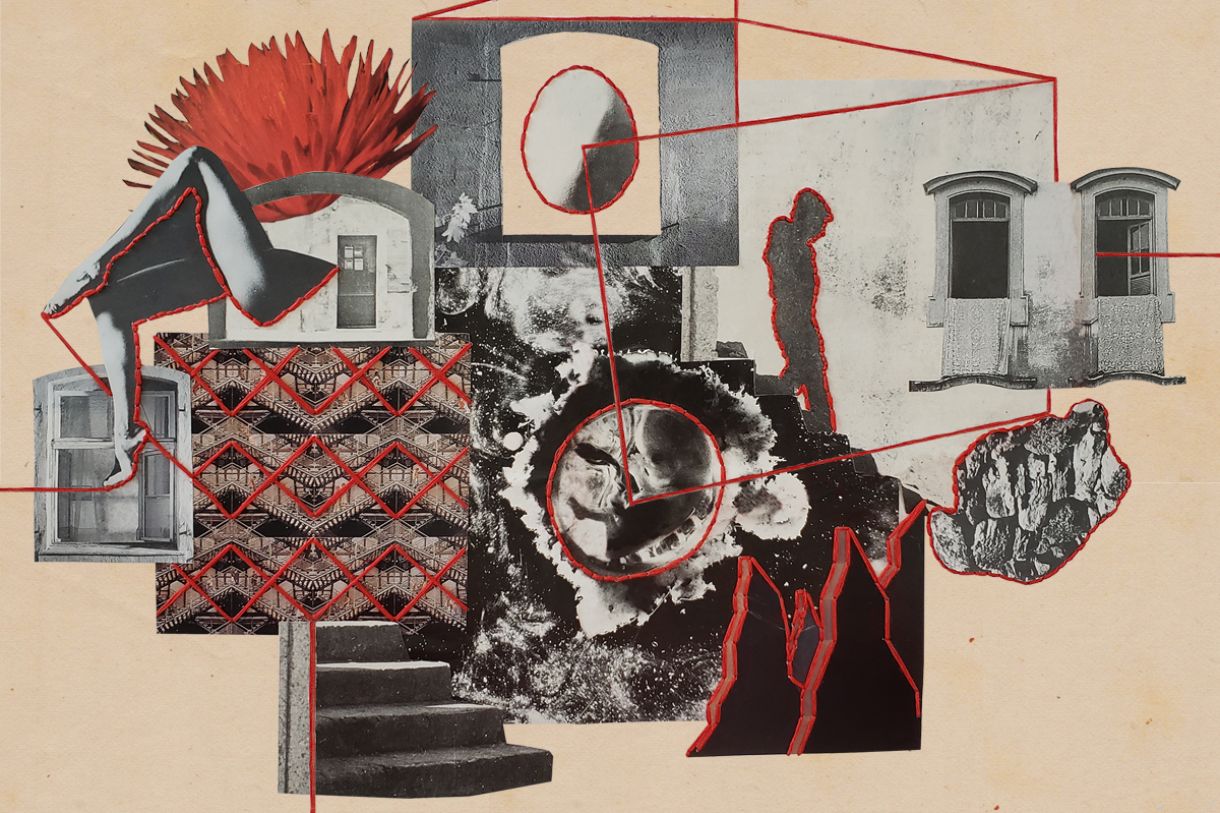
Ilustração Heloísa Marques
[conteúdo exclusivo Continente Online]
A casa onde estamos confinados demanda uma atenção especial. Meu desejo é apresentá-la aqui do modo como Manoel de Barros apresenta a tapera, a casa em escombros: como “a coisa mais nua” . Esse lugar onde muitos de nós, os afortunados, encontram-se confinados é precisamente o que nos falta compreender, caso queiramos penetrar na ambiguidade de sentimentos em que hoje vivemos. Assim, escrevo sobre a casa tomando os seus cacos, seus múltiplos compartimentos, aprendendo com Manoel de Barros, que viu na casa arruinada uma dimensão fundamental de nossa experiência no mundo.
No meio da ilha de Creta, havia um labirinto, havia esse projeto concebido por um artífice de prisões e de asas, Dédalo. No coração dessa construção, de engenho e de treva, urrava um monstro, filho da ligação erótica entre uma mulher e um touro. Não se entra nesse misto de casa e prisão sem um propósito, sem os devidos cuidados, sem consequências. Ao se aninhar dentro da vaca de madeira concebida pelo mesmo artesão para tornar possível o ato amoroso, Pasífae, a mãe do monstro, viveu a contradição de experimentar um ato ao mesmo tempo íntimo e público – pois todo invento, dildos, bonecas infláveis, vacas de madeira, é fundamentalmente coisa pública, por mais íntimos que sejam os desejos que o manipulem. Todo invento é libertação do desejo e confinamento. Assim são esses dois abrigos, o labirinto e a vaca de madeira: coisas dadas, localizáveis no tempo e no espaço, públicas; e também experiência íntima, duração (durée), para quem os habita. Essa é uma primeira ambiguidade que a casa nos apresenta.
A casa é o lugar onde desejos inconfessáveis são encobertos e, por fim, revelados – pois o pudor, assim como os tabus, só são operativos quando eventualmente ultrajados. Não é o incesto a rachadura que faz trincar e, por fim, soçobrar a casa de Usher? Tal interpretação é proposta por Julio Cortázar em sua maravilhosa releitura do conto de Poe, lembra-me Sidney Rocha. Nenhuma domesticidade pode nos defender da invasão que é a própria civilização: isso perceberá o casal de irmãos desalojados do lugar onde ferem a civilidade, em Casa tomada ; ou ali mesmo sepultados, em A queda da casa de Usher . A essa última, à famosa casa de Poe, também volta Clarice Lispector no conto A mensagem para falar da angústia, do desassossego que implica amadurecer e procurar abrir essa mensagem incompreensível que é existir, habitar o mundo. Temas relevantes, sobretudo no momento em que o direito à privacidade e à autodeterminação parecem balizar algumas discussões de como lidar com crises sanitárias globais.
A casa é o dispositivo que nos abriga e que sobrevive à nossa morte, como a concha de um caramujo perdura mesmo oca, dando abrigo eventual a outras formas de vida. Embora a casa não se confunda com a caverna, com a concha, ela guarda em si essa dimensão arcaica, não plenamente civilizável. A história da cultura ocidental é farta em reflexões acerca das aporias inerentes a esse aparato que esteve à nossa disposição, e dispôs nossas vidas, desde épocas remotas – quando ainda éramos pouco humanos, ainda não sapientes. Se, mediante a metáfora da caverna, Platão nos apresenta um espaço onde predominam condições pré ou sub-humanas, de onde deveríamos sair com cuidado, é porque a caverna foi, durante milhares de anos, um abrigo análogo às tocas, furnas, locas onde se abrigavam outros bichos. A casa caverna é uma de nossas primeiras criações técnicas, descemos das árvores para ocupá-las e, no entanto, ela é aquilo que nos remete a uma existência ainda não plenamente cultural. Fora da casa, há o bairro e a polis, é bem verdade – mas a polis é, na cultura antiga, em larga medida, a casa, a pele do homem civilizado. E se a civilidade não pode ser entendida simplesmente como um outro nome para o espaço da domesticidade, haveria aqui um perigo político considerável, esses dois âmbitos não se excluem na tensão que estabelecem, como indica a diferença que existe entre ser nativo de uma determinada cidade, país, ou estrangeiro; entre ser morador ou convidado em um determinado domicílio.
Quando Derrida reflete sobre a hospitalidade , sobre um ato que é ao mesmo tempo de boas-vindas ao estrangeiro, ao nosso convidado, e da experiência de certa hostilidade que nos permita dizer “puxa, como já é tarde…”, ou “… que chato, amanhã termos de trabalhar!”, ou qualquer enunciação mais polida de um limite, trata-se, no fundo, de manter essa dimensão eminentemente contraditória que permitiria, aliás, pensar tanto a morada quanto a individualidade. O que é próprio, o que é impróprio; o que pode entrar, o que deve ser barrado. No entanto, a própria presença do “estrangeiro” demanda que esses espaços de classificação, as formas de pensar que tomamos como inquestionáveis, sejam repensadas, desafiadas, desnaturalizadas, colocadas em suspeição.
Certo, ao discorrer acerca dos artifícios que utilizava para cultivar sua incrível memória, algo curiosamente tão íntimo, Simônides confessou que a metáfora da casa não o abandonava jamais: a porta é a introdução do discurso a ser rememorado; a sala, seu argumento inicial, e assim por diante. Para ele, tratava-se de dispor regularmente os fatos, encaixar os elementos de um discurso significativo naquilo que é mais familiar, doméstico, caseiro. De forma mais radical, poderia ser dito que pensar o ser, a condição ontológica do ser humano, é pensar a casa. O filósofo que nos apresentou essa proposição, Heidegger, também afirmou que a linguagem é a casa do ser, lembra-me Aécio Amaral. Quando o poeta Paul Celan o visitou em sua morada no pós-guerra, no entanto, o filósofo que apoiou a ascensão de Hitler ao poder ficou inibido, desconfortável; como se não estivesse em seu próprio lar diante daquele homem cujos pais não haviam sobrevivido aos campos de concentração nazistas . Diante dessa terrível realidade, pois o campo de concentração foi para muitos a última morada, a controvertida herança romântica na filosofia heideggeriana parece desabar. Assim como suas associações: a casa, a terra natal (die Heimat), o espaço vital etc. Discutir a ambiguidade desses espaços é fundamental, a essa conclusão Derrida nos leva – e as consequências políticas de sua reflexão não podem ser negligenciadas.
Se em determinadas situações ficar em casa é um desafio, e haver-se com suas contradições parece algo tão constrangedor, podemos entender o desafio que é estar confinado em plena sociedade da aceleração, da provisoriedade, das formas perecíveis, da especulação imobiliária. Em tal contexto dromológico, especulativo, a casa aponta, já ao ser construída, para a perecibilidade da tapera. Curioso: os grupos que hoje se manifestam de forma mais extremada contra o confinamento social são conservadores, tradicionalistas. Manifestam-se contra o constrangimento de ficar abrigados. Em outras circunstâncias, recorrerão a esse mesmo símbolo e hostilizarão estrangeiros, lésbicas, gays e todos aqueles que são vistos como ameaça ao espaço doméstico. Pensar o que é verdadeiramente a casa não lhes ocorre. Assim como não lhes passa pela cabeça que a própria lógica de desterritorialização e de desdomesticação que preside a sociedade hipertécnica se opõe à ingenuidade mediante a qual pensam o âmbito doméstico.
Como todo aparato técnico é múltiplo, repitamos, a casa é, a um só tempo, abrigo, amparo e prisão – seja essa prisão figurada ou real. A casa só pode se tornar prisão, ou mesmo tumba, todavia, porque essa é uma dimensão que lhe é inerente. Isso é o que aprendemos ao ler Antígona ou A emparedada da Rua Nova . É por ser impossível dar a Antígona uma morte civil, que não viesse a macular suas mãos com o sangue de sua sobrinha, que Creonte a sepulta em vida numa caverna rochosa, eximindo-se de sua execução sumária. Perceba-se que a caverna retorna aqui como consequência direta, orgânica, do delito cometido: ao enterrar o irmão, que deveria permanecer insepulto, Antígona sobpôs a lei da polis ao vínculo de sangue, à caverna – para onde por fim ela será conduzida. É porque segundo a lógica patriarcal o espaço doméstico é o lugar do qual Clotilde nunca deveria ter saído que seus desejos são emparedados no mais fundo e escuro de sua casa. É porque a casa carrega em si essa dimensão tumular, afinal, que Dostoiévski pode tomar de empréstimo de Luciano a ideia de indivíduos presos numa cidade de pés juntos . Ali, em seus sepulcros, os mortos se comportam com a mesma futilidade, mesquinhez, torpeza que conheciam quando vivos. Assim, por inferência, a casa, o bairro, o país, o planeta podem ser pensados num mesmo horizonte em que o abrigo e a tumba são colocados como possibilidades.
É também sobre a duplicidade fundamental da casa que Kafka discorre, quando nos convida a seguir os passos de um agrimensor convocado a entrar num castelo alegórico. A possibilidade de tal ingresso se confunde com a própria ideia de um acesso postergado ao sentido do real, ou da linguagem, tema kafkiano por excelência. K., o tal agrimensor, tem sua entrada nessa edificação indefinidamente adiada – mas nunca categoricamente negada. Somos seres tristes a quem o mais alto chamado permanecerá, escreve Kafka a seu editor e amigo, para sempre sem resposta. Estamos sempre em casa, sua verdade não nos é absolutamente estrangeira, mas dela pouco sabemos. Por que motivo a inacessibilidade do real confunde-se com a impossibilidade de adentrar essa casa particular que é o castelo – impossibilidade que também diz respeito aO Castelo, a essa imponente e inacabada edificação de letras? Recordemos também da fábula que encontramos em O processo: a um homem qualquer não é permitido entrar por uma porta que, no entanto, paradoxalmente, foi construída só para ele, para que por ela e por um longo corredor de outras incontáveis portas ele pudesse entrar. Kafka já nos havia feito percorrer as furnas, depósitos, salas, antessalas e corredores da morada de um narrador que se desvela aos poucos como uma prosaica e velha toupeira. Entre a busca de sentido e a conclusão de que a verdade nos é barrada, entre cuidados com a autopreservação que não nos diferenciam de uma toupeira, ou de um inseto, habitamos o mundo. Em casa, descobrimo-nos hoje desalojados, deslocados em meio a uma pandemia. É preciso atentar, porém, para o apelo profundo, filosófico, desse reclamo simples: fique em casa.
Hannah Arendt se surpreendeu com as primeiras fotos da Terra feitas do espaço . De certo modo, em seu desprendimento, nomadismo, esse feito colocava entre parênteses nossa condição terráquea ao nos mostrar a Terra. Mas na nave, ainda encontramos o útero, a casa. O mais avançado e o mais primitivo não se distinguem naquele espaço confinado. A casa é o útero no qual navegamos, parece propor Phillip K. Dick no seu conto I hope I shall arrive soon (Espero chegar logo) . Numa viagem-gestação, certo Victor Kemmings é colocado em estado de suspensão criogênica para poder realizar uma viagem intergaláctica até um planeta remotíssimo. Sendo defeituoso esse estado de suspensão, máquinas são a coisa mais humana que há, o personagem ganha parte de sua consciência muitos anos antes de chegar ao seu destino. Como lidar com este tempo de espera, se o personagem não pode ser reconduzido à plena consciência, ao controle de seu corpo, visto que a espaçonave não dispõe de oxigênio, água ou alimento suficientes para mantê-lo vivo até o fim de sua jornada?
Curioso como a casa útero de que fala K. Dick nos lembra nossa própria morada hoje, essa proteção precária contra um exterior onde nossa respiração, sobrevivência parecem estar em perigo contínuo. Ousarei respirar, acordar antes do tempo? Dentro de nossas casas, aqueles que têm a fortuna de ter sua própria casa, útero, nave, templo, máscara, onde se alojar, perguntamo-nos o que fazer durante esse tempo em que não podemos amar, comer livremente. À huis clos… Teremos um destino diferente de Kemmings que chega ao seu destino completamente enlouquecido por uma abundância técnica e uma pobreza radical de contatos humanos? A pergunta é retórica e parcial. Nada diz sobre os inúmeros brasileiros, estadunidenses, sírios que não têm onde morar, que vivem as contradições de que falamos da perspectiva precaríssima dos desabrigados. O que significa viver na rua em uma civilização da casa? Em sua parcialidade, todavia, aquela questão nos ajuda a pensar de forma mais ampla o significado de habitar um planeta que não podemos simplesmente abandonar. Stephen Hawking, no entanto, anteviu um futuro não muito distante em que a espécie humana, para poder sobreviver, teria de abandonar o planeta que terá devastado. O que dizer dessa alternativa, do sonho ingênuo e distópico de tal viagem, se nossa relação com a casa, com o oikos, permanecer impensada? Para onde formos, levamo-nos junto, diz o adágio. Em 2015, na contramão da visão de Hawking, o Papa Francisco alertou para a destruição do planeta-casa. Mediante uma encíclica, ele convocou a humanidade a pensar a Terra como “casa comum” que precisa ser cuidada contra a predação de um capitalismo que julga inesgotáveis todos os recursos do planeta.
Estamos tristes. O confinamento no domus, ao qual estamos submetidos, ou deveríamos estar, parece sinalizar para o fato de que, mesmo sob a proteção melancólica desse exosqueleto, útero, nave, a cova parece não estar distante. Salva-nos do pessimismo de pensar de forma tão ocidental, quem sabe, uma outra percepção da morada: a construção da casa-festa, da casa-flor que nos propôs Gabriel Joaquim dos Santos, esse otimista artista dos escombros. Casa-delírio construída com os fragmentos de todas essas moradas sobre as quais a filosofia e a literatura ocidentais tanto discorreram. Bela em seu desamparo e humanidade. A partir de cacos, de tempos e espaços fraturados, esse grande artista construiu e habitou seu sonho. Talvez seja essa a casa cuja construção não pode esperar o fim de qualquer pandemia, disse-me Bartira Ferraz, que reclama com razão da desarrumação de minha casa texto.
JONATAS FERREIRA é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, onde leciona, orienta alunos e alunas de graduação e pós-graduação e pesquisa temas relacionados à Sociologia da Literatura e à Sociologia da Técnica.
REFERÊNCIAS:
[1] Barros, Manoel de. 1989. O guardador de águas. São Paulo, Alfaguara.
[2] Cortázar, Julio. “Casa tomada”. In Cortázar, Bestiario. Buenos Aires, Editorial Sudamerica, 1951.
[3] Poe, Edgar A. Contos de imaginação e mistério. São Paulo, Tordesilhas, 2007.
[4] Lispector, Clarice. Todos os contos. Rio de Janeiro, Rocco, 2016.
[5] Ver, por exemplo, Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre de l’hospitalité. Paris, Calmann-Lévy, 1997.
[6] Safranski, Rüdiger. Heidegger y el comenzar. Madrid, Círculo de Belas Artes, 2006.
[7] Sophocles. Antigone. Oxford, Oxford University Press, 2003.
[8] Carneiro Vilela. A emparedada da Rua Nova. Recife, CEPE, 2013.
[9] As referências aqui são: Dostoiévski, Fiodor. Bobók. São Paulo, Editora 34, 2013; Luciano. Diálogo dos mortos. Brasília, Editora da UNB, 1998.
[10] Arendt, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro, Forense, 2007.
[11] Dick, Philip K. “I hope I shall arrive soon”. In GRAY, Chris Heidi Figueroa Sarriera e Steve Mentor (ed.), The ciborg handbook. New York and London, Routledge, 1995.