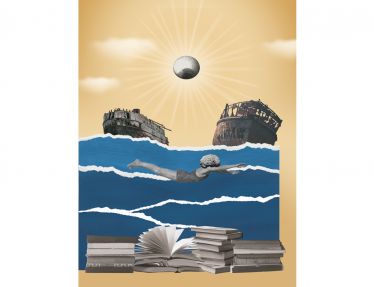The queen is dead
Bandas como Sex Pistols, The Smiths e The Stone Roses e uma reflexão sobre as “anti-homenagens” punks à rainha Elizabeth II, falecida no dia 8 deste mês
TEXTO Antonio Lira
14 de Setembro de 2022

A banda Sex Pistols em 1977. Da esq. para a dir.: Steve Jones (guitarra), Johnny Rotten (vocal), Paul Cook (bateria) e Glen Matlock (baixo)
Foto AFP-UPI/UPI-AFP ARCHIVES/AFP
[conteúdo exclusivo Continente Online]
Em O discurso do rei (2010), filme vencedor do Oscar, assistimos à história de Albert Frederick Arthur George, o irmão do rei Edward VIII. Era esperado que ele e sua família vivessem uma vida tranquila, com algum grau de privacidade, anonimato e os privilégios de quando se nasce numa família como a dos Windsor. Quando Edward resolve abdicar do trono para viver um romance, seu irmão George é obrigado a se tornar rei, colocando a primeira filha, Elizabeth, na linha sucessória do trono. A narrativa é centrada na relação do então rei George com seu fonoaudiólogo, que tenta ajudá-lo a lidar com a gagueira para ele realizar um discurso no rádio, declarando guerra à Alemanha em 1939. No filme, Elizabeth aparece apenas de relance, em uma cena ou outra, mas a rainha da vida real teria gostado da maneira como a produção retratou seu pai. George é pintado no filme como um homem gentil, comprometido e preocupado com a nação, o que seria a antítese perfeita de seu irmão Edward VIII, que abandonara o dever real para viver um amor com uma mulher divorciada.
Em 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI, Elizabeth II assumiu o trono do Reino Unido. Se o reinado de seu pai tem como um dos marcos o famoso pronunciamento no rádio, o seu longo período no trono acompanharia as grandes transformações na cultura de massas que aconteceram na segunda metade do século XX. Duas décadas e meia após assumir a monarquia, no dia 7 de junho de 1977, enquanto milhões de pessoas celebravam o feriado do Jubileu de Prata da rainha pelas ruas de Londres, Manchester, Liverpool e outras cidades, a banda Sex Pistols viajava a bordo de um barco no Rio Tâmisa com o mesmo nome da rainha, a partir de uma ideia de seu empresário, Malcolm McLaren. A proposta era que, durante as celebrações no Palácio de Buckingham, uma apresentação da banda tocando a canção God save the queen fosse filmada. Não por acaso, o título da canção era o mesmo do hino oficial do Reino Unido. Mas, ao contrário do hino oficial, a letra da música era tudo, menos favorável à monarca britânica.
Um dos principais expoentes do punk rock inglês, o grupo Sex Pistols canalizava, naquele momento histórico, toda a frustração de uma juventude que não se identificava mais com a primeira geração do rock e que estava enfrentando uma série de dificuldades devido à crise econômica do seu país. De acordo com a Comissão Europeia, estima-se que, entre 1975 e 1985, o número de pessoas pobres no Reino Unido dobrou. Em uma época na qual a nação comemorava seus 25 anos de reinado, atacar a rainha, então, era uma forma de simbolizar toda aquela revolta que representava o movimento punk.
E era também uma ruptura com a maneira elogiosa com a qual alguns roqueiros das gerações anteriores lidava com a figura midiática e simbólica de Elizabeth. Apenas nove anos antes, os Beatles encerravam seu Abbey Road (1969) com Paul McCartney cantando, acompanhado de um violão acústico, a canção Her majesty – temos aí a rainha como uma “pretty nice girl”. Os Sex Pistols, no entanto, chegavam com o pé na porta, munidos de guitarras distorcidas e barulhentas e uma letra que cantava: “God save the queen/ She's not a human being/ and there's no future/ In England's dreaming” (“Deus salve a rainha/ Ela não é um ser humano/ E não há futuro/ No sonho da Inglaterra”).
No desembarque da Sex Pistols e sua equipe, após a aventura pelo Rio Tâmisa, o empresário McLaren esperava que a banda fosse presa. Desde o início, essa era, na verdade, espécie de estratégia para atrair mídia ao último single lançado pelo grupo. Quando os policiais receberam a banda com educação, Malcolm McLaren reclamou e fez uma confusão. Assim, por outras vias, conseguiu o que queria e a banda realmente foi presa. Mas o mais importante foi ter conseguido levar o caso aos noticiários de todo o país. Desse modo, ele acabou ficando conhecido por ter sido o manager dos Sex Pistols, mas também por sua parceria com a estilista Vivienne Westwood, que, além de sua companheira, é considerada o principal nome da moda do movimento punk.
Fazendo uma crítica à monarquia, Vivienne teve seu primeiro contato com a figura da rainha aos 12 anos, quando assistiu, pela televisão, o Jubileu de Coroação de Elizabeth II. Alguns anos depois, ela usaria a arte do single dos Sex Pistols, criada por Jamie Reid, através de uma foto de Cecil Beaton, para ilustrar a icônica camisa que ganhou o mundo, tanto na versão com o fundo branco quanto na que traz a bandeira do Reino Unido. A imagem que, na época, foi considerada ofensiva, consistia numa foto da rainha com o título da música editado sobre seus olhos e boca, como se ela estivesse amordaçada. Ironicamente, em 2006, a artista da moda responsável pela obra crítica seria agraciada com o título de Dama Comandante da Ordem do Império Britânico.
As “anti-homenagens” punks à monarca continuaram depois dos Sex Pistols. Em 1987, a banda The Smiths, de Manchester, lançou o icônico álbum The queen is dead, cujos nome e faixa-título já davam o recado: “Farewell to this land's cheerless marshes/ Hemmed in like a boar between archers/ Her Very Lowness with her head in a sling/ I'm truly sorry, but it sounds like a wonderful thing” (“Adeus aos pântanos tristes desta terra/ Cercados a como um javali entre arqueiros/ Sua baixeza com a cabeça em uma tipoia/ Sinto muito, mas parece uma coisa maravilhosa”).
O exemplo mais ácido de crítica à monarquia, no entanto, talvez venha da banda The Stone Roses, na faixa Elizabeth, my dear, de seu álbum de estreia homônimo, lançado em 1989. Parodiando uma balada tradicional popular inglesa, o vocalista Ian Brown canta que não descansará até que ela perca o seu trono. “Meu objetivo é verdadeiro, minha mensagem é clara”, canta.
Com a ascensão do britpop – movimento de rock inglês que se inspirava no punk e no post-punk, mas trazia uma exaltação do “jeito inglês de ser” nos anos 1990 –, a bandeira do Reino Unido e outros símbolos nacionais ganharam mais visibilidade entre os jovens fãs de música pop. Anos mais tarde, enquanto o vocalista Ian Brown aparentemente seguiu crítico não apenas à rainha, mas aos tais símbolos nacionais – em 2012, ele limpou a bunda com a bandeira do Reino Unido durante um show no México –, artistas como Morrissey, frontman do Smiths, e Jonh Lydon, líder do Sex Pistols, assumiram posturas conservadoras, racistas e em defesa de uma suposta “raça inglesa”. Lydon, inclusive, chegou a falar que não tinha exatamente nenhum problema com a sua nação e o que ela representava. Apenas não gostava de ter que pagar impostos para sustentar uma autoridade que ele não reconhecia.
Ainda na década de 1990, Elton John, outro músico inglês, só que primeira geração do rock, relançaria sua canção Candle in the wind, de 1973. Ao invés de falar de Marilyn Monroe, no entanto, a letra fora alterada para homenagear Diana, princesa de Gales, após sua morte. O casamento conturbado de Diana com o – agora rei – Charles III desencadeou uma série de crises na família real e também marcou bastante a imagem da rainha Elizabeth. A princesa era um ícone pop, tida como uma personagem verdadeira de um conto de fadas dos tempos modernos. Amada por muitos ao redor do mundo e menos afeita aos protocolos tradicionais da monarquia inglesa, o que fez também com que o planeta todo prestasse atenção na família Windsor. Se no início pode ter sido um princípio de renovação do interesse do público pela monarquia, logo viria a se tornar um problema quando as crises do casamento de Charles e Diana se agravaram – tendo como pivô o relacionamento paralelo que Charles mantinha com Camilla Parker Bowles, a atual rainha consorte do Reino Unido.
Diana Spencer marcou tanto a história da família real quanto uma boa parte do reinado de Elizabeth II. Esse é, inclusive, o conflito principal do filme A rainha (2006), em que Michael Sheen interpreta o primeiro-ministro Tony Blair em sua tentativa de fazer Elizabeth se pronunciar publicamente sobre a morte de Diana. A Elizabeth de Helen Mirren, que ganhou o Oscar pelo papel, é uma rainha bem ao que se espera do estilo britânico: discreta, silenciosa e decidida a manter o decoro de seu cargo. Diante de uma crise na qual aumentam, inclusive, os questionamentos à monarquia, a personagem é forçada a quebrar seus protocolos e sua tradição, comparecer ao funeral de Diana e fazer um discurso público adereçado à nação. O que o filme não mostra, no entanto, é que a família real não gostaria que Elton John cantasse Candle in the wind no funeral de Diana, por achar a música “sentimental demais”, segundo documentos oficiais que vieram a público em 2021. São detalhes como esses que vão sendo subtraídos em várias das narrativas, a partir de diferentes linguagens em torno da história da monarquia britânica, ou de como essa história é percebida pelo público.
***
Saindo um pouco da música e indo para o audiovisual, nos deparemos com a série The Crown (2016), da Netflix, que gira em torno da história de Elizabeth II desde o início de seu reinado – nas primeiras temporadas, a rainha é interpretada pela atriz Claire Foy e, nas seguintes, por Olivia Colman. Enquanto Claire Foy apresenta uma Elizabeth jovem e, por vezes ingênua, que ainda está “aprendendo” a ser rainha, a monarca de Colman já traz uma versão mais amadurecida e parecida com a Elizabeth interpretada por Mirren, no filme de 2006. Nas quatro temporadas disponibilizadas até agora, um tema recorrente é a necessidade de a rainha, enquanto representante da família e da nação, tomar decisões difíceis, mantendo a frieza e a passividade que lhe é esperada. Mesmo quando isso é motivo de problemas em seu âmbito pessoal e familiar.
As crises iniciadas desde o período em que o seu tio, o rei Edward VIII, ainda era rei, permanecem com a sua irmã, a princesa Margaret. Constantemente, ela é encenada como uma antítese a Elizabeth. Isso tanto na série como nos veículos e tabloides ingleses. Se a rainha Elizabeth é apresentada com uma personalidade sóbria e que entende incondicionalmente seus deveres com o país, a irmã mais nova é posta como alguém descomprometida. Esse contraponto entre a emoção e a frieza da família real – e de Elizabeth – aparece também no filme Spencer (2021), no qual a atriz Kristen Stewart interpreta a Princesa de Gales durante um feriado em que sua incompatibilidade com a família real ficou evidente, além da crise conjugal com Charles e as pressões vivenciadas pelo que a falta de liberdade causou a Diana.
Além dessas obras, a rainha Elizabeth figura em desenhos animados, como Os Simpsons e Peppa Pig, estampando também produtos que costumam ser vendidos pelas ruas em datas comemorativas ou celebrações envolvendo a família Windsor.
A grande lacuna que existe em todas as suas representações talvez não seja exatamente o questionamento em torno do que justifique a existência ou não da monarquia, e, sim, uma ausência de reflexão crítica sobre o que representam os símbolos nacionais do Reino Unido no imaginário mundial. Se, para os ingleses, a relação é um misto de identificação e rejeição, a frieza e a neutralidade aparente da rainha espelham as expectativas de seu povo para o resto do mundo, em especial para os países que sofreram com a colonização do Império Britânico, o que representa – ou deveria representar – a chaga da opressão e do imperialismo.
Enquanto, a partir da segunda metade do século XX, o mundo foi tomado pela cultura pop inglesa, com o rock de bandas como Rolling Stones, Beatles e Led Zeppelin, que contribuiu para a transformação de signos nacionais ingleses e dos membros da família real em ícones pop, a história sanguinária e violenta do Reino Unido, enquanto geradora de violência, foi sendo apagada. É no mínimo curioso observar como parece ser mais fácil identificar os Estados Unidos, por exemplo, como um país imperialista (inclusive culturalmente), do que fazer o mesmo movimento em relação ao Reino Unido. A crítica à cultura de massa estadunidense está mais saturada do que à inglesa, talvez por essa segunda estar intimamente associada a uma história milenar e a signos lidos enquanto de "maior valor artístico" por parte das elites.
Nos anos 1950, quando Elizabeth II soube da morte de seu pai, ela estava no Quênia. E, ao contrário do que aparece na série The Crown, a relação do Reino Unido com o país africano no seu reinado foi extremamente violenta. Ao longo do processo da Revolta dos Mau-Mau, movimento anticolonial que tomou forma no país durante a década de 1950, a imprensa ocidental retratava os Mau-Mau sempre na chave do “selvagem” ou de uma "conspiração comunista". Elizabeth II e a cultura pop inglesa, da qual ela faz parte, por sua vez, tratavam de vender ao mundo uma imagem diferente dos britânicos.
Mesmo tendo sido a rainha que acompanhou os processos de descolonização de vários países pelo mundo, foi em seu reinado que aconteceu, por exemplo, toda a brutalidade no Quênia, chegando até a ter campos de concentração no país. Isso, no entanto, é pouco trazido em obras que retratam sua trajetória, mesmo naquelas que são críticas à sua figura e ao que ela representou. Se durante tanto tempo Elizabeth – a família real, sua imagem e semelhança – serviu para tentar fazer com que o mundo "esquecesse" os crimes coloniais gerados pelo Império Britânico, não deixa de ser significativo que justamente sua morte traga à tona uma discussão sobre o legado do colonialismo.
Para além de discutir se o Reino Unido deveria ou não ser uma monarquia, ou os efeitos desta para o povo inglês, o fundamental talvez seja mesmo pensar o que o país, seus símbolos nacionais e sua cultura representam para outros povos, o que resguardam e o que tentam mascarar.
ANTONIO LIRA é jornalista, músico, pesquisador e mestre em Comunicação pela UFPE.