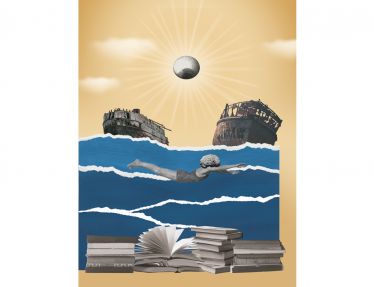O ano de 2019 nas telas do cinema e da TV
Para além dos temas, a diversidade foi um dos pontos explorados nas produções cinematográficas e televisivas
TEXTO MARIANE MORISAWA, DE LOS ANGELES
23 de Dezembro de 2019

Umas das melhores séries do ano, 'Fleabag', criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, fortalece a representatividade feminina na frente e atrás das câmeras
Foto Divulgação
[conteúdo exclusivo Continente Online]
Dois mil e dezenove foi difícil de acompanhar – e de aguentar. O cinema e a televisão, como sempre, ofereceram pontos de respiro e de reflexão. Analisando alguns dos principais lançamentos do ano, é possível traçar determinados temas que estão na cabeça dos realizadores, sempre considerando que longas-metragens em geral levam anos para serem produzidos. O apelo por mais diversidade, por exemplo, vem crescendo nos últimos anos, desde a eleição de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, culminando em campanhas como #OscarsSoWhite, lançada em 2015. Os movimentos #MeToo e Time’s Up também pressionaram fortemente por um maior número de mulheres e pessoas não-brancas na frente e atrás das câmeras. Os resultados são claros. No Sundance Festival, em janeiro, 53% dos diretores da competição americana de ficção eram mulheres, 41% pessoas não-brancas e 18% se identificavam como LGBTQ+.
Em fevereiro, o Festival de Berlim trouxe 7 longas dirigidos por mulheres em competição, de um total de 17. Cannes, que trouxe quatro longas de mulheres na competição, e Veneza, que incluiu dois, ainda se mostraram resistentes à ideia de incorporar mais produções dirigidas por mulheres na competição, sob o pretexto de que o que importa é a qualidade dos filmes. A presidente do júri em Veneza, a argentina Lucrecia Martel, desafiou o festival a tentar escolher 50% de mulheres para ver se a qualidade caía tanto assim. Mas ambos assinaram o compromisso 50/50 até 2020, de ter comissões de seleção com 50% de mulheres até ano que vem.
A estatística em Hollywood não foi tão animadora em 2018, com apenas 3,6% dos cem filmes de maior bilheteria dirigidos por mulheres. A porcentagem média não muda há anos. Mas 2019 deve superar esse número, com expectativa de presença de 12 a 14 mulheres entre as cem maiores bilheterias, incluindo Capitã Marvel, co-dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, As Golpistas, de Lorene Scafaria, e Frozen 2, de Jennifer Lee e Chris Buck.
Na televisão, que tem mais agilidade na produção, a situação é bem melhor: na temporada de 2018-2019, 45% dos personagens com fala eram mulheres, contra 40% em 2017-2018. Atrás das câmeras, 31% dos criadores, diretores, roteiristas, produtores, produtores-executivos, editores e diretores de fotografia eram mulheres, contra 27% em 2017-2018. Esse empurrão por mais diversidade acaba sendo refletido na tela, nos personagens e tipos de histórias que aparecem.
Capitã Marvel é o primeiro filme dos estúdios Marvel protagonizado por uma mulher, seguindo os passos da DC com Mulher Maravilha. A personagem interpretada por Brie Larson também teve papel fundamental em Vingadores: Ultimato, de Joe e Anthony Russo (a maior bilheteria do ano até meados de novembro). Em dezembro, Greta Gerwig, uma das cinco mulheres indicadas ao Oscar de Melhor Direção, volta às telas americanas com uma nova versão de Adoráveis mulheres que atualiza o clássico de Louisa May Alcott. Em The Farewell, Lulu Wang inspirou-se numa história pessoal envolvendo a doença de sua avó para criar uma comédia dramática com uma personagem feminina de origem asiática no centro.

Alinhado às discussões levantadas pelos movimentos #MeToo e Time’s Up, o longa O escândalo retrata a história das mulheres da Fox News que sofreram assédio e abuso do CEO Roger Ailes. Foto: Divulgação
As golpistas, longa baseado na história real de strippers que ganharam dinheiro drogando e roubando seus clientes, tem um elenco de mulheres de todas as origens, composto por Jennifer Lopez, Constance Wu, Keke Palmer, Lizzo e Cardi B. Harriet, de Kasi Lemmons, é uma biografia de Harriet Tubman (Cynthia Erivo), uma escrava que foge e cria uma rota de escape para outros escravos. Entre os brasileiros, A vida invisível, de Karim Aïnouz, candidato do país a tentar uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional, examina o machismo enfrentado pelas mulheres no Rio de Janeiro dos anos 1950.
Na televisão, algumas das melhores séries do ano foram criadas e/ou têm mulheres como protagonistas. É o caso de Fleabag, criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, que também é criadora de Killing eve, um jogo de gata e rata entre uma agente e uma assassina de aluguel estrelado por Sandra Oh e Jodie Comer. Euphoria foi criada por um homem, Sam Levinson – que se inspirou em seu próprio vício em drogas –, mas é centrada em personagens femininas, como Rue (Zendaya), Maddy (Alexa Demie), Kat (Barbie Ferreira) e Jules (Hunter Schafer), cada uma enfrentando as dificuldades de ser adolescente.
Como os movimentos #MeToo e Time’s Up surgiram a partir de denúncias de abusos e preconceitos sofridos pelas mulheres, era natural que o cinema e a televisão retratassem o assunto. O escândalo, de Jay Roach, tem um elenco de primeira linha, formado por Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, para contar a história das mulheres da Fox News que sofreram assédio e abuso do CEO Roger Ailes (John Lithgow). O mesmo Ailes é o protagonista de The loudest voice, com Russell Crowe, que mostra a construção da narrativa conservadora nos Estados Unidos pelo canal, a influência nas eleições e o abuso de poder em todos os níveis, inclusive sexual.
The morning show, série do novo serviço de streaming Apple TV+, estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, também aborda o tema, num espelho da história de Matt Lauer, apresentador do programa matinal Today que foi demitido por assédio sexual. Na trama, após a demissão do âncora Mitch Kessler (Steve Carell), sua companheira de bancada, Alex Levy (Aniston), considerada velha para o papel, se esforça para manter o emprego, ao mesmo tempo em que a repórter Bradley Jackson (Witherspoon) chama a atenção do estúdio como substituta ideal.
A sede por maior diversidade, que vem de uma pressão sobre a própria indústria, mas também como reação a um governo hostil às minorias, resultou não apenas em mais produções sobre mulheres, como também em longas e séries que enfrentam o racismo. Watchmen é uma espécie de continuação da graphic novel de dois homens brancos, Alan Moore e Dave Gibbons, criada por outro homem branco, Damon Lindelof, que chegou à conclusão de que a principal questão da sociedade americana hoje é o racismo. Em sua realidade alternativa, o governo progressista de Robert Redford (isso mesmo, o ator) instaurou reparações aos descendentes de escravos, o que causou uma reação dos supremacistas brancos – não muito diferente do que se vê hoje, na reação de supremacistas ao governo de Barack Obama e à conquista de espaços e direitos pelas minorias.

O sistema judiciário dos Estados Unidos é problematizado na minissérie de Ava DuVernay,
Olhos que condenam, através do caso Central Park Five, que ilustra o racismo estrutural e institucionalizado. Foto: Divulgação
Também não faltaram projetos sobre a injustiça do sistema judiciário dos Estados Unidos, que resulta num encarceramento muito maior de negros e latinos do que de brancos proporcionalmente. A minissérie Olhos que condenam, de Ava DuVernay, baseia-se no caso The Central Park Five, no qual cinco jovens negros e latinos foram acusados de atacar e estuprar uma mulher branca no parque novaiorquino. Eles foram exonerados em 2002, depois de cumprirem vários anos de condenação. Luta por justiça, longa de Destin Daniel Cretton, também se inspira numa história real. Nele, o jovem advogado Bryan Stevenson (interpretado por Michael B. Jordan) estabelece um centro para ajudar condenados à morte no Alabama. Em Clemency, de Chinonye Chukwu, Alfre Woodard interpreta uma carcereira do corredor da morte que sente o impacto psicológico de seu trabalho.
CRISE
O desconforto com o estado das coisas, manifestado, pelo menos, desde o movimento Occupy Wall Street em 2011, vem crescendo nos últimos tempos. As eleições de Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil, assim como o Brexit, são provas disso. A desconfiança nas instituições e a revolta contra o 1%, que criou a crise econômica de 2008 e se safou sem consequências, enquanto milhões ficavam mais pobres, levou à liderança pessoas vendidas como “fora do sistema”, que fariam as coisas voltarem a ser como antigamente (uma época criada pela passagem do tempo, que tende a apagar as piores coisas e é dominada por homens, héteros e brancos). Tudo isso alimentado pelas fake news, notícias falsas disseminadas com o intuito de conquistar uma parte despolitizada da população.
A crise do capitalismo – e do neoliberalismo – e da democracia aparecem em muitos filmes e séries deste ano. Dois grandes do cinema de esquerda, Ken Loach e Robert Guédiguian, debruçaram-se sobre a big economy, a economia de “bicos”, sem contratos e sem direitos, em Sorry we missed you e Gloria Mundi. A série On becoming a god in central Florida se passa nos anos 1980, no nascimento do neoliberalismo, e fala de uma jovem branca, classe média baixa, que se envolve num esquema de pirâmide por causa do marido. Succession, em sua segunda temporada, mostra a falta de escrúpulos dos membros de uma família bilionária em sua luta pelo controle dos negócios.
Em Democracia em vertigem, Petra Costa dá sua visão sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Chernobyl destaca como a falta de transparência de anos do regime soviético encobriu o que estava acontecendo na usina durante o maior acidente nuclear da história. The politician faz uma sátira sobre a construção de campanhas políticas nos Estados Unidos. The Good Fight mostra a resistência à tentativa de apagamento da democracia, da igualdade e da verdade.
Quatro dos filmes mais relevantes do ano estabelecem paralelos entre si, ao dialogarem com temas sobre crise econômica, democracia e identidade: Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, e Les misérables, de Ladj Ly, que dividiram o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, Coringa, de Todd Phillips, que foi Leão de Ouro em Veneza, e Parasita, de Bong Joon-Ho, ganhador da Palma de Ouro.
O filme brasileiro mostra um vilarejo acossado por forças externas, resistindo e combatendo. O francês Les misérables se passa nos subúrbios parisienses onde vive uma massa de jovens excluídos, em sua maioria, imigrantes ou filhos de imigrantes, que se rebelam contra a polícia. O americano Coringa transforma o vilão da DC num produto de uma sociedade doente, na qual a separação entre as classes é cada vez mais evidente. O sul-coreano Parasita também explora essa questão de luta de classes, só que através de uma família que se infiltra aos poucos numa mansão. Para Joon-ho, o tema é universal “porque todos vivemos no mesmo país agora, o do capitalismo”.
 Tom Hanks no filme Um lindo dia na vizinhança, dando vida ao norte-americano Fred Rogers, criador do programa infantil de TV Mister Rogers' neighborhood, popular na década de 1960 nos EUA. Foto: Divulgação
Tom Hanks no filme Um lindo dia na vizinhança, dando vida ao norte-americano Fred Rogers, criador do programa infantil de TV Mister Rogers' neighborhood, popular na década de 1960 nos EUA. Foto: Divulgação
A situação caótica do mundo, materializada nas desigualdades e no crescimento de crimes de ódio, que resulta num clima generalizado de desesperança, também leva o cinema e a TV a explorarem a generosidade e a bondade em suas produções. É o caso de The good place, que questiona o que é e como ser bom, e Evil – dos mesmos criadores de The good fight –, que usa a investigação de fenômenos não explicados para debater o bem e o mal. Um lindo dia na vizinhança, de Marielle Heller, por sua vez, traz Tom Hanks no papel do apresentador Fred Rogers, criador do programa Mister Rogers' neighborhood, dedicado a ensinar crianças sobre tolerância, autovalorização e civilidade – artigos em falta nos dias de hoje.
O cinema e a televisão sempre estiveram na vanguarda. E, ao apontarem suas câmeras para o que acontece hoje em dia, capturam o momento e trazem a reflexão do porquê das coisas serem como são – e, quem sabe, oferecem soluções.
MARIANE MORISAWA é jornalista apaixonada por cinema. Vive a duas quadras do Chinese Theater, em Hollywood, e cobre festivais.