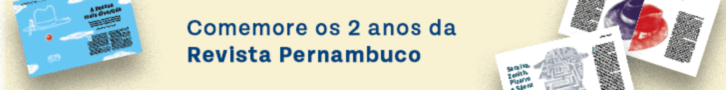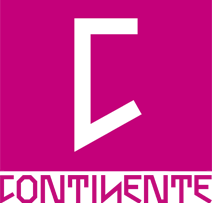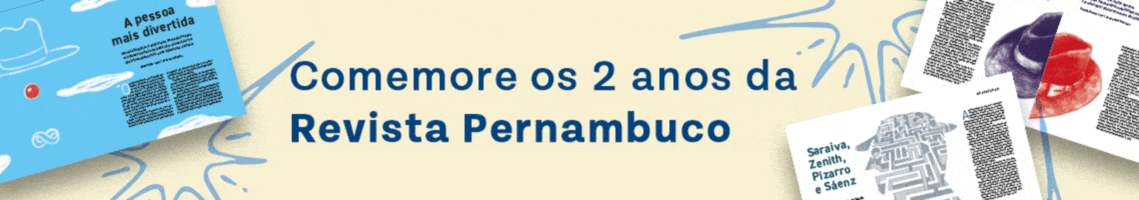A filosofia em cena com Madame Blavatsky
O monólogo “A voz do silêncio” estreou no Recife, em curta temporada, com atuação de Beth Zalcman. Baseado na vida e obra de Helena Blavatsky, o espetáculo deve voltar ao Recife ainda em novembro
TEXTO Sidney Rocha
11 de Agosto de 2025

A excelente atuação de Beth Zalcman como Madame Blavatsky lhe garantiu a indicação ao Prêmio Cenym, de Melhor Atriz. A minitemporada no Recife teve um excelente público
Foto Daniel Castro/Divulgação e Ricardo Florêncio/Divulgação
1985
No fim da ditadura civil-militar no Brasil, Plínio Marcos levou aos palcos um de seus maiores sucessos: Madame Blavatsky. A peça tinha como personagem central Helena Petrovna Blavatsky (nascida em 1831, na Ucrânia, então parte do Império Russo e falecida em Londres, em 1891). Fundadora da Sociedade Teosófica, as ideias da autora seguem atraindo adeptos, inclusive no Brasil.
Blavatsky construiu uma reputação cercada pela efervescente mistura de filosofia hindu, ciência de vanguarda, ecumenismo religioso e práticas consideradas excêntricas ou escandalosas, à sua época. Acusada de ser lésbica, de fazer uso indevido de poderes paranormais e de fraudes contra ricos e crentes, tornou-se mito e alvo de polêmica.
2025
Quatro décadas depois da peça de Plínio Marcos, sob a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, o espírito desse teatro de ideias ecoa na nova montagem A voz do silêncio, dirigida por Luiz Antônio Rocha e escrita por Lúcia Helena Galvão.
A proposta, talvez perto demais do realismo convencional, aproxima-se do chamado “teatro de texto” ou “teatro-palestra”. A força está na palavra, na reflexão e na busca de uma “vivência” do espectador, de uma experiência mais próxima ao diálogo filosófico do que de uma trama convencional.
Se, em Madame Blavatsky, Plínio Marcos explorava o esoterismo e a polêmica da personagem histórica para discutir o metateatro ou o próprio fazer teatral, A voz do silêncio propõe ao público mergulhar num território mais reflexivo: o da filosofia em cena, onde a palavra não apenas conta, mas pensa — e, como no caso de Plínio Marcos — convida a olhar além da história e a encontrar correspondências da arte do teatro com o momento atual. Isto nos diz o diretor, Luiz Antônio, em trecho da entrevista à revista Continente: “O maior desafio foi criar uma atmosfera que remetesse ao século XIX sem transformar o espetáculo em uma simples reconstituição histórica. Queríamos que o público sentisse a energia daquele momento — um tempo de intensos debates filosóficos e espirituais —, mas de forma viva e dialogando com o presente”.
A ENCENAÇÃO
Na montagem, no Teatro Luiz Mendonça, no Recife, Luiz Antônio Rocha tenta vencer alguns estereótipos comuns à escritora e filósofa, como a “velha e gorda”, a “bruxa”, atacada por vozes que a chamavam de “charlatã” e “impostora”.
Helena Blavatsky é Beth Zalcman. Sua excelente atuação lhe garantiu a indicação ao Prêmio Cenym, da Academia de Artes no Teatro do Brasil, de Melhor Atriz.

No palco, vemos a Blavatsky de Zalcman em seus dias outonais, mas em grande vitalidade, bem incorporada pela atriz, adepta do método difundido pelo ator e diretor russo Mikail Chekhov. “Michael” era sobrinho de Anton Tchecov e aluno de Constantin Stanislavski. O diretor influenciou gente do cinema como Marilyn Monroe, Yul Brynner e Clint Eastwood.
O método está bem-marcado na encenação. Não há divisão muito visível de cenas, a não ser por gestos ou eloquências da atriz e alguns recursos de iluminação. Daí, assistimos à personagem falar sobre suas origens, sua formação como leitora na biblioteca dos avós, seu interesse pela “verdade”, seu casamento por conveniências. Em um segundo momento (para não usar o termo “ato”), a vemos narrar a aparição do seu Mestre, e a indicação mais clara de sua missão. Em outro tempo bem-marcado no texto está sua ida à Índia (por volta de 1880) e sua longa crítica à certa ocidentalização da cultura daquele país.
A forma ou fôrma dramática é conhecida. Vem da tragédia aristotélica: a exposição da heroína, o momento de revelação, as reviravoltas e a catástrofe. No caso, a queda da imagem pública de Helena Blavatsky e sua volta para Nova Iorque e Londres.
Essa costura entre biografia e reflexão mostra bem como atriz, sobretudo, pontua atmosferas e estados de espírito da personagem. Não para denunciar as ilusões da representação, mas para exaltar os princípios do método, apoiado na criação de um evento interior, que ocorre em tempo real na alma do ator ou atriz, onde a plateia vivencia como expressão no contexto do drama.
Segundo o diretor, em conversa com a reportagem, o fenômeno não é ligado diretamente à personalidade ou à história pessoal de quem encena, mas deve ser desenvolvido como gesto psicofísico e imaginação. “A memória afetiva”, ele defende.
Conceitos à parte, A voz do silêncio, de Lúcia Helena Galvão, corre o risco de incorrer nos excessos de condução sob o risco de empobrecer a experiência teatral. Embora o texto tenha uma dimensão filosófica e espiritual relevante, sua estrutura ao modo de “mensagem” tende a reduzir o espaço para que o espectador construa, por si, as ambiguidades e tensões propostas. O discurso pode descambar para um roteiro de instrução, mais próximo de uma conferência dramatizada do que de uma obra aberta à polissemia, livre da função de ensinar para se converter em imagem, ritmo, silêncio e presença — permitindo que a filosofia se encarne na ação cênica, e não apenas na oratória.
Esses são riscos que correm, por exemplo, A alma imoral, de Nilton Bonder, e Freud – A última sessão, de Mark St. Germain, em montagem brasileira. Exemplos nos quais o eixo não é a ação dramática, mas o discurso.
Cada qual a seu modo, privilegiam a exposição de ideias e reflexões (sejam elas espirituais, filosóficas ou psicanalíticas) em detrimento de uma dramaturgia ancorada em conflito encenado. A alma imoral (em interpretação célebre de Clarice Niskier) é praticamente um sermão dramatizado. Freud – A última sessão, vista recentemente no Recife, apesar de ter bons diálogos (o encontro imaginário entre Freud e C.S. Lewis), se constrói como um duelo de ideias e não especialmente como embate de ações. Há a tensão intelectual, mas pouco “acontece” no sentido físico ou narrativo.
Comum a todos, quando vistos sob a ótica do teatro de ação: a subordinação do acontecimento teatral à força da palavra sem mudança muito visível no palco. De todo modo, essas montagens, incluída A voz do silêncio, cria obras hipnóticas pelo carisma e pelo conteúdo. As plateias tendem a gostar a ver a casa cheia para essas formas de teatro.
Contra esses riscos, aparece Beth Zalcman. Ela brilha. Mostra seu vigor. Transforma-se no centro de tudo, em sua interpretação que alia leveza e ferocidade.
Vale mencionar que A voz do silêncio faz parte de longa pesquisa de Luiz Antônio Rocha sobre vidas a serem contadas, a exemplo do educador brasileiro, do Recife, Paulo Freire.
1988: A PRIMEIRA VEZ DE BLAVATSKY NO RECIFE

No último dia da temporada do Recife, encontrei-me com a atriz Nilza Lisboa na plateia. Em 1988, a Naipe Produções (Solange Coutinho, Terezinha Leite e Nilza) montou Madame Blavatsky, de Plínio Marcos, para estrear no Waldemar de Oliveira, com outras temporadas no Teatro de Santa Isabel. A direção foi de Carlos Bartolomeu.
“Trouxemos Plínio [Marcos], na ocasião. Era um tempo difícil para o teatro no Recife e falar de teosofia, filosofia, ocultismo, mesmo com temas parecidos abordados da teledramaturgia naquele tempo: a novela das oito, Mandala, era um desafio a mais”, diz Nilza (na foto ao lado, com Beth Zalcman). A atriz pernambucana se refere à adaptação de Édipo Rei, de Sófocles, para a TV, cujo enredo envolvia misticismos, oráculos, búzios e superstições. Eram desafios às correntes ortodoxas da religião, ciência e filosofia. “Além disso, alguns críticos me consideravam muito jovem para o papel”. À época, a crítica teatral era feita nos jornais, por Valdir Coutinho e Enéas Álvarez. Nilza Lisboa tinha 32 anos. Independente dessas críticas, Plínio Marcos elogiou fortemente sua atuação, no programa Jô Onze e Meia, na TV. Ponto para Nilza Lisboa e para o teatro do Recife.
UMA AUTORA DE CULTO
O título da peça remete a um sucesso editorial de Helena Blavatsky, que assinou outros best-sellers, como A doutrina secreta, muito lido pela juventude dos anos 1970 e 1980, editada pelo Pensamento e Cultrix. É uma autora ainda muito cultuada no Brasil. Escolas de filosofia têm suas obras como referência. Não é em vão. A pensadora influenciou e impressionou personalidades importantes como Albert Einstein e Gandhi.
Nessa relação entre misticismo e ciência, empolgou autores como Fernando Pessoa. Há citações à filósofa em seus textos mais esotéricos. O poeta e dramaturgo irlandês W.B. Yeats foi membro da Sociedade Teosófica, em Dublin. O também irlandês James Joyce usou algo parecido como as “camadas de realidade”, de inspiração blavatskiana, para Finnegans Wake (1939), por exemplo. A contista Katherine Mansfield era leitora de A doutrina secreta e Isis sem véu. Em cartas, cita Blavatsky para pensar “além da materialidade”. Frank Baum, autor de O mágico de Oz (1900), era membro da Sociedade Teosófica americana. Sua principal obra reflete a jornada de iniciação teosófica: busca pelo conhecimento interior, símbolos dos quatro elementos e a figura do mestre oculto, estrutura que mencionei há pouco.