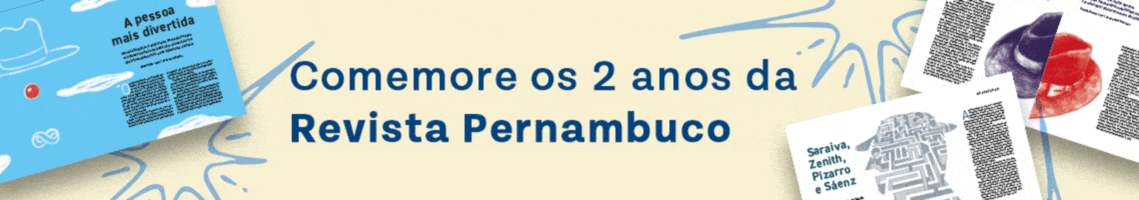Independentes: Minha casa, meu ateliê
Alguns artistas optam por desvincular-se de galeristas, instituindo espaços em que criam e estabelecem relação direta com compradores
TEXTO PAULO CARVALHO
FOTOS RAFAEL MEDEIROS
01 de Agosto de 2013

Além do espaço físico, Eudes Mota mantém site pessoal e página no Facebook para contatos
Foto Rafael Medeiros
[conteúdo vinculado à reportagem de capa | ed. 152 | agosto 2013]
Eudes Mota, 61 anos, considera que o mercado de arte dos anos 1960 e 1970 era mais aquecido. Naquele momento, no entanto, o maior intermediador com o público não eram a galerias. “A grande vitrine dos anos 1960 e 1970, o espaço que mais divulgava nossa obra, era o Salão de Arte de Pernambuco. Uma festa. A partir do salão, as galerias começaram a surgir.”
O embate entre a compra direta nos ateliês e a intermediada por aqueles espaços, segundo Eudes, sempre existiu. O artista mantém um site em que hospeda exposições virtuais organizadas por ele mesmo. “No meu ateliê, o mercado é melhor que nas galerias. Sempre vendi mais aqui. Além disso, dentro do meu site, hospedei um espaço expositivo do qual eu mesmo sou curador. Sem despesas e sem preconceitos. O cliente fica mais à vontade, mais livre para escolher sua obra. E escolhe com calma e sem pressão. E tem mais visitação do que o espaço físico.” O Facebook também divulga sua obra e faz uma espécie de laboratório a partir do feedback da rede social.
Nos anos 1990, Eudes Mota participou das feiras Art Miami, Art Santa Fe e Art New York. Trabalhou com a Neuhoff Gallery por sete anos, com contrato de exclusividade em todo o território americano. Foi a Neuhoff que o levou para todas essas feiras. “É bom observar que o nome do artista não é construído pela galeria. Quem constrói é o próprio trabalho, no decorrer de muitos anos. Qual é o papel dela? Divulgar o artista, em feiras, bienais, financiar exposições no exterior e adquirir obras para o próprio acervo. Isso nem sempre é feito pelo galerista local. O que existe é o mercado. As galerias normalmente vão para feiras, como a SP-Arte, para divulgar o nome próprio e não necessariamente o do artista”, critica Eudes.
“O papel do marchand é divulgar o artista”, reafirma. “Não é apenas o de cobrar 50%. Imagine, a cada duas obras, uma é do artista, outra, da galeria. Um negócio praticamente sem despesas para eles, um negócio da China. No mercado dos anos 1960 e 1970, cobravam-se 30%, 20%. Só quando o galerista comprava diretamente do artista, é que havia os 50%, ou quando havia contrato de exclusividade e toda a produção tinha um único comprador, como trabalhou Ranulpho.”
Eudes foi amigo de Macantônio Vilaça, “um exemplo a ser seguido por todo marchand brasileiro”, elogia. “Ele tinha seus gostos. Mas eu não estava pronto para Marcantônio Vilaça, na época. Eu entendo. E nossa amizade nunca foi abalada por isso. Assim como é minha amizade com Paulo Darzé, de Salvador. Nunca deixamos de ser amigos pelo fato de ele nunca ter me escolhido para a sua galeria.”
O artista diz criar duas categorias de trabalhos. “A obra da vida e a obra da morte. Quer dizer, trabalhos que sei que vendem, e outros que sei que vão ficar comigo. É assim que tenho sobrevivido. Ao exemplo de Mondrian, nunca deixei de pintar flores para sobreviver.”
Eudes Mota critica também a relação única entre o artista e o mercado. “É preciso ter uma terceira peça. A informação para o público. A crítica. Nesse sentido, a presença de Moacir dos Anjos, durante todos esses anos, foi muito importante para o Recife. Divulgando os artistas, adquirindo obras de artistas locais para o Mamam. Enfim, uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo.” Gil Vicente criou a Sala Recife, anexa à sua casa, com o objetivo de hospedar artistas. Mas o público rareou e ele desmontou a estrutura
Gil Vicente criou a Sala Recife, anexa à sua casa, com o objetivo de hospedar artistas. Mas o público rareou e ele desmontou a estrutura
João Câmara, 69 anos, também mantém independência em relação às galerias. No Bairro das Graças (Recife), possui uma extensão de seu ateliê olindense, no qual guarda e vende seus trabalhos “como profissional autônomo”. João também relativiza a importância das galerias, quando o assunto é propor novos debates.
“Uma galeria não é, a princípio, uma lançadora de ideias. Circunstancialmente, pode acontecer, porque algumas delas trabalham com determinadas linhas mais provocativas e tendem a conglomerar um conjunto de artistas que induzem à troca, à provocação. Mas não é o seu fim precípuo. O fim da galeria é vender”, analisa.
João Câmara lamenta que não esteja na faixa de prioridade do estado a exibição de obras de arte ou a sistematização de seus acervos. “E sistematização significa não só exibição como a construção de uma sintaxe clara do que pode ser exibido, seja do antigo, seja do novo. Não há política do governo a respeito de aquisição de acervo, nem compra de obras que estão sendo produzidas. Não está na prioridade deles. Toda a parte do planejamento para o fomento foi revertida para as leis de incentivo, de maneira que o governo lavou as mãos, isentou-se dessa tarefa.”
O artista paraibano trabalhou com duas galerias. A Bonino, no Rio de Janeiro, e, no final dos anos 1980, com a Dan Galeria, em São Paulo. Ambas sem contratos de exclusividade. Se os galeristas discutiam seu trabalho junto com ele? “Não. E nem eu deixaria. Eu não mexo na contabilidade deles e eles não mexem em meu ateliê (risos).”
O pintor afasta também a tentativa de interferência de alguns compradores. “Interessante que os compradores, hoje, adoram um quadro abstrato. Combina com sofá, com a cortina. O figurativo incomoda muito, perturba o ambiente. Algumas vezes, dá vontade de fazer a marcação na tela e pedir para que o comprador pinte o quadro ele mesmo.”
Também em fase independente, Gil Vicente, 55 anos, recorda uma série de galerias que tiveram atuação importante no Recife. Além das já citadas Futuro 25 e Artespaço, mereceriam destaque, segundo o artista, a Galeria Lautréamont, em Olinda; a Galeria Estúdio Arte, de Beth Araruna, em Boa Viagem; e a Galeria Observatório de Arte Fotográfica, comandada por Gleide Selma, no final dos 1990. Essa última esteve aberta por três anos, tendo promovido 24 exposições.
“Nos final do anos 1970, durante a década de 1980 e no início da de 1990, circulava no comércio de arte uma soma bastante significativa. O público comparecia, visitava as exposições e, principalmente, comprava os trabalhos”, lembra Gil Vicente.
Raoni Assis conta que a Casa do Cachorro Preto foi montada em Olinda para abrigar mostras informais
“A galeria Ranulpho, que era a mais chique, embora não fosse uma das melhores”, recorda ainda o artista, “trouxe boas exposições, como a de Siron Franco. Crisaldo Morais, mais um marchand importante para o Recife, tinha uma coleção pessoal de artistas primitivos e, em sua galeria, fez várias exposições”.
De acordo com Gil Vicente, o consórcio foi uma prática que funcionou bem no Recife. “Por exemplo, uma pessoa que trabalhava numa repartição pública combinava com outras 10 pessoas de pagar um trabalho por mês. Vendeu-se muito através de consórcios. Durante a construção desta casa, para onde me mudei em 1993, fiz dois deles, que me deram dois terços do valor da construção. Cada um com cerca de 60 pessoas. Isso é impensável hoje em dia, no Recife. Não tem gente interessada.”
Gil Vicente lembra que, em 1996, a última exposição que fez com a galeria Futuro 25 tinha 12 telas pintadas a óleo (“o hit que o comprador gosta, porque tem preconceito contra papel”), todos os trabalhos figurativos.Vendeu apenas um. “Foi uma novidade para mim. Ali, eu percebi que o mercado tinha mudado.”
O artista, contudo, destaca a atuação mais adequada e amadurecida das instituições. “O comércio diminui, mas ainda bem que o institucional, dos anos 1990 para cá, foi melhorando sua atuação. Moacir dos Anjos estava chegando nessa época. Ele escreveu sobre essa exposição.”
Para Gil Vicente, que ficou sem galeria após o fechamento da Mariana Moura, era normal a procura, vez ou outra, por trabalhos mais palatáveis. “De vez em quando, Tereza Dourado, a melhor galerista que tive, dizia, ‘Gil, não tem um biscoitinho, não?’. Biscoitinhos eram os quadros mais fáceis de vender. A gente se divertia com isso. É normal. De modo geral, as galerias têm respeito pela peculiaridade da cada artista. Claro, se ele está fazendo uma série e aquilo está vendendo bem, e de repente calha de ele querer fazer outra coisa, a galeria vai dizer, ‘espere, continue um pouco mais’ (risos)”.
INSTITUIÇÕES
Para Gil Vicente, tudo que está tendo melhores resultados no Recife está ligado à esfera institucional. “O edital do Funcultura funcionou muito bem para a realização do catálogo, registro das mostras. Isso tem sido muito positivo. Editais da Funarte também estão funcionando bem e compensam a atividade mais reduzida das galerias”, avalia, sem deixar de criticar as políticas públicas dos equipamentos da prefeitura e do estado.
“Muita gente boa, como Bruna Pedrosa, quando estava no La Grecca, e Beth da Mata – artista e atual diretora do Mamam –, fica amarrada, sem conseguir levar os museus para frente, por falta de recursos. Deveria existir uma lei que garantisse um funcionamento sem interrupção desses equipamentos.” Gil Vicente imputa o decréscimo na venda de arte também ao crescimento da indústria de decoração e de ambientação. “As pessoas gastam R$ 30 mil reais nas cortinas da casa, mas para comprar uma pintura de R$ 5 mil... Não existe mais a moda.”
Exposições aliadas a festas são alternativas oferecidas por Fernando Peres, como o Lesbian Bar, que ele promove
Anexa à sua casa-ateliê, construída em Boa Viagem, o artista manteve a Sala Recife por quatro anos. A ideia era hospedar artistas, oferecendo assessoria de imprensa e infraestrutura para as exposições. “Se o artista vendesse alguma obra, o dinheiro ia todo para ele. Fizemos várias exposições, sempre com foco no desenho e na pintura. Mas eram 20 pessoas na abertura e, depois, mais ninguém. Foi minguando até virar um almoxarifado.”
No Recife, alguns espaços tentam driblar a formalidade encontrada nas galerias. Integram festas ao ambiente de exposição e não propõem contratos de exclusividade. É o caso da Casa do Cachorro Preto, em Olinda. Comandada por Raoni Assis, 26 anos, desde março de 2011, a casa vizinha ao quase sempre fechado Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, surgiu depois que o artista afixou seus próprios trabalhos na primeira sala da casa, com janelas voltadas para a rua.
Tornou-se um espaço demandado pelos amigos Ayodê França, Pedro Melo e Greg, que também expuseram informalmente seus trabalhos. “A falta de referência de lugares sempre abertos com novas exposições faz com que o público simplesmente perca o hábito. Abrimos por necessidade mesmo”, explica Raoni.
“Não cobramos para entrar no espaço. A casa começou a se pagar nos últimos dois meses e nunca deu renda, lucro”, afirma. No espaço, já realizaram individuais de artistas como Shiko, Cavani Rosas e Jeims Duarte. “Mesmo estando aberta, há um público que se acanha de entrar, porque esse tipo de atividade nunca foi realmente voltada para a população. As pessoas param na janela, olham, curtem, mas não entram”, atesta o galerista.
O artista Fernando Peres, 41 anos, também é referência na busca por formas alternativas de expor e comercializar a própria produção e de artistas com quem mantém afinidades. À frente do Lesbian Bar, no Poço da Panela, Peres diz identificar dois momentos diferentes de intensificação do mercado de arte local.
“O primeiro, no final dos anos 1970, início dos 1980, com galerias muito fortes. Época da pintura dos políticos de João Câmara, produção de Francisco Brennand, Gil Vicente, muito jovem e já muito requisitado, uma época da pintura e da escultura. No segundo boom, mais recente, tivemos novamente várias galerias, mas dessa vez apostando numa diversidade maior de artistas, com uso não só da pintura, do desenho, da gravura e da escultura, como é o caso de Bruno Vilela, que, além de pintar, fotografa, e de Rodrigo Braga, que produz filmes e fotografa, assim como Marcelo Coutinho e Oriana Duarte”, analisa Peres.
A trajetória de Peres é marcada pela construção de espaços em que habita, mas também produz e expõe seus trabalhos. Foi assim com o coletivo Molusco Lama (duas casas na Praia dos Milagres, em Olinda, por onde passaram mais de 40 artistas), a Menor Casa de Olinda e a Mau Mau, nas Graças.
“Agora está tudo um tanto decadente, como se o produto de arte não fosse mais tão cobiçado. É mais interessante o carro, a internet, o iPhone. O público consumidor, a classe média, ou já tem obras herdadas da família, ou vai investir em algo novo. Não existe mais o fetiche, nem mesmo a noção de investimento, que ficou restrita a figuras mais antigas”, arremata Peres. ![]()
PAULO CARVALHO, Jornalista e mestre em Comunicação pela UFPE.
RAFAEL MEDEIROS, fotógrafo, especializado em gastronomia e publicidade.
Leia também:
Os desencontros do mercado
Um olhar sobre o mercado de arte no Brasil