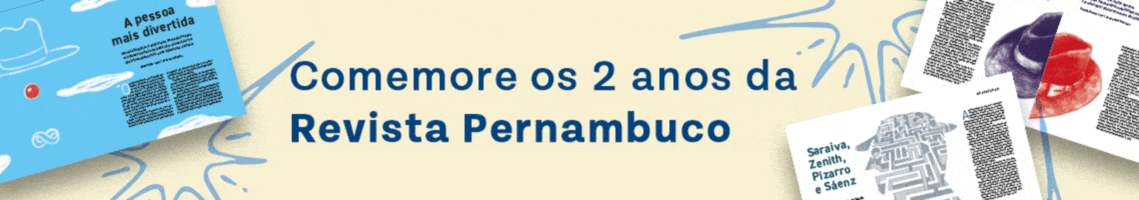Facebook: O que está no entorno do verbo “curtir”
Dispositivo da rede social imaterializa o impulso natural do homem de socializar-se, tornando-se o mais novo trunfo nas relações humanas e atraindo o olhar corporativo
TEXTO CAROL ALMEIDA E SCHNEIDER CARPEGGIANI
01 de Setembro de 2011

Imagem Hallina Beltrão
[conteúdo vinculado à reportagem de "Internet" | ed. 129 | setembro 2011]
A receita de bolo de liquidificador, a mais nova linha de esmaltes cintilantes, o popular cachorro Boo, a piada pronta sobre a política nacional, a política nacional, as guerras lá fora, esta revista, seu vizinho, seu amor, seu estranho, a morte daquela celebridade que você “curtiu”, ainda que o verbo não seja condizente com a natureza da notícia... O que nos leva de volta à receita de bolo de liquidificador – esse conjunto de coisas tangíveis e intangíveis, que é possível “curtir” em um dia no Facebook e no Twitter. E não apenas curtir. Mas “curtir” para os outros. O que, na verdade, tem nome próprio e se chama compartilhar.
Um impulso que é natural do homem, esse de compartilhar, mas que até bem pouco tempo não tinha as ferramentas necessárias para que fosse vivenciado numa escala industrial, a ponto de transformar esse gosto dirigido em uma dinâmica social, ironicamente, mais profunda e cheia de camadas. Ironicamente, porque tomamos esses gostos – ou likes, como batizaria Mark Zuckenberg, nome por trás do Facebook –, por trivialidades do cotidiano, escapa-nos a memória recente de um tempo, não muito lá atrás e ainda presente em diversos setores da sociedade. Um tempo em que nossos gostos eram ditados por esse Godzilla a que se costuma chamar de “grande mídia”.
Prova de que esse comportamento em redes sociais interfere diretamente na secular mediação das grandes editoras, jornais e emissoras de TVs, e passa a diluir a figura do intermediário, é a atenção especial que tanto empresas quanto governo têm dado a essas mesmas redes – ora interessados, ora preocupados com suas possibilidades. Tomemos, por exemplo, a presença cada vez maior de pessoas jurídicas fincando espaço nesse imenso lote social, usando tais canais não apenas como um meio de comunicação imediato com seus clientes/consumidores, mas buscando métricas que indiquem tendências de comportamento cada vez mais voláteis. Em agosto, deste ano, o Facebook colocou no ar o seu Facebook para Empresas, página especial para criação de perfis corporativos, descrita como “aprenda como prosperar seu negócio com nossas poderosas ferramentas de marketing”.
O segundo movimento já acontece na China, Coreia do Norte, alguns países do Oriente Médio e, mais recentemente, na Inglaterra, onde o governo se assustou com a intensa troca de informações em redes sociais, geradas durante manifestações de jovens contra o sistema. Na opinião do governo britânico e desses demais governos citados, o compartilhamento coloca em perigo o resto da população e, por isso censurar, e, mais grave, monitorar o que as pessoas pensam e “gostam” é o novo pretinho básico da fórmula vigiar e punir.
Enquanto isso, nossa atividade online cresce, embora ainda seja ínfima, quando comparada ao que pode se tornar. Até porque a porcentagem de pessoas que, de fato, produzem ideias e opiniões – quando as acham disponíveis – é ainda muito baixa. Os voyeurs de redes sociais ainda são a maioria.
Estudioso das redes sociais, Clay Shirky denomina o conteúdo criado por amadores na internet de “excedente cognitivo”. Foto: Divulgação
BALANÇAR DE CABEÇA
Mas nem todos são “deslumbrados” com as possibilidades por trás de um toque na tecla “curtir”. “Não podemos achar que o comportamento de uma pessoa no Facebook ou no Twitter seja muito diferente daquele que ela teria numa mesa de bar. Você não vai tomar um partido, antes impensável, só porque está conectado a uma rede social”, aponta Breno Fontes, professor do Departamento de Sociologia da UFPE, que complementa: “A discussão em relação ao comportamento das pessoas na internet, em alguns momentos, lembra os apocalípticos, que declaravam que o telefone distorcia a natureza das conversas”.
Michel Lent, publicitário do Grupo Pontomobi, reforça que nosso comportamento em redes sociais digitais é tão somente uma reprodução de nossa vivência, vamos dizer, analógica: “Nas redes sociais, digitais ou não, você está fazendo parte de uma conversa e há vários níveis para você participar dela. Você pode simplesmente ouvir, que é o que a maioria das pessoas faz na verdade. Não tenho estatísticas com os botões de like, mas as participações em fóruns e coisas mais opinativas perfazem menos de 1% do total de gente que tem acesso àquela informação. As pessoas ainda participam pouco. O que esses botões de like ou curtir permitiram a elas foi um balançar de cabeça. Se você está sentado no bar com seus amigos e tem alguém falando algo com que você concorda ou discorda, basta balançar a cabeça, timidamente, para se expressar”.
Clay Shirky, referência em estudos sobre redes sociais e professor da Universidade de Nova York, onde Michel Lent estudou, chama esse conteúdo que criamos de “excedente cognitivo”. Mesmo que seja o já prosaico ato de apertar o botão de curtir do Facebook ou o retweet (RT) do Twitter (quando se repassa para seus “seguidores” o texto ou link publicado por outra pessoa), toda essa movimentação ativa na rede cria um volume de conteúdo que pode, como vários outros excedentes em nossas vidas, ser jogado fora. Mas pode também ser reciclado em motivações ora de entretenimento, ora cívicas. Em comum, todas essas motivações nascem amadoras e, justamente por isso, ganham logo uma escala pública. Shirky dá explicações cientificamente testadas, mas deixa claro que esse caráter amador, que vem do verbo amar, é essencial para explicar por que essas iniciativas que agregam, hoje comumente representadas na simbologia das chamadas hashtags, dão tão certo e têm potencial para mais.
Daniela Arrais, jornalista e blogueira do www.donttouchmymoleskine.com, cujas métricas online a identificam como alguém de “muita influência” em redes sociais, é uma das responsáveis pela criação de uma popular ação de engajamento com fins exclusivamente agregadores. O Instamission, projeto que pede às pessoas fotos feitas via Instagram (aplicativo de imagem popular do iPhone), criadas sempre a partir de um tema, surgiu dos gostos da própria Daniela e da amiga publicitária Luiza Voll.
“Este ano li sobre a fomo (fear of missing out), uma síndrome que acomete todos nós que passamos horas online. Sabe quando você está em casa e começa a olhar o Instagram e, imediatamente, sente que deveria estar na rua, vendo uma exposição, curtindo um piquenique no parque? Pois, então, isso é fomo. Você não quer perder a chance de contar para o mundo como sua vida é legal, como seu dia a dia vai além do trivial. Afinal, ficar em casa assistindo a um filme atrás do outro não rende fotos bonitas, por mais que existam 213 filtros à sua disposição. Mas, aí, você se pergunta: se eu estou feliz em ficar em casa, qual é o problema de acompanhar a vida dos amigos e dos conhecidos? Nenhum. Mas a gente vive tanto na internet, que é a coisa mais normal do mundo transpor alguns elementos da rede para a vida real. A gente vive num mundo de likes e RTs. Parece que não basta mostrar um vídeo, compartilhar uma música. A gente quer o respaldo dos outros para um gosto que é nosso, mas que parece valer mais quando endossado por uma pequena multidão. Fico refletindo constantemente sobre isso”, afirma Daniela.
Mark Zuckerberg, criador do Facebook, é responsável pela ideia do botão like ou “curtir”. Foto: Divulgação
O que ela descreve, a partir de suas experiências, é também aquilo que Michel Maffesoli, cientista social francês, fala, quando diz que uma comunidade se define por uma “pulsão de estar-junto” e não exatamente por um “projeto voltado para o futuro”. Ou seja, mesmo se o “excedente cognitivo” criado por todos aqueles que compartilham ideias no Facebook, Twitter, Orkut e adjacentes tiver um critério cívico, ele só se alimenta do tempo presente, da movimentação do agora. A importância que damos ao tempo presente, ratificadas por essas redes, “dá dignidade ao tempo vivido”, diz Maffesoli.
REFLEXÃO E REFLEXO
Em 1962, três alunas de uma escola na Tanzânia começaram a rir sem parar. De uma forma inesperada, esse riso foi sendo “transmitido” aos demais alunos e, logo, 95 estudantes estavam rindo descontroladamente. A “risadaria” começou a ganhar status de epidemia. Desse raro fenômeno, surgiu o primeiro estudo científico sobre o chamado “contágio emocional” que as pessoas sofrem. Segundo Gil Giardelli, professor de Redes Sociais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), o que as redes sociais fazem é deixar evidente que não somos imunes ao contágio emocional, uma vez dentro desses ambientes cujas ferramentas de curtir ou retweet facilitam nossa, digamos, contaminação.
“A lógica dos chamados trending topics (tópicos mais comentados no Twitter) é que quando você passa de um certo número de pessoas que escreveu aquilo, se tem um processo em que o assunto começa a se autoalimentar”, explica ele.
Bia Granja, curadora do youPix, maior festival de cultura da internet do Brasil, acredita numa lógica de “boiada”, quando pensa na infinidade de retweets e de curtir que vê pela frente todos os dias: “Tem gente que me pede para comentar certos assuntos no Twitter só pra que elas possam dar RT. Todo mundo quer dar opinião, desde que seja uma opinião com a qual ela saiba que outros vão concordar. Por isso, algumas pessoas vivem de RT de outros: é fácil se envolver com a questão, mas se alguém questionar, você manda a pessoa falar com o autor do comentário original”.
“Eu acho que as pessoas nunca tiveram tanta liberdade opinativa que pudesse, de fato, ecoar quanto agora. Isso também faz com que as pessoas se envolvam num número maior de coisas, simultaneamente. Antes, se estávamos vendo novela, dificilmente poderíamos fazer outra coisa. Hoje em dia, a gente assiste à novela ‘tuitando’, ao mesmo tempo que dá RT em uma piada e ouve música no iTunes. O episódio da novela acaba e partimos para comentar outra coisa. Como, na internet, estamos expostos a muito mais informação, obviamente, acabamos partindo para outros assuntos mais rapidamente. O que não quer dizer que não nos aprofundemos em nada ou que todo nosso envolvimento com as tendências/redes seja superficial”, acredita Bia.
Tanto não é superficial, que um pai fez campanha no Facebook para que os internautas o ajudassem numa questão doméstica: se ele atingisse um milhão de toques na tecla“curtir”, colocaria o nome Jaspion no seu filho, referência ao herói da série B japonesa. Até o fechamento desta edição, nem a metade dos internautas havia “curtido” essa história. Ainda assim, ela levou muita gente a desejar que houvesse uma tecla “descurtir”, pura utopia quando pensamos no caráter de agregar seguidores de forjar simpatias, próprio das redes sociais. E, por falar em edição: você já nos “curtiu” no Facebook? ![]()
CAROL ALMEIDA, jornalista e mestre em Comunicação pela UFPE.
SCHNEIDER CARPEGGIANI, repórter do Jornal do Commercio, editor do suplemento Pernambuco e doutorando em Teoria da Literatura.