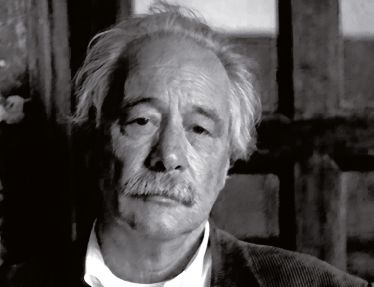

'Winnie', 2019
Foto Divulgação
[conteúdo na íntegra | ed. 263 | novembro de 2022]
Vestida com uma calça semiaberta de cor de laranja e camisa branca, uma mulher está deitada sobre um piso de madeira: parece de alguma maneira lutar contra seu próprio corpo. São close-ups, não conseguimos enxergá-la por completo. Abre a própria boca com a ajuda das mãos. Em determinado momento, com alguma suavidade muito ambígua, coloca somente o indicador e o dedo médio dentro da boca. Dá para entrever seus dentes. Repuxa a pele da sua barriga, como se buscasse rasgá-la ou machucar-se. Parece testar o limite do dedão contra o maxilar e ver até onde vai, ver até onde o corpo vai. As imagens, que são seis pinturas em tinta óleo sobre papel, compõem uma série intitulada A perigosa, que fez parte da exposição individual Bacante, apresentada em 2019 pela artista paulistana Regina Parra na Galeria Millan, em São Paulo.

A Perigosa, 2019. Imagem: Divulgação
É difícil saber se são recortes de uma cena de sofrimento ou de um orgasmo, e é para esta e outras indefinições, ou pontos de opacidade, que a obra da artista volta-se com dedicada insistência. Em uma sociedade em que a mulher que afirma o desejo ou o poder sobre o seu próprio corpo é tida como um perigo para ordem, nada mais adequado que a ambiguidade que essa própria coragem de assumir sua potência traz a reboque.
A ambivalência das obras de Regina, esse caráter paradoxal das suas afirmativas, é uma rota pré-traçada e não uma simples fatalidade. Em uma entrevista a Gisela Gueiros em 2020, ela afirma que suas produções partem sempre de incômodos, e que, pela falta de resolução deles, ou melhor, pela intensificação do incômodo, é que a obra vai se construindo: “o que me interessa é encontrar autores e referências e interlocutores que vão fazer esse problema inicial, digamos, ficar mais agudo”, diz na conversa.
É o impenetrável, em certa medida, que atrai a pesquisa de Regina. Derrida, no seu livro Resistência à psicanálise, referência cara à artista, fala sobre a ideia de Freud a respeito de uma espécie de “umbigo do sonho”, que seria aquele espaço onde não é possível o exercício do desvendamento, onde há significados que excedem a análise. É na aceitação dessa resistência, desse nó do que não pode ser resolvido ou relatado, que a arte de Regina compartilha desse mesmo tipo de segredo ou mistério
Ainda na mesma exposição, uma performance é apresentada em frente à parede onde os quadros estão dispostos. Na parede oposta, um neon com uma adaptação de versos da poeta grega Safo brilha: “febril e sem ar quase morro”. Em parceria com a artista Ana Mazzei, Parra desenvolveu objetos feitos de couro e madeira nos quais nove mulheres eram amarradas pela cintura enquanto elevavam o corpo do chão, presas aos cintos que faziam o corpo retornar à controlada posição inicial. Entre a dança e a tortura, a performance se desenrola em diálogo com o desejo das bacantes de Eurípedes e a contenção histórica do desejo feminino.

Bacante, 2018. Imagem: Divulgação
Para se afetar por esse conjunto de obras e compreender a centralidade da discussão do corpo feminino não é preciso saber das referências utilizadas pela artista, pois as obras falam a partir tanto de suas transparências quanto dos seus mistérios. Mas, para entender o momento atual da sua carreira, é interessante compreender a conexão de Regina com o teatro e, especialmente, a tragédia grega, de onde vem a peça que empresta o nome (mas no singular) à exposição que tentei descrever em parte aqui.
DRAMATURGIA DO CORPO
Regina Parra nasceu em São Paulo, em 1984, é formada em Teatro e chegou a trabalhar como assistente de direção de Antunes Filho, no começo dos anos 2000. Depois, foi viver no Rio de Janeiro, onde estudou no Parque Lage, e começou a sua trajetória nas Artes Visuais propriamente, explorando diversas linguagens, como vídeo, fotografia, pintura, neons e performances. Seus primeiros trabalhos, que ouso aqui chamar de uma primeira fase da sua carreira, apesar de já interessados no corpo, são centrados sobretudo em questões relacionadas ao colonialismo, à imigração e às narrativas oficiais.
Entre 2011 e 2013, ela observa que estava debruçada em questões mais relacionadas ao controle do corpo no espaço: “Por que alguns corpos podem circular livremente e outros não? Quem regula e quem determina esse controle? Quem são os agentes? Onde estão e como são delimitadas as fronteiras não ditas?”. Fazem parte desse período trabalhos importantes, que trazem, sobretudo, a exclusão política dos imigrantes como tema, como 7536 passos – Por uma geografia da proximidade (2012); Sobre la marcha (2011) e As pérolas, como te escrevi (2011).

Tenho medo que sim, 2018. Imagem: Divulgação
No primeiro trabalho, a artista caminha alguns quilômetros do centro até uma comunidade de imigrantes bolivianos na periferia de São Paulo, sintonizando um rádio que capta, com cada vez mais clareza, a programação de uma transmissão pirata em espanhol. Os 7.536 passos dados pela artista do ponto de partida ao ponto de chegada atravessam as paisagens de São Paulo, levando um corpo circulável ao encontro de corpos excluídos e explorados pela metrópole. Em As pérolas, como te escrevi, imigrantes em situação irregular no Brasil são convidados a ler Mundus novus, carta escrita por Américo Vespúcio anunciando a descoberta do “novo continente”. Em um cenário árido, onde é impossível se localizar geograficamente, vozes, rostos e sotaques distintos travam uma luta com o idioma português, revelando a incessante exploração do Terceiro Mundo.
Nos vídeos citados anteriormente já há um forte cálculo dramatúrgico e um diálogo intenso com a palavra escrita, mas nos últimos anos, Regina assumiu o teatro como parte constituinte dos seus trabalhos de forma muito mais direta, entrando em uma rota de colisão cada vez mais clara com as artes cênicas, em especial com as personagens femininas dos textos teatrais.

Ofélia, 2018. Foto: Divulgação
“Mais recentemente comecei a abraçar isso sem muito pudor. E personagens de teatro e referências começaram a aparecer de maneira mais clara e intensa. Agora estou mergulhada numa pesquisa para duas exposições individuais. E uma das minhas vontades é trazer essa influência das artes cênicas não apenas como uma referência, mas como modo de pensamento e disposição dos trabalhos. Meu desejo é que a exposição possa ser entendida ou experenciada como uma grande encenação – onde pinturas, performances e sons atuem como elementos dessa encenação”, explica a artista, que vive atualmente em Nova York.
Para além de se tratar de sua primeira formação, tal movimento em direção a uma centralidade da dramaturgia e do corpo feminino nos seus trabalhos foi alavancado também por uma crise do seu próprio corpo. A artista enfrentou por anos uma doença genética rara, chamada miopatia mitocondrial. “Durante um período que durou cerca de cinco anos, o meu corpo foi progressivamente perdendo força e perdendo alguns movimentos. O corpo, que já era uma questão – mas uma questão mais ampla, mais social ou política – passou a ser uma questão central e muito próxima. Nesse momento, eu comecei a trabalhar em colaboração com o coreógrafo Bruno Levorin, e com duas dançarinas: Clarissa Sacchelli e Maitê Lacerda. Juntos, desenvolvemos Lasciva – uma série de partituras coreográficas.”, conta Regina.

Lasciva, 2018. Imagem: Divulgação
O corpo parece ganhar a dimensão de território do desconforto, e passa a ser um lembrete da fragilidade, sendo explorado sob uma crescente curiosidade da artista pelo corpo feminino, em específico, e também pelas narrativas a seu respeito e à reação contida nessa construção. Uma reação que remete, sobretudo, à força. É assim em Lasciva, obra citada pela artista.
RECUPERAÇÃO DO DESEJO
A palavra histeria deriva do grego hystera (aquilo que se move no útero) e foi usada pela primeira vez por Hipócrates, mas se popularizou a partir do diagnóstico de mulheres pelo médico francês Jean-Martin Charcot. É a partir de uma série de fotografias tiradas pelo médico no Hospital Salpêtrière, retratando mulheres em supostas crises histéricas, que Regina desenvolve a partitura coreográfica a que se refere acima.
Ao encerrar o corpo dessas mulheres em um diagnóstico, há uma tentativa de enquadrar o desejo feminino como doença, domesticando suas sexualidades, fabricando uma fragilização desses corpos. O que ela pergunta é, basicamente: como puxar o desejo de volta? A resposta, ou melhor, o aprofundamento da pergunta, como provavelmente preferiria a artista, é a interpretação coreográfica proposta em Lasciva, um exercício político-imaginativo, que tenta restaurar o desejo subtraído. “Estar pacientemente próximo dessas mulheres, disposto a ver na imobilidade de uma imagem as vibrações que impulsionam a vida e o gesto dos desejos mais lascivos”, diz o texto disponibilizado no site da artista. O vídeo da peça coreográfica também pode ser assistido na plataforma.
Também deriva da inspiração nas fotografias de Charcot uma série de pinturas feitas entre 2018 e 2019, que tomam como títulos os rótulos aos quais eram submetidas estas mulheres, como “a libidinosa” ou “a febril”. A mulher dessas e de outras pinturas é a própria Regina, que assume o exercício complexo de ação pictórica, performance e encenação. “Quando uso meu corpo nas pinturas entendo que estou num lugar entre a performance e a encenação. Performance, porque preciso sentir com meu corpo e minha pele certos movimentos. Existe uma investigação física aí. Mas também encenação, porque sei que estou atuando. Como uma atriz que usa o próprio corpo para ser atravessada por uma personagem”, explica.
As mulheres sem nome e com rótulos das fotografias de Charcot, a Diadorim de Guimarães Rosa, as Bacantes de Eurípedes, a Ofélia de Shakespeare, a Winnie de Beckett –todas são personagens femininas de grandes narrativas escritas por homens e todas serviram e vêm servindo a Regina como ponto de partida ou de chegada para algumas de suas obras mais recentes. Digo “de partida ou de chegada” porque nem sempre é a personagem que surge de imediato para a artista. O seu processo criativo, que envolve um sem-número de leituras, geralmente parte apenas do incômodo, como a imagem de um refugiado afogado no canal de Veneza, na Itália, em 2017.

Que espécie de coragem, 2018. Imagem: Divulgação
Turistas passavam de barco e filmavam a cena com seus celulares, sem oferecer socorro. A partir dessa cena-incômodo, a artista mergulha em uma pesquisa ampla sobre o afogamento e chega, em algum momento, à afogada por excelência, a Ofélia de Shakespeare. A personagem, que é de uma fragilidade inquietante, sempre à mercê dos movimentos masculinos da narrativa, é uma das imagens mais icônicas da história das artes visuais em seu plácido afogamento, numa pintura do artista britânico John Everett Millais.
Em mais uma parceria com Ana Mazzei, Parra desenvolve uma performance apresentada no Masp, na exposição Histórias feministas, em 2019. Intitulada Ofélia, a performance não remete ao afogamento ou à fragilidade da personagem, mas, sim, às suas falas, aos fragmentos nos quais é possível entrever a complexidade de uma mulher em contenção. Nove mulheres de calça jeans e camiseta passeiam pelo espaço expositivo com placas exibindo frases da personagem, que se assemelham a cartazes de um protesto, mas emoldurados por estruturas de madeira que também os fazem parecer armas, armaduras ou escudos. A Ofélia retorna para um embate com o público.
A FRAGILIDADE E OS NEONS
As falas de Ofélia, que trazem frases curtas da personagem, remetem a um trabalho constante de Regina com esses deslocamentos verbais em inúmeras obras. Por que tremes, mulher?, trabalho de 2016, traz a frase do título em uma pintura a óleo e cera sobre papel, que reproduz a fonte amarela das legendas de cinema sobre um fundo verde escuro de uma mata fechada. A frase é um verso de Castro Alves, do poema Tragédia no lar, em que descreve o desespero de uma mulher escravizada diante do perigo de seu filho ser vendido. O mesmo cenário da mata fechada, um indício da falta de caminhos possíveis, do encurralamento, também está no vídeo Capitão do Mato, do mesmo ano.
As placas de neon também são um exercício de “sequestro” de trechos de obras pela artista, e que compõem tanto instalações complexas quanto despontam solitárias em pontos públicos das cidades, como é o caso de É preciso continuar (2018), que foi instalada no Largo do Batata em São Paulo, na época dos atos #Elenão contra Jair Bolsonaro. O neon traz as frases: “É preciso continuar/ Não posso continuar/ Tenho que continuar/ Vou continuar”, retiradas do romance O inominável, de Beckett. O que surge de uma questão pessoal de Regina contra a doença que a acometia na época virou uma frase que traduzia a necessidade do esforço constante e difícil. Nada mais adequado, ainda mais onde nos encontramos agora, alguns intermináveis anos de governo bolsonarista depois.

É preciso continuar, 2018. Imagem: Divulgação
Mas o mais interessante das frases que Regina elege para destacar nas letras vermelhas gritantes dos neons são a ambiguidade e os espaços vazios contidos nelas, em uma franca coerência com todos os seus trabalhos. Há sempre um verso e um reverso, algo que diz e desdiz, como um beco sem saída que dialoga com a própria estrutura impactante, mas frágil e passível de falha dos luminosos, que estão sempre por queimar.
Chance (2015-2017), trabalho que faz parte do acervo da Pinacoteca de São Paulo, também traz essa ambiguidade do que se deseja, ao passo que é também um duro lembrete de que há um limite. Ao ler que há uma grande chance, há, a um só tempo, a sensação de que tudo pode dar certo ou errado a partir de um movimento iminente. “É possível, mas não agora”, diz outro de seus neons. Ou “mais um dia”, frase reincidente da Winnie, personagem de Dias felizes, também de Beckett, que passa toda a peça enterrada da cintura para baixo e mantém uma felicidade injustificada e alucinante. Em Manter-se aterrorizada, tornar-se terrível, neon de 2016, a frase é retirada de um texto de Franz Fanon e vertida para o feminino, e a ordenação das frases espelhadas faz com se tornem o reverso e o espelho uma da outra. Qual a resposta? Regina não oferece. É sempre lacuna e pergunta.

Chance, 2015. Imagem: Divulgação
O exercício de provocação do espectador a partir do corpo e do texto nas obras da artista está sempre atrelado a questões políticas importantes, com temas que, mesmo que remetam a textos clássicos ou poemas, são atualizados no corpo e no mundo contemporâneo e suas questões mais latentes.
“Não acredito numa prática artística que seja desvinculada do mundo real”, diz a artista. “O mundo, o entorno e tudo o que vem com isso sempre informaram minha prática. Quando estou pesquisando ou produzindo, não penso na dimensão política do meu trabalho, mas tento entender como aquilo que me atravessa pode ser traduzido visualmente e atravessar ou reverberar em outras pessoas. Entendo o trabalho de arte como uma experiência compartilhada. Esse compartilhar, que é um lugar de encontro e confronto, é a dimensão política que mais me interessa.” ![]()
JULYA VASCONCELOS, jornalista, escritora e curadora.







