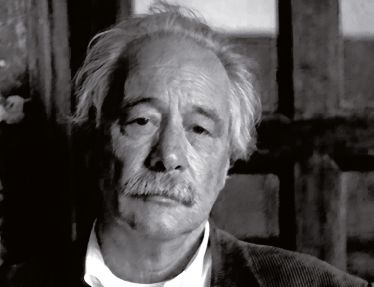
Recompondo a memória
Leia alguns contos do livro 'Garrafas que sonham macacos', de Everardo Norões, publicada pela Cepe Editora
TEXTO Everardo Norões
01 de Novembro de 2022

Ilustração Matheus Melo
[conteúdo na íntegra | ed. 263 | novembro de 2022]
VISITA A ARTABAN CITY
Conheci Peter Shaw na cidade de Artaban.
Sentou-se à mesa ao lado da minha e disse bom-dia num inglês com sotaque diferente. Logo descobri que era canadense. Muito branco, magro, cerca de um metro e noventa de altura, cabelo ruivo cortado à moda de pajem da Idade Média. Para completar, vestia bermuda colorida e camisa estampada que não combinavam. Isso há três anos, quando procurei um lugar para finalizar minha tese. Meu colega Franco Minelli, italiano, professor de Literatura Comparada, indicou-me o lugar onde, segundo ele, um mês valia por um ano.
Artaban é uma ilha de um arquipélago do Oceano Índico, com cerca de trinta quilômetros quadrados. Sem aeroporto, a travessia até o continente dura cerca de três horas, a bordo do pequeno navio de uma companhia de turismo italiana. O cais de atracação acolhe somente embarcações de baixo calado.
A única cidade tem menos de 3 mil habitantes. O resto é campo devastado pelas intempéries. Elas assolam a ilha durante as monções, das quais escapam poucos vegetais. As ruas são estreitas, as casas simples, de porta e janela. Baixas, para não serem destelhadas pelas tempestades. Assemelham-se às moradias tradicionais dos pescadores dos Países Baixos, que assim se protegem dos ventos ciclônicos do Mar do Norte.
O território é exíguo para o cultivo, mais ainda para pastagens. Além disso, o gado importado não se adaptou às borrascas que desabam entre julho e setembro. Por determinação do governo da ilha, o leite em pó, geralmente importado da Holanda, acondicionado em tambores, é destinado exclusivamente às crianças de até quatro anos e aos dois hotéis perto do lago. A medida parece um despropósito, pois as taxas de emigração são altas e quase não há crianças na ilha.
As pessoas locomovem-se a pé ou em bicicletas, também adaptadas para transporte de mercadorias, como em alguns países asiáticos.
Raramente ouve-se conversas nas ruas, ruído de motores ou aparelhos de som. O silêncio amplifica o fragor das marés batendo contra o molhe. Na calçada que beira o quebra-mar, os homens passeiam de mãos dadas enquanto as mulheres permanecem sentadas na mureta de pedra.
Artaban lembra algumas cidades do Brasil nos anos 1950, quando as pessoas ainda vestiam terno e chapéu para ir aos estádios de futebol, não se falava em obesos e faziam-se piadas com os gordos nas cerimônias de queima do Judas.
Nos primeiros dias, hospedei-me na pousada construída com rochas vulcânicas, a Ruzwrilang Star. No quarto, o indispensável: cama de casal, mesa de cabeceira, armário, banheiro e um sanitário turco. Nem ar-condicionado, nem aparelho de TV. Era difícil fechar completamente as janelas, as frestas deixavam entrar um pouco da luz da rua. Adormecia ouvindo as ondas, tão fortes que às vezes me despertavam, dando a impressão de alguém batendo à porta.
Na pousada, o café da manhã era frugal. Não lembro os nomes das frutas exóticas, servidas em pequenos cestos. Coloridas, alegravam o desjejum. Mas o pão era insípido e servido com manteiga rançosa, feito com trigo importado armazenado durante meses.
Desde o início, percebi que Peter Shaw queria conversa. Durante o tempo em que estivemos no restaurante não avistamos outros hóspedes. Esforcei-me para entender sua fala, permeada de gírias. Contou que havia feito curso superior de Matemática. O jeito como se expressava e o rigor nas perguntas davam a impressão de que, para ele, tudo poderia ser transformado num algoritmo ou demonstrado por teoremas.
Saímos juntos após o café. Levou-me à Praça dos Três Dromedários, no centro de Artaban, semelhante ao zócalo de cidades latino-americanas onde se cruzam as principais ruas. A praça fica ao pé da única colina da ilha. A descida é feita por uma escadaria com corrimão de madeira, bem torneado, baixos relevos representando uma fila de elefantes. No centro da praça, a imitação de um oásis: um tanque cercado por doze palmeiras e três esculturas de dromedários em tamanho natural. Em torno, barracas multicoloridas com frutas, sementes torradas, sucos e objetos artesanais feitos com conchas e corais.
Perguntei-lhe a razão dos dromedários, animais do deserto, que nada tinham a ver com a ilha. Contou-me que a praça havia sido projetada por um inglês meio maluco que chegou ali no início do século XX e fixou residência, casando-se em seguida com uma nativa com quem teve vários filhos. Seu túmulo era venerado pelos locais, que o consideravam um marabu, espécie de santo. A lenda rezava que viveu algum tempo na Península Arábica e se salvara de um naufrágio.
Peter mostrou-me o nome do inglês, Steve Mountain, gravado na pirâmide erigida na entrada da praça. No Balai kota, “prefeitura” no idioma local, há uma pintura a óleo com dois metros de comprimento e um metro e meio de largura. Steve Mountain está representado montando um alazão, na frente de uma casa em estilo inglês com elementos pré-fabricados em ferro, parede de tijolo aparente, cercada por uma balaustrada e tendo como paisagem de fundo uma colina e árvores tropicais. Seu porte militar e o fato de ter vivido num país do Oriente motivou historiadores locais a investigar acerca de sua presença na ilha. Talvez fosse um desertor das tropas de Lawrence. De fato, sua chegada coincidia com o período em que o militar inglês lançou-se numa de suas campanhas espetaculares pelo deserto, dificilmente suportáveis por combatentes estranhos ao mundo tribal da Arábia, no qual a piedade era virtude descabida.
No terceiro dia, após três doses de aguardente, no terraço da pousada, Peter revelou estar ali por dois motivos: pesquisas musicais e uma depressão que o acometia a cada inverno canadense.
Era guitarrista de uma banda de amadores, a Unta Abang Jazz, que traduziu como sendo “Jazz do camelo vermelho”. Tentava desenvolver um instrumento de treze cordas para tocar suas composições, com afinação aperfeiçoada por técnicas ancestrais utilizadas por músicos da ilha. Os Beatles, segundo ele, teriam sido influenciados pela tradição musical indiana. Pessoas com ouvido absoluto poderiam observar isso em algumas das melodias do grupo. A música em Artaban parecia-lhe ainda mais “esculpida” (a palavra que usou, em inglês, foi mesmo carved). Isso porque, desde o século XVII, artesãos e músicos haviam se organizado numa espécie de guilda secreta com o objetivo de confeccionar cordas para seus instrumentos a partir de ligas especiais feitas com minérios raros da região. Dois violinistas russos e um músico ligado ao Partido Comunista Italiano haviam estado ali nos anos 1980, tentando a mesma coisa.
Era sua quinta temporada em Artaban. Em cada uma delas, permanecia de duas a três semanas. Tentava ganhar a confiança de quem pudesse ajudá-lo na busca quase insana da perfeição musical. Percebia-se seu entusiasmo quando falava. Mesmo assim, custei a acreditar que pudesse, por esse motivo, viajar tantas vezes para um lugar inóspito como aquele. Também pensei que bem poderia estar envolvido em atividades clandestinas e suas histórias eram cortina de fumaça para esconder o motivo das repetidas viagens. Um lugar tão desconhecido, no meio do Oceano Índico, ideal para a implantação de uma pequena base logística, como a de Carlos Lehder, o narcotraficante que comprou a Ilha de Cay Norman e a utilizava como apoio para inundar os Estados Unidos com suas exportações de cocaína.
— Só na música encontrei a paz que desfruto aqui. Paz que nunca obtive nem com mulheres, nem com drogas.
Foi o que me disse, com muita ênfase, durante o passeio. Mais tarde, informou-me que seu desassossego tinha outro motivo.
Quando estudante, no início de sua carreira, ganhava alguns trocados como baby-sitter para financiar a banda. Duas vezes por semana cuidava de uma criança com sintomas de autismo. Num dia extremamente frio, enquanto passeavam, entrou num café para comprar cigarros e conversar com fãs de sua banda. A conversa girou em torno de músicas de sucesso nas paradas e da participação cada vez maior de mulheres nas bandas de rock, metal, blues. Demorou-se mais tempo no café e quando se lembrou do menino, que deixara do lado de fora, já era tarde. Abriu a porta e ele estava imóvel, enregelado, olhos fixos. Cobriu-lhe com a manta e saiu empurrando o carrinho enquanto ouvia o barulho da máquina quebra-gelo abrindo caminho para os automóveis. Confessou que durante dois anos levara uma vida de ausência. Não lhe perguntei o que acontecera para não agravar seu desalento. Concluí, por seus comentários, que Peter fora punido por um crime culposo. E passara a sonhar que morria congelado: o sangue solidificando-se nas veias e artérias enquanto o cérebro produzia imagens fantasmagóricas de grande beleza ou de grande terror.
Em nossa última conversa, despedi-me sem a intenção de reencontrá-lo. Não trocamos números de telefone ou endereços eletrônicos. Precisava desvencilhar-me de Peter para não acabar subjugado por sua presença, comprometendo o isolamento necessário à revisão de meus textos. O que aprendi em sua companhia foi suficiente para construir um personagem enigmático, uma ficção. Além disso, percebi que o convívio com certas pessoas é um “desremédio”, como diria Lucy, minha colega de departamento, especialista em neologismos.
No dia seguinte, mudei-me para um hotel três estrelas, pouco melhor do que a pousada Ruzwrilang Star. Precisava aproveitar com mais conforto meus últimos dias na ilha.
Tinha pouca bagagem: um par de tênis, uma valise, mochila, máquina fotográfica, laptop. As duas hospedarias ficavam próximas. A mudança foi rápida. No Astor Hotel, mais “moderno”, com serviços nos moldes “ocidentais”, trabalharia com mais afinco.
Fiquei mais uma semana. Na véspera de minha partida avistei Peter da varanda do meu quarto. Atravessava a rua caminhando devagar, metido em sua eterna bermuda colorida. Estava sendo seguido a uma distância de três ou quatro passos por dois homens baixinhos vestindo traje cáqui, como nas colônias inglesas. Estava próximo de um edifício público caiado de amarelo, com inscrições no idioma local. Vi quando um passante o olhou de viés e fez um gesto para um dos homens que o seguia: mão no pescoço sugerindo degola.
Logo desapareceram. Afastei Peter de minhas preocupações. O que me importava o destino de um gringo?
Antes de voltar, percorri a pé um trecho da praia. Passei mais uma vez pela Praça dos Três Dromedários, onde comprei objetos de artesanato para os colegas. E um lenço de seda com motivos geométricos para Cris.
No dia seguinte, o barco afastou-me lentamente daquele mundo movido pelo ritmo de um misterioso instrumento de cordas transformando cada música numa escultura de silêncio.
O GRANDE CUSPE
Peço a Carlinhos para aumentar o ar-condicionado e apoio a cabeça no encosto do banco.
Aos poucos, vou me distanciando da música do rádio e sou tomado pelo torpor que nos visita após o almoço em dias de ressaca.
Na fila de automóveis parados, vejo um braço com tatuagem de águia que pende de uma das janelas do ônibus ao lado. Perto dele, pela lataria do veículo, escorre um grande escarro. Nítido, brilhante. A gosma amarelenta dribla o número 322 pintado em vermelho na carroceria.
O sol cospe chumbo enquanto a “coisa” desloca-se de forma estranha, entre lesma e lagarto. É a metáfora de minha cidade, lugar sujo e cheio de pequenos indivíduos desgovernados, micróbios afogando-se num imenso rio cor de pus. Fosse um filme, teria como trilha sonora buzinas, motores a explosão, gritos de vendedores ambulantes e tiros.
Um rapaz moreno numa moto negra, capacete multicolorido e chinelo de borracha, aproxima-se do automóvel. Num passe de toureiro, esquiva-se do espelho retrovisor. Enquanto desaparece entre as brechas dos carros, uma sirene de ambulância ecoa cada vez mais próxima. Entrevejo macas no chão, corpos cobertos com jornais, transeuntes acercando-se para absorver de perto o tremor compassivo da desesperança.
É um trecho de avenida onde atropelamentos e choques violentos são corriqueiros. Hordas de motos desrespeitam as regras do trânsito, disputando com violência o tempo regido pelo grande relógio controlado por forças invisíveis.
Outro motoqueiro desvia-se do ônibus. Por pouco a manga da camisa não toca o fio viscoso que escorre lentamente. Ninguém parece notar o quanto, naquele mundo microscópico, pululam seres tão perigosos quanto os que nos ameaçam, em praças e ruas, com facas ou pistolas automáticas. Quase invisíveis, reproduzem-se em velocidade exponencial no interior daquele pequeno rio viscoso e nojento. Pressinto-os como seres ninjas invadindo minha cidade, lugar onde as pessoas têm o hábito de cuspir nas paredes, urinar nas calçadas, jogar o lixo nos canais. Espaços saturados de dejetos.
Apanho o jornal largado no assento traseiro do carro. Na primeira página, a fotografia de três crianças sírias mortas na guerra, juntinhas, embrulhadas em mortalhas brancas. São figuras de catecismo, semelhantes ao Cristo na descida da Cruz, envolto na alva mortalha. Provoca constrangimento a brancura do tecido, ao lado de outras notícias ilustradas com fotos coloridas, reportagens sobre casamentos, encontros sociais e políticos, além das tragédias policiais. As pequenas mortalhas têm dobras perfeitas, arrumadas com esmero para um último registro fotográfico.
Folheio o jornal. Em outra página, um adolescente atravessado por balas, o cadáver estirado no asfalto, recoberto com papelão. Comparo as fotos e pergunto-me, sabendo de antemão que não terei resposta, por que nos compadecemos de crianças mortas em outros lugares do mundo, enquanto os guris espatifados em ruas de nossas periferias nos causam repugnância.
O ônibus movimenta-se aos poucos. Para mais uma vez. É uma espécie de dinossauro meio sem jeito, deslocando-se tão devagar quanto as normas que regem a vida das pessoas nele entulhadas. A viagem em pé solicita destreza de acrobata: uma mão segura uma bolsa ou pacote, a outra agarra-se a qualquer coisa que permita o equilíbrio.
Do automóvel, avisto o tronco de um homem com brinco na orelha, boné vermelho com logomarca de uma grife em inglês. Duas mulheres que viajam em pé se entreolham.
O escarro cresce, avoluma-se. Deixa um rastro como a cola utilizada para remendar calçados, peças de madeira, plástico. E dopar crianças habituadas a cheirá-la em ritmo lento, através do gargalo de pequenas garrafas, enganando a fome e criando mundos com cheiro de framboesa.
Uma moça de short numa motocicleta azul. A moto estanca. No trânsito imobilizado, ela faz o gesto de quem comanda um pelotão de amazonas. A umidade deixada pelo escarro toca sua coxa morena, musculosa, depilada. Olha para cima, em direção à janela do ônibus, vê o braço tatuado.
Grita:
— Ei, cara. Olha a tua merda!
O braço não se mexe.
Ela grita mais uma, duas vezes.
Nenhuma reação.
Ao cabo de alguns minutos, saca da mochila uma caneta esferográfica, ergue-se na ponta dos pés. Sem sair do selim, toca com a ponta da caneta o olho da águia tatuada no braço dependurado, marcando um ponto azul na íris encarnada do pássaro.
Outras motos buzinam, pedindo passagem. A amazona insiste em permanecer ali até o dono do braço manifestar-se. O motorista do ônibus observa pelo retrovisor o entorno de seu território andante.
Olho a moça da moto. Percorro a linha de cintura desnuda no intervalo entre a blusa e o short, o ombro nu, na linha vertical da nuca uma pequena estrela vermelha. Ao sentir-se observada ela me olha de viés, rodopia na moto e sai em ritmo de allegro ma non troppo.
O fio de cuspe atinge a largura de um dedo e principia a mudar de coloração. Tem um tom cada vez mais amarelo-queimado. Breve terá a numeração 144 na escala Pantone, cerca de cinquenta por cento de magenta, quase violeta-púrpura. Magenta, cor do sangue derramado naquela região da Itália quando os italianos venceram os austríacos. Como deveria chamar-se essa mudança de cor, resultado de uma mistura de gamas cujos pigmentos provocam uma mutação atômica?
A gosma continua a escorrer pela lataria do ônibus, avermelhando-se, metamorfoseando-se num líquido carmim. Como se tivesse sido trespassada por um feixe ótico que dilacera moléculas, raio laser penetrando no umbigo de nosso pasmo.
Três edifícios em construção.
Num deles, a parede revestida de azulejo acentua o contraste com a calçada de cimento esburacada. Apesar de novo, o muro está pichado com sinais que marcam território, sinais de posse: feito a águia do braço pendente, há pouco desaparecida.
Descolo a cabeça do encosto do banco.
Fecho os olhos e vejo-me numa imensa cidade de avenidas em espiral e uma multidão de pequenos seres movendo-se como robôs.
A atmosfera que os envolve tem um colorido ligeiramente esverdeado de garrafa de refrigerante, grande tubo opaco dentro do qual esperneiam bichos estranhos.
Cidade de escarro e cinza, como a minha, marcada pelo desregramento de seres imperceptíveis, com poderes mais destruidores do que bombas de napalm.
CEMITÉRIO DE SAGUINS
Rosto esbranquiçado de caliça, Tião, contratado pela prefeitura para consertar calçamentos, escavaca um canto junto do muro e desenterra uns ossinhos. Pensa que podem ser de saguins. Ainda povoam aqueles resquícios de mata. Mas os crânios parecem maiores do que as cabeças dos macaquinhos que costuma avistar fazendo acrobacias em árvores e fios elétricos.
Remexe o lugar com uma colher de pedreiro, separa garranchos amalgamados à terra e deposita os ossos num galão de tinta vazia. Abre uma pequena cova ao lado de um tronco de embaúba. Enterra o galão e cobre com paralelepípedos. O vento derruba gravetos por cima das pedras. As cintilações de um raio de sol atravessam o arvoredo. Tião pensa que essa foi a visão de Paulo a caminho de Damasco, contada pelo pastor. Levanta, esfrega os dedos para se livrar dos restos de barro. Olha mais uma vez para a pequena cova. Por via das dúvidas, reza um trecho do salmo que sabe de cor. E vai embora.
À noite, sonha com anjinhos flutuando em frente à igreja de sua pequena cidade no interior, sinos num repiquete alegre, sem a pausa. Não é o toque destinado a defuntos maiores. Se são curumins, vão diretamente para o céu. Quando era menino, nas aulas de catecismo da outra igreja, era assim que o padre explicava.
Acorda assustado. Falta-lhe o sono. Num dia de conversa, contou a Joaquim sobre seu desassossego. Joaquim é seu protetor na prefeitura, foi quem lhe conseguiu o emprego. É jeitoso, sabe agradar aos chefes, mas reclama que os graduados da repartição não dão bom-dia, nem mesmo quando o encontram no elevador reservado às autoridades.
Tião sente orgulho do macacão cinzento, do boné amarelo, da logomarca em vermelho impressa no bolso do blusão, na altura do peito esquerdo. Quem vê logo fica sabendo que ele é empregado de firma terceirizada. Recrutado como peão para calçar ruas, embora seja cantel de ofício. Cantel, um humanizador de pedras, ofício quase desaparecido.
A mão de Tião é pesada, certeira. Ele tem o sentido da geometria. Por causa da idade e da bebida tem pressão cardíaca alta e bursite crônica. O escultor que o contratava para talhar grandes peças está morto.
— Joaquim, achei umas coisas no meio do mato, agarradas no muro de uma casa! Uma casa esquisita. Disseram que lá era clínica de anjo.
No computador da repartição, Joaquim abre o Google Earth, consulta coordenadas de latitude e longitude, digita o nome da rua. Desliza o mouse. Naquela área da cidade, moradores devoram restos de floresta e transformam córregos em valas de esgoto e depósitos de lixo. Enquanto isso, funcionários anunciam melhorias que não chegam e negociam votos com cabos eleitorais a troco de documentos de posse de terrenos. Casos mais intrincados, que comprometam os arranjos combinados, quem resolve é Biu de Exu, crente e matador.
Pela descrição de Tião, a casa é aquela: mansão com piscina, três mulheres de biquíni, dois homens sentados, as buganvílias enredando-se no muro. Não resta dúvida. Foi ali que Tião encontrou os ossinhos.
Joaquim sai da sala para fumar. É o quinto cigarro da manhã.
O vento fez tremular a flâmula do time do Sport enfiada no pequeno mastro de madeira em cima da mesa, o amarelo do leão flamengo sobressaindo do fundo vermelho e negro. Para ele, futebol é uma doença, como a filariose de dona Julieta, a que serve o café todos os dias, lamuriando-se da perna atacada pela elefantíase e do neto mais novo entregue ao crack.
De volta à sala, Joaquim bate com o metal da aliança na moldura de alumínio da janela. Avista o prédio da PF e o grande bloco de mármore da Justiça Federal. Imagina que por sua competência e dedicação subirá para o andar superior e ocupará a sala ao lado do chefe de gabinete, onde o ar-condicionado funciona bem e o cafezinho é servido mais quente.
As divagações são interrompidas quando o telefone toca.
Atende. Abre a porta de maçaneta empretecida e vai para a sala da diretoria. É a ele que o chefe recorre quando precisa lidar com questões burocráticas mais complexas.
Dá o bom-dia de praxe.
Doutor Marcelo aponta a pasta dos despachos.
Ordena:
— Antes de minha rubrica, dê uma olhada nisso!
Joaquim cuidará dos despachos depois. Primeiro quer localizar o número do sequencial e o nome do proprietário da casa. Levanta as dívidas e multas pendentes. De vez em quando, faz uma pausa e, fone no ouvido, escuta a retransmissão da entrevista do autor do gol do domingo e os comentários sobre as divergências entre o técnico e o presidente do clube.
Pendências não atendidas, dívida ativa, multas tão altas provocam suspeitas. Ninguém na prefeitura observou aquilo? Continuaria as pesquisas, mas conversaria apenas com Tião. Tantos anos de repartição ensinaram-no a temperar a língua. No serviço público é de praxe prudência e boca fechada.
Bom dia, Tião. Sente-se!
A figura de Tião é enquadrada pelas imagens coladas na parede: a da equipe do Sport de 1987, no calendário distribuído por uma empresa prestadora de serviço, e um cromo de Santa Rita dos Impossíveis, devoção de dona Elvira, sua mãe.
— Tião, a casa é esta?
Tião observa a tela, acompanha as movimentações do mouse e balança a cabeça, confirmando.
— É essa! Até o pé de embaúba está aparecendo! No olho, a casa é mais velha e derrubada do que no computador!
— Tem novidade sobre ela?
— Não, senhor!
— Então, faça o seguinte: quando for na venda de seu Nezinho, procure saber o que acontecia na casa, quem era o dono, por que foi abandonada. Não toque no assunto depois que a cachaça subir pra cabeça!
(Uma casa abandonada, um galão de tinta cheio de ossinhos enterrado junto do pé de embaúba, o flamboyant, as mulheres de biquíni. Na imagem aérea, datada de 11 de setembro de 2010, captada por um satélite estrangeiro a uma distância de 1 235 metros, o muro parece três vezes mais alto do que as pessoas.)
Nove horas da manhã.
No apartamento de Boa Viagem um homem de bermuda aguarda a chamada telefônica do doutor Marcelo. Veste camisa de linho azul, tem rosto quadrado, cabelos prateados, pernas arqueadas, olhos de camundongo. Fez carreira na Justiça. É versado em latim. Aprendeu durante os anos de seminário, onde também adquiriu a linguagem pomposa de seus despachos e das crônicas que publica num dos jornais da cidade. Aposentado compulsoriamente por motivos que considera injustos, evita compromissos públicos enquanto espera que os labirintos da lei o devolvam à rotina de tribunais e escritórios de advocacia. As leituras e o passeio matinal com Hegel, o cão pastor-alemão, alentam sua solteirice provisória. A mulher exilou-se na cidade da família, fugindo dos comentários desagradáveis sobre o marido.
Doutor Aristides aproveita o afastamento para reler tratados jurídicos. A ascensão de jovens no Judiciário o obriga a se precaver em relação a processos nos quais seu nome aparece. Em outros tempos, com a solidariedade de velhos colegas, tudo seria mais fácil.
Da varanda, avista uma mulher passeando um cachorro. O animal estanca junto ao poste. Ela retira da bolsa um saco plástico. Doutor Aristides sorri, irônico:
— Finalmente atingimos a civilização!
O telefone toca. Precipita-se sala adentro, enquanto a brisa marinha tange as persianas num barulho de gafanhotos.
— Bom dia, doutor Aristides!
— Bom dia, Marcelo. Em que pé andam as coisas?
— Vão bem, doutor! O departamento jurídico formulou as justificativas para a desapropriação. A casa está localizada numa área que vai se valorizar.
— Agora é correr até outubro, antes das eleições.
— Não se preocupe, doutor Aristides, o chefe do jurídico está atento. Sabe da sua urgência.
Desliga o telefone. Suspira. Sente-se aliviado. Recita um trecho de Vieira sobre a consolação dos mal despachados:
Nos lugares temos as mercês; nos pretendentes, as ambições; na intercessora, as valias; no memorial, os requerimentos; no príncipe, o poder e a justiça; no despacho, o desengano e o exemplo. Este último há de ser a veia que hoje havemos de sangrar.
Pelo menos a memória não caíra em exercício findo. Satisfeito, em vez do uísque de praxe, derrama numa pequena taça o vinho do porto, presente de Estela.
A venda de seu Nezinho, fincada na calçada, impede a passagem dos pedestres. Ninguém reclama. Ali se reúnem trabalhadores, policiais, vagabundos. O dono do botequim improvisado é primo de Biu do Exu. Faz dois meses que Tião voltou a frequentar o ponto, toma a cachaça, o caldinho, esquece os conselhos do pastor. Lembra-se de Joaquim: “Não toque no assunto depois que a cachaça subir pra cabeça!”.
Tem acordado cada dia mais angustiado, delírios recorrentes: pequenos caixões com anjinhos, uma procissão de crianças, repiquete de sinos. Na última noite, no sonho, ouvia badaladas e um uivo de ventania a anunciar tempestade. Lembrou-se da história da serpente encarcerada debaixo da rocha, na base do altar da Virgem da Penha. A pedra seria derrubada no dia do Dilúvio e dela sairia a grande Serpente devoradora do Tempo.
Joaquim olha no jornal a foto da equipe do Sport.
Vinte e sete anos depois, a CBF confirma que o time é, legalmente, o campeão brasileiro de 1987. Vencer disputa jurídica contra o Flamengo é mais importante do que a crise com Luzinete, casamento que já dura mais de dez anos.
O telefone o interrompe.
É o doutor Marcelo. Sai apressado.
Aguarda a frase de sempre:
— “Antes de minha rubrica, dê uma olhada nisso!”
Mas o diretor bate a mão no tampo de vidro da mesa e grita:
— Que papel é esse no meio dos despachos?
Tira de dentro da pasta, devolvida na véspera, a folha de anotações sobre o processo da casa dos ossinhos: número de sequencial, levantamento das dívidas, dados do proprietário.
Repete:
— Que papel é esse no meio dos despachos? Não pedi esse levantamento. Isso nada tem a ver com seu departamento! A desapropiação dessa área é uma ordem superior. O departamento jurídico já emitiu os pareceres cabíveis. Limite-se ao que é de sua alçada!
Joaquim dormiu preocupado.
Nem se importou com as reclamações de Luzinete.
Na manhã seguinte doutor Marcelo o convoca, como de costume.
— Antes de minha rubrica dê uma olhada nisso!
É preciso falar logo com Tião. Chama dona Julieta, elogia o café, pede o celular emprestado. Melhor usar um telefone que não dê pistas. Em troca, daria a ela dez reais para uma nova carga.
— Alô! Tião? Aqui é Joaquim. Duas coisas: primeiro, não fale nada com ninguém sobre aquele assunto. Está tudo esclarecido. Segundo, você vai ser remanejado para outro bairro, a gratificação é maior.
Joaquim desliga o telefone sem esperar resposta.
Limpa o histórico do computador, vasculha as gavetas para verificar se restou algo comprometedor.
É sexta-feira. Sairá mais cedo para as compras da casa, tomar cerveja e concentrar-se até o jogo do domingo.
Há muito tempo doutor Aristides não aparecia nas colunas sociais. De terno e gravata, sua imagem ressurge ao lado do amigo Marcelo: cabelos grisalhos, olhinhos apertados. Haviam montado planilhas, orçamentos, discutido prazos, comissões. Decidido: a casa em questão será uma creche modelo!
Estela, secretária, de pé, ao lado de um grupo de estagiários, aguarda as ordens num vestido estampado e par de brincos de coral trazido de Istambul, presente do doutor Aristides. Afinal, foi importante o aconchego da funcionária no enfrentamento das vicissitudes: calúnias, inquéritos, comentários de jornal.
Novamente o padre Vieira o acudiu com a luz do discernimento. Não o Vieira dos textos utilizados nos exercícios de análise sintática nas aulas do padre Anselmo, no seminário. Mas o Vieira de quem aprendera a gostar depois, sempre a socorrê-lo com o verbo: “Porque os despachos de nossas petições, ainda que sejam de coisas temporais, são efeitos muitas vezes da predestinação eterna”.
Tião arruma a mochila e despede-se dos camaradas. É o último dia de trabalho no bairro, o último trago. Verifica, discretamente, se o paralelepípedo continua junto do pé de embaúba, pau preferido das formigas de ferrão. Elas, as formigas, ajudarão a manter os curiosos à distância. A terra será compactada pela chuva, os ossinhos aos poucos virarão pó.
Voltou a sonhar com anjinhos, procissões de crianças, sinos.
Repete:
— Os ossinhos são de saguins!
Mas continua a achar aquele lugar mal-assombrado, como se a serpente devoradora do tempo estivesse por perto. Quem sabe, naquele córrego, onde os últimos peixes e jacarezinhos estão sendo soterrados pelos esgotos e pelo lixo da prefeitura.
TRÊS SÉCULOS, TRÊS SEMANAS
Cinco horas da manhã. O sono ainda não havia chegado.
Três semanas submetido a interrogatórios.
Arrastava-se pelo chão úmido de urina, tentando buscar posição que o ajudasse a minimizar o incômodo provocado por hematomas e fraturas.
Ouviu um ranger metálico de dobradiças. Como das outras vezes, assustou-se. Aguardava a entrada abrupta dos três encapuzados, mas daquela vez o que seus olhos embaçados distinguiram foi um espectro deslocando-se mansamente em sua direção.
Espremido num canto tentava esquivar-se.
Não se sentia gente.
Nas outras manhãs, fora levado aos tropeços à sala de paredes com manchas escuras. Um holofote improvisado no teto, bicho metálico pronto a abocanhá-lo.
Haviam-no transformado num cão de Pavlov, reagindo a reflexos. Quando ouvia barulho de porta, defendia-se, braços cruzados sobre o peito. Ou escondia o rosto entre as mãos, cerrando tanto os olhos entrevia minúsculos asteroides brotando da escuridão.
Submerso numa espécie de névoa, o espectro metamorfoseou-se em homem.
A luzinha da lâmpada da cela reluziu nas três estrelas da ombreira da farda. A proximidade permitiu que observasse o constrangimento do visitante, alto, de compleição robusta.
— Não tenha medo. Meu tio, seu cunhado, pediu-me que tentasse descobrir onde o senhor estava.
Como não houve resposta, completou:
— Para mim é muito triste ver o senhor nesse estado, num quartel do Exército Brasileiro.
Estava ali há três semanas. Três séculos, disse, mostrando os dedos.
A única pessoa com quem havia compartilhado a cela durante uns dias, antes de desaparecer, havia dito:
— Nunca fale. O segredo é trincar os dentes e aguentar firme! A tortura é aterrorizante, não por causa da dor física, mas porque ninguém conhece antes seu próprio limite. O melhor é respirar fundo. Se a dor for muito forte, provoque um desmaio. Desmaio ou morte.
Durante três semanas, um abismo de três séculos.
Antes de ser preso, costumava acordar cedinho, olhar os bichos, os passarinhos revoando no viveiro. Tinha especial predileção pela arara, trazida do Maranhão pelo cunhado. Em pouco tempo, sujeição e castigo tornaram-se os motores de seu calendário. Em vez do alarido dos animais, passara a despertar entre gritos, pontapés, cuspidas.
— E as armas, seu filho da puta?
Três séculos e pela primeira vez alguém se interessava por ele. O mais estranho é que vestia a farda que lhe provocava medo.
Durou pouco o encontro. Nem conseguiu gravar a fisionomia do visitante que ao partir disse, baixinho:
— Vou comunicar ao meu tio o seu estado! Não é para isso que existe Exército Brasileiro!
Pelo jeito, chegara rompendo normas, impondo-se a sentinelas, correndo risco de punição.
Os passos foram se distanciando, duros, ritmados. Com eles, a madrugada se esvaeceu. Um pedacinho de sol entrou de novo, clandestino, entre as frestas.
Nos dias seguintes, entorpecido, teve dúvidas sobre se a visita de fato acontecera ou foi alucinação, como tantas outras que o atormentaram naquele encarceramento.
A casa no estilo anos 1950, terraço em arcada, telhado de quatro águas, janelas com basculantes, sala com porta envidraçada. Construída numa rua com calçamento, fronteiriça a um descampado de várzea que, à época, ainda não fora aterrado por empreiteiras. Bem atrás, um horizonte, o campo onde se reuniam os meninos da vizinhança para o futebol da tarde.
Toquei a campainha.
Gritei alto seu nome. Estava prestes a desistir quando o portão foi aberto e ele aproximou-se como quem exorciza um sortilégio.
Mais de três séculos sem nos vermos, era como se dissesse. Tempo demais para duas pessoas que costumavam se encontrar todos os dias num escritório cheirando a estiva, ranço de carne de charque, máquinas de calcular dissecando contas. De vez em quando, uma farra noturna, discreta.
O abraço no jardim, junto ao viveiro dos passarinhos, a casinhola do cachorro, o jabuti arrastando-se pelo piso de cimento. A gaiola do canário belga pendurada na parede, com folhas de alface pendentes das varetas e grãos de alpiste derramados pelo chão.
Dez minutos.
Ele, olhar sem alvo certo, cabelo embranquecido recuado na fronte, olho achinesado. A mão trêmula afagando o copo.
Um silêncio entre nós. Um calar de fala oculta.
Lembranças são como nuvens: mudam de forma conforme as circunstâncias de quem as observa. Por vezes ferem com intensidade, como o ácido que corrói o metal para nele imprimir seus entalhes. Então, surgem gravuras que produzem pesadelos recorrentes. E percebemos a memória como instrumento enganador, obliterando o que perturba, mascarando o que constrange.
Levantou-se.
— Um uísque!
O tilintar dos copos disfarçava-se no trinado do canário da terra.
A bebida seria o único motivo de nossos encontros. Não haveria menção aos três séculos.
Depositou os dois copos na mesinha do centro e anunciou que partiria em breve para uma cidade onde a família possuía negócios.
Olhou as aves. Sem dizer nada, entrou em casa.
Aguardei-o cerca de meia hora. Decidi esgueirar-me portão afora.
Por cima do muro, no alto da mangueira, a arara de cores vivas discursando entre as ramagens. ![]()
EVERARDO NORÕES, escritor e tradutor. Foi finalista do 56º Prêmio Jabuti e vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura em 2014, na categoria contos e crônicas, com o livro Entre moscas. Publicou Melhores mangas (2016), W. B. & os dez caminhos da cruz (2012) e O fabricante de histórias (2011). Atualmente, vive em Barcelona e assina coluna no jornal literário Pernambuco.







