
LGBTQIAP+, a coragem de ser quem se é
Reunimos histórias de pessoas que simbolizam cada uma das letras desta sigla identitária
TEXTO LUCIANA VERAS E TANIT RODRIGUES
ILUSTRAÇÕES FILIPE ACA*
01 de Junho de 2022
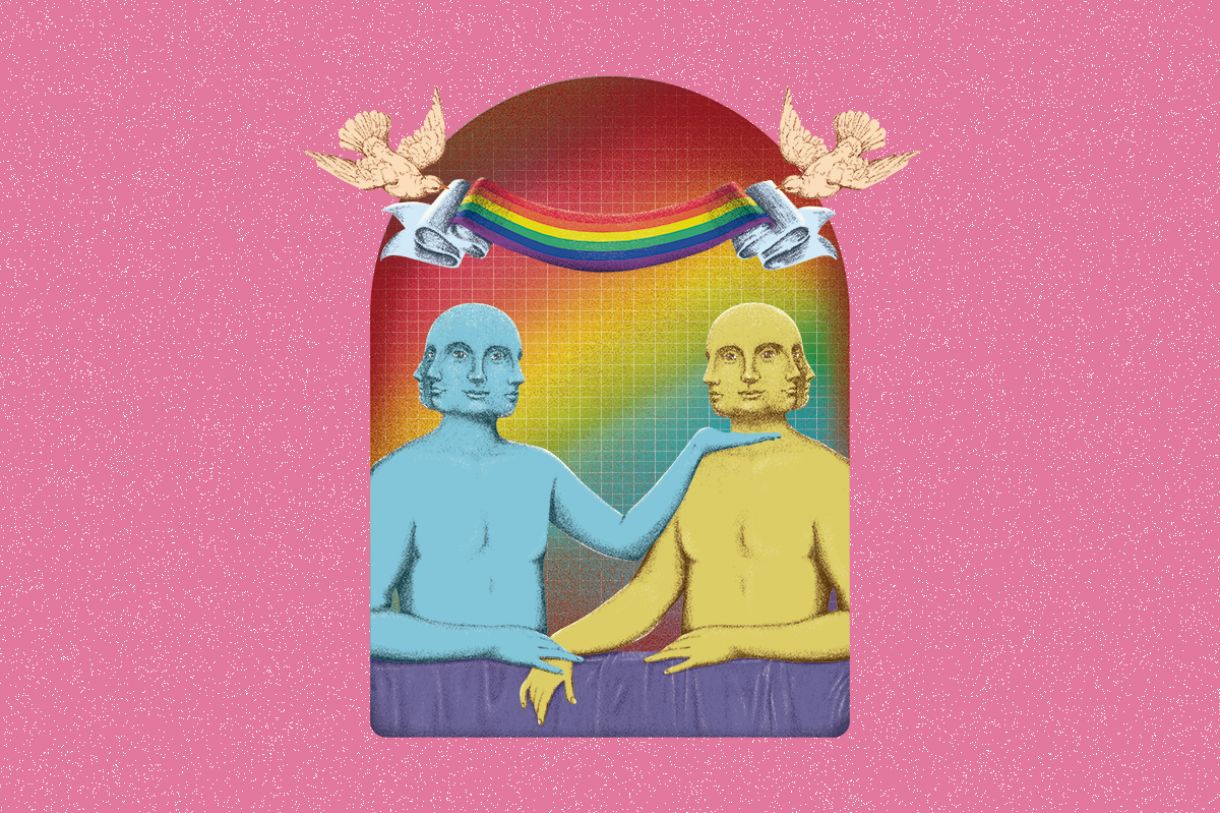
Ilustração Filipe Aca
[conteúdo na íntegra até 30/6 | ed. 258 | junho de 2022]
Junho é o mês da diversidade! A bandeira com as cores do arco-íris aparece em todo lugar, de fachadas de estabelecimentos comerciais a adesivos em carros, das camisas dos jovens casais cis, hetero, trans, não binários aos atos em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Foi num 28 de junho, em 1969, que homossexuais reagiram à violência policial no Stonewall Inn, um bar no Greenwich Village, em Nova York, e engendraram uma reação que virou História. Ao longo da década de 1970, surgiram as primeiras paradas para celebrar a diversidade, que, com o passar do tempo, saiu das ruas para se mesclar às palavras, à língua e à vida.
Não tem sido fácil essa travessia. Foi somente em maio de 1990 que a Organização Mundial de Saúde removeu a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Em alguns países, ainda é uma infração gostar de alguém do mesmo sexo, passível, inclusive, da pena de morte, como no Iêmen e na Mauritânia. Em outros, como no Brasil, enquanto a sigla incorpora letras e sentidos, geramos novos marcos civilizatórios porém seguimos reféns de estatísticas assustadoras. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia e a transfobia. Contudo, em fevereiro deste ano, dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia e pela Aliança Nacional LGBTI+ atestam que 300 pessoas da comunidade LGBTQIAP+ tiveram mortes violentas em 2021, com um crescimento de 8% em relação a 2020.
“Mudaram as estações, nada mudou/Mas eu sei que alguma coisa aconteceu/Tá tudo assim tão diferente...” Se os versos de Por enquanto, letra de Renato Russo na voz de Cássia Eller, sinalizam que, sob um viés, nada mudou, por outro, está tudo muito diferente. Vivemos uma revolução sem regresso, por mais que forças conservadoras insistam em se fazer presentes. É uma ruptura concretizada por pessoas que, ao seu modo e no seu cotidiano, existem e resistem com liberdade e desejo. Com respeito a todas aquelas e aqueles que se mobilizaram para tornar 2022 possível, as lésbicas, os gays, os bissexuais, as trans, as queers, os intersexos, as assexuais e os pansexuais mostram a coragem de ser quem são.
E, ao simbolizar cada uma das letras desse conjunto emblemático, compartilham suas complexidades e posicionamentos, suas contradições e alegrias, suas bravuras e fragilidades. Apresentamos Ana e Gigi, Samuel, Gabriel, Aurora, Bryanna, Amiel, Maria e Sam e entendemos que eles representam milhares que, dia após dia, nascem e renascem da adversidade para celebrar o milagre da vida. “Mas como eu os amo, meus corajosos iguais, desejo que vocês também percam a coragem. Desejo que lhes falte força para repetir a norma”, escreve o filósofo espanhol e homem trans Paul B. Preciado em um dos textos de Um apartamento em Urano – Crônicas da travessia (Zahar, 2020).
O corpo LGBTQIAP+, como diz Preciado, vai estar além dessa pele individual, “num lugar que não pode ser pensado simplesmente como meu”. Porque “não é propriedade, mas relação. A identidade (...) não é essência, mas relação”. Neste junho, mês da diversidade, tudo se imbrica: não estamos, nem nunca fomos nem seremos, sós.
L | ANA BOSCH E GIGI BANDLE
Quando as suas estão juntas, apresentando-se nos esquetes teatrais das Loucas de Pedra Lilás – grupo cênico-ativista-feminista que existe desde 1989 e do qual são fundadoras – na rua, em passeatas como o #8M, ou apenas conversando entre si, chamam a atenção. Não apenas pela divertida e às vezes confusa confluência dos sotaques (uma é do Canadá, a outra é do Uruguai, e moram juntas há mais de três décadas no Brasil), mas pela sintonia. Mesmo na divergência. “Sim, porque a gente briga, viu? Não somos aquele casal fusional, que faz tudo junto. Quer dizer, até faz muita coisa, mas briga também”, divertem-se Ana Bosch e Regine Bandler, a Gigi.
Em cena com as loucas, elas já falaram de temas correlatos à vivência de qualquer casal de mulheres, não importa se lésbico, bissexual ou de qualquer outra letra na composição LGBTQIAP+. Saúde reprodutiva, a vida com HIV/Aids, direito ao aborto, racismo, reforma psiquiátrica e, claro, preconceito, homofobia e lesbofobia... Tudo era combustível para os debates nos quais Ana e Gigi faziam – e ainda fazem – questão de se inserir. Dois dias depois da entrevista à Continente, Gigi iria a Garanhuns para uma ação do comitê estadual de mortalidade materna. “Avançamos muito em algumas frentes, mas há muito retrocesso. O fundamentalismo está aí”, observa Gigi.
Se, por um lado, reconhecem, com muito bom humor, sua existência política de casal, também questionam as tentativas de encaixá-las. “Mas por que você quer falar conosco? Não tem gente mais nova, não? Nós já fomos tantas vezes garotas propagandas dessa temática”, gargalha Ana. “Eu vim do Canadá. Minha família era lamentável, lá me relacionei com homens. Aí, quando cheguei e conheci a Ana, me apaixonei por essa maravilha que ela é”, comenta Gigi. “Sou bissexual, circunstancialmente lésbica, já muito estacionada nessa circunstância”, emenda a sua parceira.
Ana tem dois filhos, que eram crianças quando ela e Gigi se apaixonaram. Entende que não foi fácil navegar os desafios da maternidade, e portanto não romantiza a parentalidade homoafetiva. Mas, ao mesmo tempo em que rechaça o rótulo de “exemplo” (“tenho lá meus erros, bem sei”), reconhece que elas duas podem ser, sim, inspiração, dentro de casa – Aina, a filha de Ana, é lésbica – e para além da harmonia do lar. E é por isso que, juntas, espelham a letra L que inaugura esta reportagem, como símbolo inequívoco da fluidez de uma sigla que é definidora, mas nunca uma amarra, muito menos uma clausura. E da liberdade de ser quem se pode e se quer ser.
“A gente nunca fez parte de um grupo de militantes lésbicas. A gente tinha o teatro, era feminista. Um dia desses, estávamos voltando de Aldeia e só tinha mulheres no carro. Eram todas lésbicas. Aí uma delas, mais nova, que se separou depois de 19 anos casada com um homem e agora se envolveu com uma mulher, disse assim ‘então aqui só tem lésbicas autênticas’. Mas o que é uma lésbica autêntica?”, indaga, aos risos, Ana.
“Não nos incomodamos, de jeito nenhum, em aparecer aqui. Somos sapatões, sapatonas também”, ratifica Gigi, “se bem que somos de uma época em que primeiro éramos GLS e depois surgiram as outras letras e mesmo a letra Q não era isso que está aí, e sim question mark, de interrogação, de não saber direito o que é”.
As duas, que moram num sítio na área rural de Olinda, relembram que, quando chegaram lá, estavam menos preocupadas em ser vistas como um casal de duas mulheres do que como pessoas decentes, com quem a vizinhança pudesse contar. “Até porque somos senhoras de cabelos brancos e fala enrolada”, brinca Gigi. Já viram e viveram muitas mudanças, ou melhor, juntas também possibilitaram essas transformações. Em seu relato, recordam encontros feministas nos quais votaram para que as mulheres trans pudessem participar ou debates com descendentes dos povos originários andinos e ativistas sul-americanos sobre o casamento gay.
Ana Bosch e Gigi Bandler, respectivamente, aos 70 e 71 anos, compreendem que, mais importante do que ser um par inspirador – que elas são, ao ponto de terem participado, recentemente, da gravação de uma série documental televisiva sobre o prazer feminino –, é estar presente na sociedade como um casal de plenos direitos. E assim saem às ruas, protestam e atuam com a mesma intensidade e entrega com que se beijam e dão entrevistas, vivendo essa grande história de amor, companheirismo e militância, que, mesmo sem chegar na hora marcada, tem durado muito mais do que as canções, as paixões e as palavras.
G | SAMUEL CABRAL
"Posso dizer que sempre fui uma criança diferente dos meus contemporâneos”, começa Samuel Cabral, que as pessoas em Floresta, Carnaubeira da Penha ou Itacuruba, municípios no sertão de Pernambuco, conhecem também como Samuka Cabral Pankará. “Porque eu sempre fui grande e gordinho, sempre fui à frente dos meus colegas, como uma criança muito ativa e participativa e que desde muito cedo, como o povo diz, era um menino treloso.” Não demorou para que esse pirralho buliçoso, como se diz no Nordeste, sentisse que tinha uma amizade “diferente” por um amigo que frequentava a sua igreja. “Não era só o sentimento de amizade, eram outros. Um dia desses, achei até uma carta que escrevi para outro amigo falando disso. Eu sou do tempo da carta, visse?”, avisa, entre risos.
Aos 30 anos, ele é do tempo da carta escrita entre duas cidades do interior, dos interditos aos quais se submetiam adolescentes criados sob a religião e também da violência opressora dos abusos – aos 11 anos, foi molestado verbalmente por um homem mais velho. Mas é também do tempo da luta, da ocupação dos espaços e de dar adeus a qualquer noção de armário. “Confesso que em nenhum momento eu cheguei para algum familiar meu para dizer ‘eu sou gay’. Não precisei, porque estava muito na cara. Você acha que uma mãe que vê um filho em cima de um trio elétrico, na primeira parada gay de Floresta, com um microfone falando, levando a galera na avenida, não vai entender que o filho é gay?”, pontua.
Samuel reúne, em si, tanto a acepção literal como os eventuais desdobramentos da palavra gay. No Manual de Comunicação LGBTI+, lançado em 2018 pela Aliança Nacional LGBTI+, a definição registra que “gay vem do inglês, palavra que antes significava ‘alegre’”, com a mudança de significado para homossexual datada nos anos 1930: “e se estabeleceu nos anos 1960 como o termo preferido por homossexuais para se autodescreverem”, indica a publicação. Samuel é alegre, ama outros homens e trabalha em várias frentes para expandir a aceitação para quem com ele se identificar.
Em 2014, ele fundou o Coletivo Aquarius, uma organização voltada para aglutinar a população LGBTQIAP+ e para contribuir com a elaboração de políticas públicas, em especial direcionadas àquela região. “A gente entendeu que era preciso se juntar para militar. Aí surgiu a ideia de um aquário... É essa resistência e ao mesmo tempo algo que remeta a um colorir, a um desabrochar. No nosso coletivo, somos os peixinhos coloridos, como todas as cores do arco-íris”, conta Samuel. A iniciativa teve apoio da prefeitura, em que ele, inclusive, atuava como coordenador municipal de juventude, e até hoje é referência em Floresta.
Samuel tem sido referência em tudo que faz. Neto e sobrinho de lideranças da Serra do Arapuá, ganhou o respeito do povo Pankará, tanto como enfermeiro de saúde indígena como por ser militante “da causa LGBT, que na verdade não é só uma causa, é a vida”, como ele diz. Participa das articulações no plano municipal – é coordenador em Floresta da Aliança Nacional LGBTI+ – e em outras esferas também, constatando, inclusive, que os ventos retrógrados e conservadores que sopram de Brasília têm minado as redes estaduais. “Tudo está mais difícil mesmo”, indica.
E é justamente aí que presenças como a dele hão de se agigantar. “Acredito que a nossa primeira grande coragem é de enfrentar a si próprio. O primeiro problema que o LGBT passa é consigo mesmo. É autoaceitação. Quem nunca observou outro homem gay, outra mulher lésbica, outra pessoa trans e disse: ‘eu não quero ser igual àquela pessoa, eu vou tentar ser hétero mesmo’? Atuo politicamente também para espalhar essa coragem”.
Confortável na pele que habita, e com DNA de fibra dos povos originários, ele tem a disposição de ir aonde for preciso, atendendo ao chamado da vida, que, desde Riobaldo e Diadorim, no Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa, quer da gente coragem.
B | GABRIEL CATEL

Gabriel Catel é um corpo dissidente. Um jovem homem transgênero de 28 anos, com tatuagens que variam de seres extraterrestres a répteis, passando pelo discreto símbolo trans perto do olho esquerdo, este psicólogo tem consciência de que foge às normas. Quando foi contar para sua mãe que queria transicionar, em 2020, ouviu dela a seguinte frase: “Mas você já não é lésbica, então para que quer virar homem?”. Narra essa passagem sobre a tradicional confusão entre gênero e sexualidade, bem como outras da sua vida, com eloquência e vivacidade no olhar, passando a mão no cabelo aloirado e enquanto explica à Continente porque poderia estar em várias dessas páginas. “Já passei por várias letras na minha vida”, ri.
“Já estive na letra L, poderia até estar no pan, talvez, no T de trans, com certeza, e agora me sinto confortável no B de bissexual”, diz Catel, como as amizades o chamam. Foram três as saídas do armário, ele contabiliza: “Saí pela primeira vez quando tive que assumir que era lésbica. E foi tranquilo, pois tive o privilégio de ter uma família que me acolhia. Depois que entendi que eu era uma pessoa trans, saí de novo. E agora, depois da transição, saio pela terceira vez, ao me identificar como bissexual. Junto com a transição, veio a compreensão de que a heteronormatividade, de alguma forma, está tão compulsoriamente instalada no inconsciente masculino, macho até, que era como se eu tivesse essa necessidade de afirmar que, sendo um homem trans, gosto apenas de mulher. Mas já não tenho mais essas restrições. Na verdade, tenho até preguiça, porque lembro que, na adolescência, eu já me interessava, naturalmente, por meninas e meninos! E hoje tudo pode ser mais fluido”.
Muito se especula acerca das percepções que Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, tinha a respeito da bissexualidade. Há quem diga que as postulações decorriam da troca intelectual com o médico e amigo Wilhem Fliess. “Keep in mind the universal bisexuality of human beings”, teria escrito Freud, em carta de 1920. Catel traduz e atualiza essa bissexualidade universal, menos com o peso da teoria freudiana e mais com a leveza contemporânea de vídeos como o produzido pelo Serviço de Atendimento ao Cliente do canal Quebrando o Tabu, no YouTube (600 mil inscritos). Nele, Marcela Macgowan responde dúvidas e colocações curiosas, como: “Eu acho que bissexuais são pessoas confusas e querem fazer suruba o tempo inteiro” e “Os bissexuais gostam 50% de homem e 50% de mulher?”.
“Pessoas bissexuais, frequentemente chamadas de ‘bi’, são emocionalmente, romanticamente ou sexualmente atraídas por pessoas de mais de um gênero. Para algumas pessoas bissexuais, o grau e os modos pelos quais elas são atraídas por pessoas de diferentes gêneros pode mudar durante a vida. Algumas pessoas que são atraídas por mais de um gênero usam outros termos, como pansexual, polissexual, fluido ou queer”, afirma um relatório publicado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos – ACNUDH.
O que nos leva de volta a Catel e seu desejo por fluidez. Ele namora sua companheira, a artista plástica Joana Liberal, há quase quatro anos e meio. “Estamos juntos desde antes da minha transição. Ela não titubeou e me apoiou em tudo e, agora, quando eu disse que estávamos em uma relação hetero, já que sou um homem trans e ela é uma mulher, Joana me corrigiu: é uma relação LGBTQIAP+, pois eu sou bi, ela também se percebe como bi e tenho um corpo trans. Não somos a uniformidade e estamos muito bem juntos nesse lugar”, define.
Para ele, ser bi é, também, destravar masculinidade, exercitar a identidade feminina, permitir-se ousar no agir e no se vestir e mergulhar no desafio de ser e estar na cartografia expandida de corpos dissidentes: “Com 12 anos, quando beijei o primeiro cara, também beijei a primeira menina, então tive a experiência bissexual desde cedo. Agora, finalmente, posso voltar a exercitar isso, podendo ser várias coisas”. O melhor lugar do mundo é aqui e agora.
T | AURORA JAMELO

A palavra aurora, segundo o Oxford Languages, significa “claridade que aponta o início da manhã, antes do nascer do sol”. Na mitologia romana, Aurora é a deusa do amanhecer. Aurora Jamelo talvez tenha um pouco desse brilho da alvorada que rasga o céu logo cedo, uma força que paira e ilumina tudo que é finito. Tem a voz serena, calma, os cabelos longos e ondulados. Ela é natural de Jaboatão dos Guararapes, cidade vizinha do Recife, e autodeclarada indígena-quilombola.
“Se eu pudesse voltar no passado, voltaria num dia em que pudesse me ver como criança e, assim, visualizar quem eu era.” As memórias borradas da infância apontam para um comportamento comum entre pessoas trans, o desejo de apagar quem era no passado e reescrever a própria história a partir daquele novo momento. A relação com a arte faz parte das memórias mais vívidas de Aurora, é evidente como esse vínculo serviu – e ainda serve – como estrutura de fortalecimento e reconhecimento de si.
De origem periférica e filha de diarista, ela passou boa parte da infância entre as casas onde a mãe trabalhava. Foi em um desses lares, acompanhando sua mãe, que Aurora foi acolhida por uma artista plástica. Essa relação, tida como de avó e neta, foi uma luz em direção ao caminho que escolheria na vida. Embora ainda jovem, é a partir da consciência do trabalho daquela senhora e das obras que via espalhadas pelo apartamento, que cresceu com o desejo de estudar arte.
Enquanto amadurecia como artista, Aurora se conhecia mais profundamente como mulher. Em 2015, estudando numa escola de arte da cidade, concomitantemente dava os primeiros passos na sua transição. Um processo que se desenvolveu de forma conjunta. Nos perfis do Instagram, passou a investigar a área da fotoperformance e, posteriormente, deu início a experimentações visuais com o processo de autopercepção e reconhecimento da sua transgeneridade.
Além de trabalhar como designer e diretora de arte, Aurora atua nas artes como atriz, bailarina e curadora. Em um dos textos que escreveu no seu perfil do Medium, ela traça um paralelo entre o sagrado feminino da travesti e a figura selvagem das onças. É nesse lugar dúbio que se encontra a travestilidade. Lugar de caçar e de ser caçada, ser presa e prazer ao mesmo tempo. Um paralelo com o pensamento de Hilan Bensusan, quando diz “pensar a travesti como onça é levar a perspectiva das perseguições e resistências urbanas como uma floresta”.
Quando se fala em transgeneridade, comumente é lembrada a vulnerabilidade a que essa população está exposta. É intraduzível o sentimento de pessoas trans precisarem constantemente justificar o porquê de suas vidas serem dignas de humanidade. Nossa sociedade, emaranhada em transfobia, adoece a si e a essas pessoas.
Aurora reescreve e subverte a própria história e a narrativa estigmatizada de outras travestis e mulheres trans. Quem abriu caminho no mato com a unha foram outras, graças à muita luta que se precedeu. Não se pode ignorar a importância das que vieram antes, no entanto, deve-se entender que, por mais difícil que ainda seja, Aurora faz parte de uma retomada de consciência de toda uma comunidade. 16 de agosto de 2016 é o dia em que Aurora nasce novamente. É início, meio e fim em si. E, como ela disse em conversa com a Continente, “o dia de Aurora ganhar o mundo”.
Q | BRYANNA NASCK

Quem vê Bryanna Nasck em todo seu bom humor no canal do YouTube ou nas lives de jogos que faz, talvez não perceba a dor que foi seu processo de aceitação. Ainda na infância, ela compreendeu que o mundo no qual estava inserida, embora convivial, era completamente hostil, a tal ponto de acreditar que Deus a odiava por ser quem era.
“Eu lembro que, mais ou menos aos 9 anos, passei uma madrugada chorando e implorando para Deus, ‘ou você me mata, ou me faz normal’. Após essa noite, fiquei uma semana inteira orando e pedindo por isso, porque eu não aguentava mais aquela angústia, não aguentava mais sentir que precisava manter um segredo sobre quem eu realmente era.” Após esse episódio – e viva –, Bryanna entendeu que talvez Deus não existisse, ou não tinha nada errado com ela.
Em conversa com a Continente, ela conta que levou tempo para assimilar que não havia nada repreensível sobre quem era. Na adolescência, movida por um sentimento de incompreensão, não conseguia encontrar uma palavra para se definir. “Naquele momento, se existisse uma identidade que identificasse uma pessoa que é meio mulher, meio homem e, talvez, nenhum dos dois, eu acho essa pessoa seria eu.” No entanto, foi só aos 17 anos, em conversa com uma amiga, que a streamer descobriu o termo genderqueer.
As coisas mudam com o tempo, e por coisas entendem-se pessoas, hábitos ou termos. Genderqueer, ou apenas queer, é um termo “guarda-chuva” que abrange múltiplas identidades que fogem ao padrão binário de homem e mulher. Uma dessas identidades leva o nome de não binário, como Bryanna se identifica. Conceitualmente, a palavra tem origem nos anos 1990 para dar nome a um movimento de pessoas que tentava se emancipar das regras e imposições a respeito da performance de gênero. Ou seja, era uma expressão para descrever todos aqueles que fugiam da cisnorma ou de tudo aquilo que era tido como natural, saudável ou verdadeiro relacionado ao gênero.
Ao compreender seus próprios conflitos, Bryanna – por não se identificar dentro da terminologia de uma pessoa cisgênero, tampouco se identificar enquanto uma travesti ou mulher trans – se reconhece como uma pessoa não binária. Hoje, aos 27 anos, Bryanna vive em Barueri, em São Paulo, tem o diploma de tecnóloga em enfermagem, mas trabalha como influencer, faz transmissão de jogos pelo Facebook, além do seu canal no YouTube, onde ficou mais conhecida.
Quando discutimos não binariedade, é possível refletir sobre o quão questionável essa estrutura normativa é. Ao tomar consciência desses dispositivos de controle – os quais impõem tantas censuras a esses corpos –, essas pessoas veem a possibilidade de ruptura desse alicerce, uma vez que assentam na fundação dessas estruturas a construção necessária para viverem uma vida de liberdade e reconhecimento de si.
I | AMIEL VIEIRA

A sociedade Intersexual Americana (Isna) compreende que existem mais de 40 variações intersexuais. O que vai diferenciar uma pessoa intersexo de uma pessoa transgênero – que não se identifica com o gênero o qual lhe foi atribuído –, por exemplo, é sua condição puramente biológica. Segundo a instituição, a cada 100 pessoas nascidas no mundo, uma é intersexo.
Existe um estigma alimentado pela sociedade de que uma pessoa intersexo tem, necessariamente, ambos os genitais, no entanto, essa é apenas uma das variações possíveis. Um a cada 2.000 nascimentos tem uma ambiguidade genital. Ou seja, uma pessoa intersexo, de fato, nasce com variações do desenvolvimento dos orgãos genitais. Porém, na prática, essa alteração pode ser de ordem física – isto é, do próprio genital –, cromossômica ou apenas hormonal.
Dito isso, Amiel é uma dessas pessoas. Demorou 33 anos para descobrir quem era. No relatório sobre seu nascimento, descoberto por acaso na casa dos pais, foi-lhe revelado que havia nascido com o diagnóstico de “síndrome de insensibilidade parcial a andrógenos” e que, aos sete meses, a equipe médica, em comum acordo com a família, decidiu por uma cirurgia dita de “normalização para o sexo feminino”.
Amiel Modesto Vieira, homem intersexo e trans-masculino, hoje com 39 anos, percebe essa descoberta como um marco no seu entendimento como pessoa. Sociólogo e cursando o doutorado em Bioética pela UFRJ, ele desenvolve uma pesquisa voltada para os estudos de gênero. A investigação parte de uma tese autoetnográfica, no sentido de que, histórias como a dele, as quais se repetem cotidianamente, não mais aconteçam. “É tentar entender o que leva, principalmente os médicos brasileiros, a fazerem cirurgias em bebês. Isso é uma coisa que o movimento intersexo, não só no Brasil, denuncia. Não somente por ser eticamente errado, mas porque a mutilação genital, quanto mais cedo for, mais consequências terá”, afirma em conversa com a Continente.
Para Amiel, a criança intersexo é a que vive o maior número de solidões possíveis. Quando se fala da necessidade de visibilidade do movimento intersexo, sobretudo nacional, é posto em pauta que essas crianças operadas não são capazes de decidir sobre sua própria genitália. Pelo contrário, outras pessoas têm decidido por elas e, muitas vezes, inclusive, sem ao menos, sequer, informar aos pais.
“Há necessidade de lembrar que esse corpo não é do meu pai, não é da minha mãe, não é da medicina. Esse corpo é meu, por isso, eu tenho que tomar minha decisão”. Se outras lutas LGBTQIAP+, que precedem o debate intersexo, já encontram dificuldade ao acessar outras espaços, imagina o quanto a discussão sobre intersexualidade ainda precisa avançar para que o estigma e o preconceito cessem de uma vez por todas.
A | MARIA

No dicionário é alguém “que não sente atração sexual”. O outro termo, assexuado, ainda está lá, categorizado no léxico do nosso idioma, porém já em desuso. No site da The Asexual Visibility and Education Network – Aven, é uma pessoa “que não experiencia atração sexual ou um desejo intrínseco de ter relações sexuais”. Nos grupos de WhatsApp, quase ninguém digita assexual, e sim ace. “Ace é tipo gíria usada entre nós e tal, pq assexual em inglês tem essa pronúncia: eisexual. E ace é o ás do baralho. É tudo um trocadilho/brincadeira”, explica um dos 132 participantes de Eu prefiro bolo , grupo criado em julho de 2021 “no intuito de troca de experiências, amizades, desabafos, conselhos e afins”.
Maria é uma dessas integrantes. Aos 26 anos, ela é formada em Direito e mora em Feira de Santana, a 117 quilômetros de Salvador. Opta por não revelar seu nome todo, nem mostrar seu rosto, por discrição; porém fala com tranquilidade sobre a sua história. “Atualmente me identifico, sim, como uma pessoa assexual. Faço terapia há um ano e sete meses e o motivo de ter ido foi justamente esse: o fato de não sentir nenhum desejo ou atração sexual pelo meu marido”, conta.
Na adolescência, ela nada experimentou: mais velha dos três filhos de um pai muito rígido, quase não saía de casa. “Tudo era muito reprimido e controlado e eu tinha muito receio de fazer algumas coisas. Muitas limitações. Nunca tive namorados. Também frequentava a igreja e acabei absorvendo algumas questões religiosas, somadas àquilo que meu pai já trazia, e fui deixando essa questão sexual para depois. Quando conheci meu esposo, decidimos nos casar, apenas dois anos depois de nos encontrarmos”, lembra Maria. “Mas, se antes eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, certamente não teria me casado.”
Porque, para ela, não existe desejo, tampouco libido. “Se eu estivesse sozinha, ou fosse solteira, pra mim não faria diferença. Porque o sexo não tem nenhum significado. Não me atrai e, na verdade, às vezes me causa uma certa repulsa”, resume. Em 2020, já sob a pandemia, começou a pesquisar na internet e achou sites, fóruns, perfis em rede sociais e o Eu prefiro bolo . “Me sentia sozinha e excluída e nesse grupo consigo me sentir acolhida, pois vejo pessoas que passam por situações semelhantes, às vezes mais difíceis que as minhas. É bom compartilhar infortúnios e tristezas, sabe? E fico feliz quando vejo alguém mais jovem se descobrindo, alguém com a oportunidade de se reconhecer ainda jovem”, diz.
Mirar para si próprio e se reconhecer no campo da assexualidade, vez por outra descrita como a mais “apagada” das sexualidades, mas cada vez representada, implica estar aberto, também, para outras configurações. Existem os demissexuais, que são as pessoas que podem se interessar sexualmente se houver uma conexão afetiva e/ou romântica. Quem se pronunciou assim foi Victor Hugo, participante do Big Brother Brasil 20. Ao entrar na casa, em janeiro de 2020, disse que era assexual, sendo alvo de piadas inoportunas e brincadeiras desprezíveis. Eliminado dois meses depois, declarou, em entrevista a Ana Maria Braga: “Sou assexual e birromântico, me interesso pelos dois sexos romanticamente e sou demissexual. Eu não vejo o sexo como algo que eu nunca faria, mas que, se eu tiver apaixonado por alguém, farei. Até hoje nunca tive essa atração”.
Há ainda quem se percebe como grayssexual, que pega emprestado o tom de cinza (gray, essa cor em inglês) para abarcar as pessoas que já sentiram atração sexual bem pontual ou esporadicamente. “Aparece de tudo no nosso grupo e é muito bom, porque é aprendizado pra mim também”, resume Maria. Em maio, uma gaúcha postou no grupo: “Eu sou gray-a, e eu nunca senti tanta atração por alguém como senti pelo meu namorado kkk foi uma descoberta, até”.
“Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta”, vibram os versos de Milton Nascimento e Fernando Brant. Assim como o ícone dessa canção tão famosa, Maria de Feira de Santana é uma “mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta”. Ela sabe que seu jeito, contudo, é “diferente”. É possível que se separe do marido? Sim, reconhece, com serenidade: “Vamos tentar resolver da forma mais pacífica possível”. Mas é impossível interromper seu processo de autoconhecimento. Navegando entre certezas e descobertas, ela sonha, sempre, pois, “quem traz na pele esta marca possui a estranha mania de ter fé na vida”.
P | SAM SILVA

Ele nasceu em Mombaça, “a mesma cidade de Silvero Pereira”, como se apressa em dizer, com um sorriso no rosto, e cresceu nessa localidade, a 300 quilômetros de Fortaleza. Desde janeiro deste ano, Sam Silva mora em Caucaia, na região metropolitana da capital cearense, onde trabalha como recepcionista. Na verdade, seu campo de atuação, a área para a qual vem se preparando a fim de desbravá-la, é a internet. Ele é o fundador da página Vale dos Pans – @valedospans, no ar desde fevereiro de 2019 e atualmente com mais de 30 mil seguidores no Instagram.
A ideia de levar “informações sobre a comunidade LGBTQPIA+, com destaque para a PANSEXUALIDADE – Bem vindes todes!” veio naturalmente para o jovem de 21 anos. “Fiz o perfil pensando no tipo de conteúdo que eu gostaria de ter acessado quando era mais jovem, que poderia ter me ajudado”, conta Sam, em reunião via Zoom. Em um dos destaques dos stories, está, por exemplo, o Manifesto Pansexual, divulgado pela comunidade pansexual brasileira em dezembro de 2021.
“A pansexualidade é a atração por pessoas independentemente de gênero. Independentemente de como as pessoas se apresentam ao mundo. Etimologicamente, o termo pansexual é a junção do prefixo grego pan (que significa ‘tudo’/‘todos’) com a palavra sexual, ou seja, pansexual é a pessoa que se atrai por todos os gêneros”, explica o texto. Há o cuidado de fazer uma ressalva importante: “Nossas atrações não estão ligadas a objetos e/ou a plantas. Assim como não estão ligadas a animais, crianças, pessoas mortas ou qualquer relação sem consentimentos. Nossa sexualidade não tem nenhuma relação com distúrbios, patologias e/ou crimes. (...). Estamos exaustos de sermos alvos de ‘piadas’ e/ou chacotas, não é engraçado. É panfobia.”
De fobia, Sam entende um tanto, como, aliás, devem entender todas as pessoas que desviam da heteronormatividade. “Fui chamado de muitas coisas desde criança”. Sofreu bullying? “Sim, sim”. Quem nunca? Ali, naquela hora em que falava à Continente, era evidente a sua coragem em não apenas se assumir, mas em assumir uma postura política de fertilizar o terreno virtual com sementes diversas. “Acho importante demais, a política está no dia a dia, às vezes um meme é mais eficaz e tão político quanto uma notícia”, afirma Sam, que prestará o Exame Nacional do Ensino Médio de novo esse ano para entrar na universidade e fazer o que, de certa forma, já faz.
Porque ele já desbrava a internet. Seja com a notícia de que o ator Rainer Cadete se revelou pansexual em uma entrevista em fevereiro, seja com um lembrete de que pansexualidade e bissexualidade não são rivais, ele contribui para ampliar as fronteiras e o conceito de “Vale dos homossexuais”, como se o vale abrigasse criaturas míticas que só pudessem existir ali. “Na verdade, quando eu comecei o perfil, fui atrás de um que já existia, @_valedasgays_ e pedi permissão pra poder usar o nome e o pessoal de lá me apoiou muito”, lembra Sam.
Filho de pai e mãe agricultores, em janeiro deste ano ele postou um print de um tuíte publicado no Vale dos Pans na outra rede social (cerca de 5 mil seguidores). “É muita responsabilidade carregar o título de única pessoa pansexual da família.” “Além de pan, eu também sou não binárie”, emenda Sam, que se identifica com os pronomes “ele” ou “elu”. “Tinha muito medo de como meus pais, que são pessoas muito humildes, iriam reagir. Mas hoje estou feliz porque eles sabem e me acompanham.” E decerto se orgulham. Em 30 de dezembro de 2021, ele comunicou a seguinte frase – Este user é – e uma imagem da bandeira tricolor pan – e tem muito orgulho disso”. Sam Silva plantou e hoje cultiva seu próprio vale, adubando o terreno para todes outres que por lá decidam enveredar.![]()
LUCIANA VERAS, repórter especial da Continente.
TANIT RODRIGUES é atriz, jornalista em formação pela Unicap e repórter estagiária da Continente.
FILIPE ACA é designer e ilustrador.
*Uma parte das ilustrações foi feita a partir de fotografias enviadas pelas entrevistadas e pelos entrevistados.






