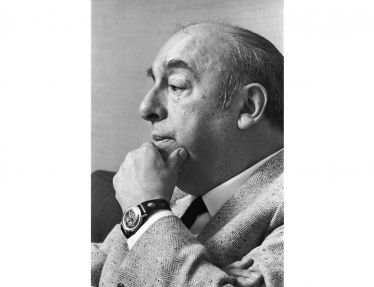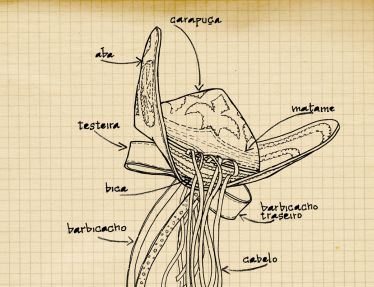
Obsceno: ou o que escolhemos ver ou não ver na arte
Por que algumas imagens geram repulsa e como nos relacionamos com elas, quando são arte?
TEXTO Caio Mello
02 de Maio de 2022

Público observa a pintura 'A origem do mundo', Gustave Courbet, 1866
Imagem REPRODUÇÃO
[conteúdo na íntegra | ed. 257 | maio de 2022]
Em fevereiro deste ano, assisti a uma palestra de uma brasileira no Musée d’Orsay, em Paris. Nara Galvão é pesquisadora, doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e diretora do Museu Ricardo Brennand no Recife. A obra que trouxe Nara a Paris e sobre a qual a sua pesquisa se debruça é L’Origine du monde (A origem do mundo), pintada pelo artista Gustave Courbet, em 1866. A pintura – que hoje está num espaço de destaque no museu e recebe uma atenção especial dos visitantes, o que inclui selfies, interagindo com a obra – nem sempre esteve em tanta evidência. Se trata de um nu, mas não um nu qualquer. O museu é particularmente conhecido pela sua coleção de obras de nudez, mas essa, em especial, gerou a curiosidade de Nara por se tratar de uma imagem que fomentou e ainda tem fomentado controvérsias.
O contato com a pesquisa de Nara provocou-me a refletir sobre as nossas relações com as imagens e sobre como lidamos com as tensões entre o que nos choca e o permissivo. Por que algumas imagens geram repulsa e como nos relacionamos com elas quando se tratam de obras de arte? No mês em que é celebrado o Dia Internacional dos Museus (18 de maio), conto como o museu parisiense lançou uma campanha convidando pais a levarem seus filhos para verem uma pintura de uma vulva enquanto no Brasil, nesse mesmo período, diversas exposições eram censuradas.
 Olympia, pintura de Édouard Manet, 1863. Imagem: Reprodução
Olympia, pintura de Édouard Manet, 1863. Imagem: Reprodução
A ORIGEM DO MUNDO
Liderança do Movimento Realista na França, Courbet usou o nu feminino como assunto recorrente em suas obras. L’Origine du monde foi encomendada a ele pelo diplomata turco-egípcio Khalil-Bey (1831-1879). Sua falência financeira fez com que se desfizesse da obra, que teria alguns donos nos anos seguintes. A história da pintura inclui até seu roubo durante a Segunda Guerra Mundial, sendo reavida tempos depois. Em 1955, a pintura teve como dono o psicanalista francês Jacques Lacan. Enquanto posse de Lacan, ela esteve escondida, ironicamente, por anos atrás de outros quadros em sua residência de campo por se tratar de uma imagem “explícita” demais. Lacan acabaria por doar a obra ao estado Francês, em 1994, sendo finalmente exposta, pela primeira vez, no Musée d’Orsay, em 1995.
Ao contrário das outras obras de Courbet, em L’Origine du monde, a modelo não é retratada com um rosto. Nela, o enquadramento produz um corpo impessoalizado. Faltam-lhe a cabeça e os braços. Um seio está à mostra, o outro, coberto pelo tecido da cama em que a modelo se deita. No primeiro plano, entre as pernas abertas, a vulva, que embora seja o centro e assunto principal da obra, se esconde, parcialmente, em meio a um tufo de pelos pubianos.
L’Origine du monde não é a única obra a retratar uma mulher nua no d’Orsay. Conversei com o historiador da arte britânico James Finch, que também assistiu à palestra, sobre em que contexto essa pintura está inserida. Finch explicou que muitas outras imagens de nu feminino que estavam ao nosso redor geraram menos controvérsias por não se tratarem de nus explícitos. Na maior parte delas, as genitálias estão escondidas ou parcialmente cobertas. A questão é que, muitas das vezes, o jeito com que a figura esconde partes de seu corpo acabam por chamar mais atenção para essas partes de forma a, frequentemente, hipersexualizá-las. L’Origine du monde, entretanto, diz Finch, desafia essa tradição ao tirar a genitália do espaço do implícito, estampando-a aos olhos do observador.
Uma outra obra do museu, exibida na sala ao lado, que dialoga com essa tentativa de desafiar a audiência é Olympia (1863), de Édouard Manet. Olympia foi motivo de espanto e acusações de imoralidade quando exposta no Salon de Paris, em 1865. Ao contrário do corpo anônimo de L’Origine du monde, Olympia tem um rosto e olha diretamente para o observador. Ela está deitada, quase que completamente nua, se não fossem pelos sapatos que calçam seus pés. Nos cabelos, uma flor. A mão direita se apoia na cama para sustentar a sua posição lateral, enquanto a mão esquerda repousa sobre a sua genitália. Olympia recebe flores de uma outra mulher que está ao fundo e guia o observador através de seu olhar a se voltar para a mulher deitada. É como se praticamente não houvesse escapatória, senão encarar Olympia. Ela, nesse sentido, acaba por reverter a relação sujeito-objeto, quando, em vez de ser apenas o assunto da observação voyeurística da audiência, se torna, ela mesma, a observadora.
Finch explica que muitos artistas, inspirados por Manet, utilizaram a estratégia de transformar o observador em cúmplice das cenas. Andy Warhol, artista norte-americano conhecido por seus trabalhos de pop art, dialoga com L’Origine du monde na ilustração Male nude lower torso (1956-1957). Nesta obra, Warhol imita a posição do corpo na pintura de Courbet, porém em um enquadramento mais fechado. Para além dos pelos pubianos, vê-se apenas uma mão sobre a genitália com os dedos levemente dobrados.
Campanha dos museus d’Orsay e de l’Orangerie convida pais a levarem filhos a verem “gente nua” na arte. Imagem: Reprodução
Para Alex Pilcher, autor do livro A queer little History of Art (2017), a imagem é ambígua na medida em que não deixa claro se se trata de um homem envergonhado, que se esconde com as mãos, como o título talvez possa induzir, ou de uma cena de masturbação em uma vagina, como a posição dos dedos parece sugerir. Warhol, para o autor, faz uso de uma omissão provocadora para desafiar nossas certezas sobre os corpos que observamos. O observador, aqui, é parte responsável por aquilo que decide ver. É como se as chaves morais não estivessem na imagem em si, mas na forma como escolhemos enxergá-la.
Os olhares para L’Origine du monde não foram sempre tão gentis, entretanto. Por se tratar de uma representação detalhista, quase anatômica, a pintura tem sido alvo de censura ao longo dos anos. Em 1994, o escritor francês Jacques Henric lançou o livro Adorations perpétuelles que trazia na capa a obra de Courbet. Em uma operação, a polícia francesa intimou várias livrarias para que retirassem o livro das suas vitrines. Esse acontecimento lembra, não por acaso, a decisão recente do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de recolher da Bienal do Livro a história em quadrinhos Vingadores, a cruzada das crianças, que trazia uma ilustração de dois personagens masculinos se beijando. Nesse caso, que aconteceu em 2019, 25 anos após o ocorrido com o francês, a imagem sequer estava na capa.
Em caso mais recente, a retirada do ar do perfil do professor Frédéric Durand-Baïssas por reproduzir a obra em sua página no Facebook foi parar nos tribunais franceses. Após o ocorrido, o Facebook atualizou as suas políticas de imagem, passando a permitir a reprodução de pinturas e esculturas. Entretanto, artistas ainda enfrentam a censura de suas fotografias. Quanto às fotos de nu artístico, o Facebook anunciou, em 2020, a criação de um grupo interdisciplinar para avaliar as políticas da plataforma com a ajuda do grupo ativista norte-americano Coalizão Nacional Contra a Censura (NCAC).
Anos de censura e tentativas de esconder a imagem da vulva foram momentaneamente interrompidos por uma ação inusitada. Em 2017, uma campanha do Musée d’Orsay, em parceria com o Musée de l’Orangerie, chamou atenção pelo mundo. Cartazes espalhados pelas ruas de Paris traziam estampada a Femme nue couchée (Mulher nua deitada), de Auguste Renoir (1906). Sobre a imagem, a mensagem: “Emmenez vos enfants voir des gens tout nus” (“Levem seus filhos para verem gente nua”). A campanha audaciosa dos museus franceses provocou a pesquisadora Nara Galvão a questionar as relações entre a arte e a moralidade, traçando um paralelo com acontecimentos recentes de censura de exposições no Brasil que ganharam grande dimensão na mídia e no debate público. Afinal, quando e como escolhemos o que deve ou não ser visto?
VER OU NÃO VER?
Ainda no ano 2017, uma exposição realizada no Santander Cultural, em Porto Alegre, foi alvo de uma campanha difamatória por parte do Movimento Brasil Livre (MBL) nas redes sociais. Queermuseu: cartografias da diferença na arte brasileira reunia obras de artistas importantes da cultura brasileira, como Adriana Varejão, Alair Gomes, Cândido Portinari, Lygia Clark, Pedro Américo, dentre outros. À época, três obras se destacaram como alvo dos protestos. A primeira, Travesti da lambada e deusa das águas (2013), de Bia Leite, faz parte da série Criança viada e retrata corpos que se distanciam do padrão heteronormativo na infância. Outra obra, Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva (1996), de Fernando Baril, acrescenta vários braços e pernas à imagem do Jesus crucificado. Uma última, Cena de interior II (1994), de Adriana Varejão, retrata diversas práticas sexuais. Influenciada pela Shunga, arte erótica japonesa que visava reproduzir imagens do cotidiano, a obra foi acusada de promover a zoofilia por incluir, em uma de suas cenas, duas figuras humanas fazendo sexo com uma cabra.
Em resposta aos protestos, o Santander Cultural decidiu encerrar a exposição alegando, em nota, que as obras desrespeitavam “símbolos, crenças e pessoas”. Queermuseu viria a reabrir apenas no ano seguinte, dessa vez na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio de Janeiro, financiada por uma campanha de crowdfunding que arrecadou mais de R$ 1 milhão para sua realização. O conteúdo da exposição foi apresentado como não recomendado para menores de 14 anos.


Obras de Bia Leite e Fernando Baril compuseram a exposição Queermuseu, censurada em Porto Alegre. Imagens: Reprodução
Esse, entretanto, não foi o único caso de movimentação nas redes sociais em favor da censura a obras de arte naquele ano. Um vídeo de uma criança, acompanhada pela mãe, tocando os pés de um artista nu em meio a uma performance em São Paulo foi usado, novamente pelo MBL, para iniciar outro protesto. A performance La bête, do artista Wagner Schwartz, é inspirada na série Os bichos (1960-) de Lygia Clark. Em sua apresentação, Schwartz começa interagindo com uma réplica da escultura Bicho, composta pela união de várias dobradiças que, quando movidas, mudam de forma. Ao final, ele se coloca enquanto “Bicho”, transformando seu corpo nu em objeto de manipulação e criação de imagens por parte do público.
O Musée d’Orsay também foi palco de uma performance que desafiou o público a ver uma obra, neste caso L’Origine du monde, por outro ângulo. Em maio de 2014, a artista luxemburguesa Deborah de Robertis foi ao museu como visitante. Ela se sentou debaixo da pintura com o vestido levantado, deixando à mostra sua vagina enquanto reclinava suas costas apoiadas na parede. A segurança do museu foi prontamente acionada e cercou a artista para evitar que o público tivesse contato com a imagem. Ela não apenas foi retirada do espaço, como o museu decidiu registrar uma ocorrência contra a artista junto à polícia por “exibicionismo”. Em entrevista ao jornal Luxemburger Wort, Deborah de Robertis disse que a performance não se tratava de um ato impulsivo de exibicionismo. O ato, para ela, buscava reposicionar o objeto observado. Segundo a artista, ela não estava mostrando a sua vagina, mas revelando aquilo que não pode ser visto na obra de Courbet: “um abismo, que para além da carne, remete ao infinito e, portanto, à origem da origem”.
Embora importante, não pretendo aqui entrar na discussão entre os limites entre o nu artístico e a pornografia e nem nos significados profundos que essas obras carregam. O que proponho é uma reflexão sobre o porquê de serem alvos de tentativas de censura. Decerto, é essencial salientar que os atos contra as exposições brasileiras se tratavam de uma ação coordenada de grupos de extrema-direita nas redes sociais. Mas nossas relações de aversão a algumas imagens vão além de conspirações movidas pelo conservadorismo.
QUANDO O OBSCENO TRANSCENDE O NU
Este ano, o canal de televisão britânico BBC estreou a minissérie Forbidden art (Arte proibida), apresentada por Mary Beard. Beard é professora de estudos clássicos na Universidade de Cambridge e tem se tornado cada vez mais conhecida por seu trabalho na televisão. Desde 2010, ela vem produzindo regularmente conteúdo de divulgação científica em que discute temas ligados à Roma Antiga.
Esse último trabalho é uma espécie de resposta a sua série anterior, Shock of the nude (O choque do nu), na qual a professora traz reflexões provocativas sobre a relação do mundo ocidental com a nudez nas artes. Das esculturas gregas e romanas aos tempos atuais, Beard busca compreender como o nu foi representado ao longo da história, por quem e para quê. Questões sobre a hegemonia do olhar masculino, a pouca diversidade dos corpos e a transformação da forma com que lidamos com imagens de nudez são abordadas nos dois episódios da série.
Entretanto, em Forbidden art – que a princípio se trataria das imagens proibidas e censuradas por retratarem a nudez e o sexo – houve uma mudança significativa de roteiro. Em um artigo publicado pelo TLS, suplemento literário britânico, Beard relata como o lockdown no Reino Unido, por conta da pandemia da Covid-19, mudou os rumos da série. Enquanto aguardava o momento apropriado para iniciar as filmagens, a equipe se deparou com uma série de acontecimentos que vieram como consequência do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos.
Floyd foi morto asfixiado por um policial da cidade de Mineápolis. A cena foi filmada e o vídeo em que Floyd gritava não conseguir mais respirar circulou pela internet, causando revolta e manifestações do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) em várias partes do mundo. Uma ação dos manifestantes ganhou particular notoriedade: a derrubada da estátua do traficante de escravos Edward Colston em Bristol, na Inglaterra. A estátua erguida no ano 1895 foi jogada nas águas do porto da cidade. De acordo com a professora Mary Beard, esse acontecimento fez com que fosse impossível, para ela, continuar a pensar que as imagens mais controversas da atualidade sejam aquelas relacionadas à carne ou ao sexo. Por conta disso, os produtores da série decidiram ir além, discutindo temas como as representações da dor, da morte e da religião nas artes.

Estátua do traficante de escravos Edward Colston derrubada por manifestantes antirracistas na Inglaterra. Foto: Adrian Boliston/Wikipédia
No Brasil, monumentos como a estátua do bandeirante Borba Gato (1963), em São Paulo, também foram alvo de protestos. A estátua foi incendiada no ano passado. A autoria do ato foi assumida por Paulo Lima, ativista e líder do movimento Revolução Periférica. Segundo Lima, a sua motivação era levantar um debate sobre se esse é o tipo de imagem que as pessoas desejam ver. Os bandeirantes, a partir do século XVI, fizeram expedições no interior da América do Sul em busca de riquezas e mão de obra escrava, sendo responsáveis pelo assassinato e estupro de indígenas e quilombolas.
Recentemente, em viagem a Lisboa, me deparei com uma série de imagens provocativas em espaços públicos. Desde o Padrão dos descobrimentos (1960), monumento em homenagem a figuras importantes do período das Grandes Navegações, à estátua do Padre Antônio Vieira (2017), localizada em frente à igreja de São Roque. A estátua do Padre, segurando uma cruz para o alto, ao lado de três crianças indígenas, traz os dizeres: “Defensor dos índios e dos direitos humanos. Lutador contra a inquisição”. Importantes figuras do processo de colonização do Brasil, os padres jesuítas foram responsáveis por um projeto de evangelização e catequização dos povos indígenas ao qual estudiosos se referem como etnocídio, um processo de destruição cultural e sistemático que ameaça partes importantes no modo de vida dos povos, como a língua, a religião e as tradições.
Ver essa imagem de perto me causou um enorme desconforto. Talvez parte disso se dê pelo desesperador contexto atual em que o congresso brasileiro discute o PL 191/2020, que estabelece condições para a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Pouco tempo depois de um grande ato em Brasília contra o projeto de lei, o Ato pela Terra, o presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com a medalha do mérito indigenista. O mesmo presidente que, em 2018, comparou os indígenas brasileiros nas reservas a animais no zoológico. Tais acontecimentos, de certa forma, guiam meu olhar pela imagem do Padre em Lisboa, evidenciando como o tempo tem papel fundamental na forma como decidimos ver.
O trabalho de Nara Galvão a respeito da moralidade me provocou a refletir sobre quais são as imagens, que não as de nudez, que me causam desconforto. E também sobre como, e a partir de onde, observo essas imagens. Lembro-me de visitar o Vagina Museum (Museu da Vagina) no mercado de Camden, em Londres, e perceber o riso, o incômodo, a vergonha dentre outras reações das pessoas que passavam por acaso pelo espaço.
Uma cena em especial me marcou quando, ao sair de uma exposição sobre menstruação, fui parado por um grupo de homens me perguntando o que tinha lá dentro. Antes que eu respondesse, uma das funcionárias que estava na porta disse: podem perguntar pra mim, não tenham medo de vaginas. O museu, infelizmente, teve que fechar as portas por não conseguir continuar a pagar o aluguel do espaço. Após mais de um ano tentando arranjar um novo local, e recebendo negativas “sem justificativa” de muitos proprietários, o único museu no mundo dedicado às vaginas reabriu no leste de Londres.
É importante pontuar que não proponho uma relação de falsa equivalência entre a censura às obras de arte e o movimento de ressignificação das estátuas que, em lugar de “homenagem” no espaço público, tornam-se objetos de questionamento. Entretanto, como dito pela professora Mary Beard ao final da série, essas imagens, mais do que nos fazerem questionar o que deve ou não ser visto ou celebrado, provocam-nos. Obras de arte assustam na medida em que nos fazem olhar para nós mesmos. E não há nada mais assustador do que se enxergar.![]()
CAIO MELLO, jornalista, mestre em Comunicação e pesquisador do Departamento de Humanidades Digitais na Universidade de Londres.