
O céu da fábrica
Reflexões sobre mitos e originalidade no cinema
TEXTO LEO FALCÃO
ILUSTRAÇÕES HALLINA BELTRÃO
02 de Dezembro de 2021
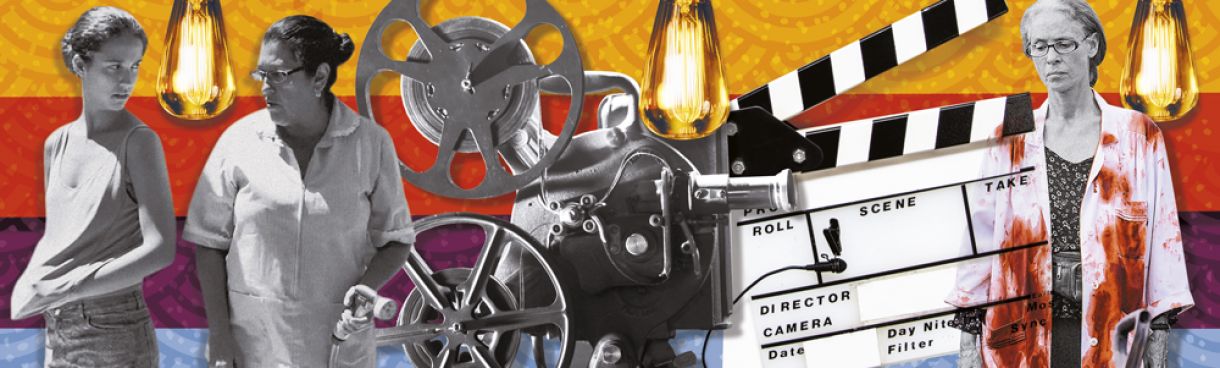
Ilustração Hallina Beltrão
[conteúdo na íntegra | ed. 252 | dezembro de 2021]
UM PRÓLOGO PARA O OCASO
Para o cinema, um dilema entre arte e indústria começa no campo das narrativas: é de certa forma popular a crença de que Hollywood vem, em geral, contando as mesmas histórias nos últimos 100 anos ou mais. Para além da ideia do “monomito” instituída pelo antropólogo americano Joseph Campbell – que sintetiza narrativas em todas as culturas numa estrutura genérica recorrente –, essas histórias se baseiam em mitos específicos que, vejam só, contemplam gêneros temáticos e estilísticos para vários públicos.
O número de histórias varia de acordo com a caracterização de análise (o que é convenção versus o que é variante), mas artigos recentes concordam em enumerar seis mitos básicos: Ícaro (ascensão vertiginosa seguida de queda pela própria arrogância), Orfeu (ida ao inferno em busca de um objeto valoroso, e o retorno fragmentado pela experiência), Cinderela (ascensão com muito esforço sustentada pela preservação das próprias virtudes), Forja (construção sistemática de caráter, maturidade ou plena realização pessoal), Busca (procura por um “elixir” ou “objeto mágico” a ser encontrado ou recuperado) e, por fim, o Encontro Improvável (também conhecido como “rapaz conhece a moça”, base para a quase totalidade das comédias românticas).
Talvez seja possível, de fato, reconhecer a maioria dos filmes mainstream nos parâmetros apresentados por esses mitos – ou, ao menos, pela mistura de dois ou três deles. Isso pode nos levar a antecipar, de forma resignada, um esgotamento das possibilidades narrativas e concluir que, a este ponto, já vimos de tudo. Ou pode nos dar a opção de dar um passo atrás nas expectativas, desaprofundando leituras mais críticas e entrando no jogo, ou no rito, focando mais nos elementos formais do que na história em si. Ou, ainda, podemos tentar entender o que confere um sabor de novidade que, de forma mais ou menos evidente, se apresenta em notáveis exceções à regra. Ou, por fim, podemos problematizar a constatação em si: onde termina o mito e começa a variante? Há de fato um esgotamento e, se há, é incontornável? Quais são os outros elementos nos roteiros que podem ser considerados inovadores, mesmo depois de tanto tempo explorando histórias a partir de mitos recorrentes?
Este texto busca não responder a essas perguntas, mas ressaltar pontos importantes em torno delas. E aí, quem sabe, nas jornadas pessoais de quem porventura se dê o tempo e a energia da leitura, venham as respostas devidas? Para que se permita então o primeiro passo na sala escura, sem grandes expectativas, mas com pequenas esperanças.
O CENÁRIO E A METÁFORA
Se, ao contrário dos prognósticos iniciais, a pandemia não melhorou a humanidade, por outro, parece ter indicado precisamente os pontos a serem melhorados, ao menos para olhos mais atentos ou menos cínicos. Da constatação de que “é mais fácil prever o fim do mundo do que o fim do capitalismo”, uma questão essencial se coloca: consumir histórias – seja através de falas, músicas, páginas, telas ou páginas nas telas – é algo que não se dissocia da experiência humana. É provável que, depois de sorrir com os olhos, a melhor coisa que aprendemos no atual cenário sanitário seja o quanto a arte é importante para as nossas vidas. Imagine ter que encarar um isolamento social inevitável sem dispor de qualquer entretenimento ou catarse?
Diante da demanda perene pelo consumo de histórias, o cinema e seus dispositivos descendentes ocupam um lugar emblemático. Surgido num contexto industrial, em plena consolidação de uma sociedade de consumo cuja fé um tanto enviesada nas ciências naturais legitima um movimento de expansão imperialista justo no campo cultural, este aparato técnico inovador que é o cinema alcança o status de arte ao revelar um novo espírito dos tempos. Sim, assim mesmo no plural, pois logo percebemos que não se trata de um período isolado na História ou uma característica de tal geração, mas de um conceito que pode ser expandido para toda a nossa trajetória enquanto espécie: uma percepção da realidade passa pela forma como atribuímos significados a ela, numa rara mediação entre capacidades sensoriais e cognitivas, portanto entre elementos concretos e processos mentais. O cinema estabelece uma forma de representação do espaço e do tempo cujo material não é mais palpável, nem por mãos habilidosas, nem por palavras escritas ou proferidas, nem pela ocupação estratégica de um espaço, nem por impulsos sonoros ritmados expelidos de forma direta ou indireta pelos nossos corpos.
Mas, ao menos numa primeira vista, não é essa peculiaridade semiótica do cinema que impulsiona sua vertiginosa ascendência aos olhos do público. Seu enorme poder de comunicação – por emular não como enxergamos as coisas, mas como as percebemos – é capaz de promover interesse, empatia e imersão de maneira instantânea e arrebatadora. Muito cedo, de fato, os artistas entenderam o potencial expressivo do aparato, ao mesmo tempo em que os empreendedores entenderam o potencial econômico da criação de um produto cultural inovador. Assim, enquanto se procurava descobrir uma linguagem própria em pleno contexto modernista, o cinema já se estabelecia como indústria, com sistemas de produção que congregavam equipamentos, profissionais de diversas áreas artísticas e técnicas e modos de investimento que pudessem dar sustento a todo esse arranjo produtivo.
Em qualquer ramo de indústria, é comum escutarmos o termo chão de fábrica: um espaço em que está circunscrita a linha de produção, onde uma pluralidade de trabalhadores têm que executar suas funções de maneira eficiente para o processo todo funcionar de forma orgânica, resultando enfim num produto com a qualidade desejada. Mas no cinema, como em qualquer produto cultural, não basta o chão. Tudo parte, é claro, de ideias que rendem histórias – algo intangível. E considerando que é da imaginação que boa parte dessas ideias vêm ou ganham consistência, seria interessante reservar um tempo do processo para esticar um pouco as asas e erguer a cabeça na direção das nuvens, eventualmente até flutuando ao nível do ar rarefeito para enxergar melhor o que está acontecendo abaixo, colher alguns relâmpagos ou pó de estrelas, para então descer de volta e abastecer o estoque. Mais do que um chão, portanto, esta fábrica precisa de um “céu”.
UM CONFLITO FLUTUANTE
Mas antes de liberarmos nosso espírito para dar uma volta vaga e tranquila por esse céu de ideias, temos que lembrar, afinal, que tais ideias, como estrelas de brilho mais ou menos intenso, podem não estar tão visíveis no tempo que exige o mercado – essa entidade tão abstrata e pouco plausível quanto extremamente sensível e temperamental. De fato, a própria noção de indústria remete a atividades incessantes executadas em ritmo frenético. Assim, ao invés da imagem do artista sensível esperando pacientemente o sopro da inspiração para dar origem a uma nova obra, espera-se que a pessoa responsável pelas histórias no cinema, a que chamamos de roteirista, saiba lidar com prazos, estratégias e ferramentas que lhe possibilitem ser tão eficaz quanto os outros trabalhadores na linha de produção. De outro modo, um voo tranquilo em modo cruzeiro pode se tornar uma turbulenta passagem em meio a nuvens densas e carregadas.
À metáfora do céu, então, adicione-se a figura do aviador: alguém que conheça as rotas ou saiba desbravá-las, entendendo as condições climáticas e a visibilidade necessária para navegar com segurança, possivelmente sendo ousado o suficiente para atravessar tempestades imprevistas e precavido o bastante para não confiar em bonanças traiçoeiras numa latitude ou outra. Ora, nem todo aviador (e saindo da metáfora, nem todo profissional e nem mesmo todo artista) reúne em si todas essas habilidades para garantir um desempenho exemplar o tempo todo. Mesmo as pessoas mais aptas de vez em quando têm um dia, um mês, uma fase ruim. Por isso existem práticas e modelos que facilitam parte e até a totalidade do processo (rotas mais ou menos conhecidas, rápidas e seguras).
Nessas horas, como em tantas outras, o conhecimento é um recurso capaz de salvar o dia – notadamente um conjunto interdisciplinar de estudos conhecido como narratologia. Combinando uma base linguística com teorias da psicologia e da antropologia, este campo do conhecimento abrange análises acadêmicas ou críticas, sistemáticas de estruturação das linguagens e, consequentemente, práticas úteis para situações, desafios, pontos de chegada e de partida que se possam apresentar, norteando, por assim dizer, a criação narrativa. Esses estudos, como poderíamos esperar, se configuram em ferramentas úteis para as rotinas técnicas de quem escreve os roteiros dos filmes. Em momentos de desespero ou cinismo, no entanto, usa-se a ferramenta como fórmula, e aí o espaço para uma subversão consistente é substituído por uma ideia inevitavelmente previsível e frequentemente sem graça.
Aí cabe abrir um par de parênteses (ou de parágrafos) para tocar em dois pontos importantes. Por um lado, espera-se da arte, por seu próprio estatuto, um alto grau de “inovação semântica”, ou seja, a atribuição de novos sentidos a elementos da realidade e da mente. Isto confere às obras a expectativa de uma originalidade mínima, contando pontos na avaliação geral de um trabalho proveniente do campo artístico – incluindo-se aqui os produtos da má-afamada “cultura de massa”, chave para o entendimento de um mercado de entretenimento. Por outro lado, cobra-se de artistas a verdade; ou suas próprias verdades, vá lá, mas uma verdade que seja. A discussão é bem mais profunda em muitos aspectos, mas é emblemática do velho embate entre uma arte “verdadeira” e uma arte “comercial”: aos interesses dos poderosos, contrapõe-se o potencial expressivo da Arte, capaz de escapar aos ruídos corruptíveis das vantagens econômicas e políticas de um tempo.
Seria esse o grande dilema da Arte e de quem se propõe a fazê-la? Esse conflito entre verdade e êxito (financeiro sobretudo), é de fato inevitável ou inconciliável? E mais: assegurar com técnicas e convenções uma espécie de kit de emergência para dar conta das exigências de ofício significa mesmo admitir um iminente esgotamento de possibilidades narrativas, estilísticas e criativas?
Mesmo com a informação notória de que a esmagadora maioria das obras artísticas consideradas relevantes para estudiosos e públicos em geral tenha sido feita, em maior ou menor medida, sob encomenda, o dilema persiste e, vez por outra, reaparece para ameaçar a fragilidade de nossas certezas. A chave talvez esteja numa certa síntese das expectativas de originalidade e verdade, a autenticidade – que, em tempo de mídias tecnicamente reprodutíveis, simuladores sofisticados e fake news, se desloca do domínio material (cópias de obras e falsificações) e ganha o domínio retórico e simbólico (dos méritos do estilo narrativo à representação de questões “quentes” na contemporaneidade digital – inclusive monetizáveis, como conteúdos de streaming e NFTs).
OS LIMITES DA LINGUAGEM
Os parênteses se fecham, mas não muito: à busca da autenticidade, a história que vai virar filme permanece encerrada, senão em convenções usuais, nas próprias condições da narrativa. No mínimo um gênero discursivo, no máximo uma dimensão da linguagem, a narrativa define maneiras de contar histórias, e é possível até avaliá-las de forma objetiva: lógica, coesão, coerência, verossimilhança, ritmo, fluidez. Ao autor ou roteirista – ou ainda, ao narrador –, compete o uso dessas condições em convergência às livres associações que o tema permita, entendendo também que, para além da descrição de eventos ocorridos, há de se entreter um público que varia em número de um ao infinito. E é justamente neste ponto, o da forma, que a narrativa absorve para si uma outra função/dimensão da linguagem: a poética.
Em que se ressalte a inexistência de conteúdo sem forma – e vice-versa, mesmo nas mais radicais experiências de arte abstrata –, a atitude expressiva acontece quando nos valemos de um certo repertório de códigos para manifestar o que queremos dizer: do paradigma ao sintagma; da linguagem ao discurso. Podemos partir de um tema, mas em geral precisamos nos valer de convenções para a devida comunicação com um interlocutor ou um público. Trata-se de uma operação corriqueira e natural, executada sem grandes obstáculos pela maior parte da espécie humana – dependendo, é claro, de que linguagem estamos falando e em que contexto. Para a humanidade, as convenções básicas estão mais ou menos estabelecidas nas sistemáticas da fala e da escrita em níveis mais elementares, avançando depois para níveis cada vez mais sofisticados e chegando, finalmente, em níveis técnicos e poéticos.
No caso da narrativa, ocorre uma convergência de interesses e objetivos. Os fatos podem sugerir ou sintetizar uma informação, mas o modo como eles são expostos e entendidos abarca outras esferas: reflexão, inquietação, entretenimento, deleite e até fé. As primeiras narrativas consolidadas de que se tem registro na pequena e intensa trajetória humana neste planeta preenchem um espectro que vai da experiência cotidiana imediata a tentativas de explicar os fenômenos do universo. Do cotidiano ao cosmos, entende-se que as histórias de maior poder de comunicação reúnem em si uma série de atributos que tocam profundamente ideias comuns ao grupo que se destinam.
Aí reside o grande poder dos mitos, senão o seu próprio conceito: sintetizar valores culturais e perspectivas cosmológicas através da narrativa e suas convenções. Os estudos aprofundados das infindáveis mitologias têm impacto em todas as disciplinas que se debruçam sobre a existência humana, exatamente por lidar com cada aspecto envolvido: a psicologia, no caso da mente; a antropologia, no caso da organização e ação social; a linguística, no caso da linguagem e da comunicação; a teologia, no caso da fé; a filosofia, na sistemática do pensamento. São, portanto, poderosas analogias para nos entendermos e agirmos no mundo.
Na admissão da linguagem como caminho para a compreensão da humanidade, as narrativas se apresentam como estruturas que veiculam sentido – tanto referencial quanto poético. As semelhanças entre as histórias podem ser vistas, no plano do mito, a padrões recorrentes que expressam nossa percepção de nós mesmos, da natureza, do mundo, do universo, da vida. Cabe à dimensão poética adicionar uma camada da tal inovação semântica, ressignificando o que seria corriqueiro ou conhecido. Existem pessoas que fazem isso com maestria, propondo experiências estéticas impactantes e profundas, como recombinações dos mesmos ingredientes. Ou, para nos referirmos à metáfora inicial: há pilotos capazes de executar manobras aéreas que conferem à nossa viagem mais emoção ou simplesmente proporcionam um atalho para chegarmos a lugares mais plenamente prazerosos; há, no entanto, os que chafurdam na mediocridade, por incompetência ou comodismo, dando um ar monótono à nossa jornada.
O PÚBLICO (E O) CONTEMPORÂNEO
A este ponto poderíamos simplesmente admitir que, por mais ousadas as manobras que possam ser feitas, elas percorrem as mesmas (seis?) rotas que já conhecemos. E aí o equilíbrio entre recorrência e sabor da novidade estaria apenas nas manobras, e não nas rotas. Não seria feio, nem pouco, afinal, encerrar a discussão considerando o poder da poética (enquanto estratégia retórica) e do mito (enquanto estrutura expressiva). Mas talvez um olhar mais acurado sobre as rotas em si – como, quando, onde e a quem se destinam as histórias – possa ampliar um pouco mais o alcance da nossa visão. Até porque, mesmo que a linguagem nos imponha tamanha limitação, o problema prático permanece: o que esperar de profissionais cujo ofício é criar e produzir coisas que sejam (ou pareçam) tão originais quanto verdadeiras e, para usar os termos do roteirista francês Jean-Claude Carrière, tão surpreendentes quanto inevitáveis? Da linguagem, então, passamos ao contexto.
À época do surgimento do cinema, é o Modernismo a dominar o cenário das artes. O projeto figurativo anterior, prevalecente das pinturas rupestres até o Neoclassicismo, entra em crise com a popularização da fotografia, transformando-se numa espécie de elo perdido entre as belas artes e os artistas insurgentes. Mais do que retratar a realidade, os movimentos modernistas sugerem buscar algo que somente as artes possam expressar, numa espécie de competição entre as aptidões criativas dos seres humanos contra a fria reprodução técnica das máquinas, em disputa pela representação do mundo, da vida, da verdade. Das manchas de cor impressionistas ao abstracionismo geométrico do De Stijl, é estabelecida a máxima “arte pela arte”, celebrando as especificidades de cada suporte: o texto para a literatura, as formas bidimensionais para a pintura, o molde da matéria para a escultura, e assim por diante.
Pode-se imaginar o quão pouco trivial é definir o suporte do cinema, e mais ainda suas especificidades. Mas nesta convergência inédita entre tecnologia e arte – com reverberações imediatas na cultura e na economia – o cinema torna-se, de início, mais do que a síntese de suas precedentes. Ao conceito atribuído à ópera pelo compositor alemão Richard Wagner (Gesamtkunstwerk, ou “obra de arte total”, que reúne em si elementos de todas as artes anteriores), o cinema acrescenta a mesma dupla natureza semiótica da fotografia, seu dispositivo ascendente: é ícone (representação do objeto) e índice (indicativo de uma presença desse objeto), fazendo emergir a expressão subjetiva da captação objetiva da realidade, enquadrada à frente do aparato. O substrato expressivo do cinema, assim, além dos atributos do passado, forma uma base estética para o futuro: do suporte fílmico, o fragmento reprodutível da realidade capturada em movimento. Funda-se o dispositivo cinematográfico e suas variações, hoje inseparáveis da nossa vida. Será possível imaginar um mundo totalmente livre de telas que exibem imagens virtuais?
Híbrido de nascença, portanto, o cinema talvez seja o primeiro emblema de uma cultura contemporânea, antes mesmo de haver algo considerado como tal. Se, antes, cada movimento artístico tinha um ponto de ruptura particular com o figurativo, a reflexão sobre a própria arte começa a formar amálgamas mais “promíscuos”.
Dos suportes aos estilos, e então às rotinas, os dispositivos variantes são normalizados e normatizados, chegando ao nível de operáveis pelo cidadão comum. As fronteiras estilísticas, e mesmo de linguagem, perdem considerável resistência quando a cultura global admite as mutações como parte da condição pulsante de um mundo irremediavelmente mais dinâmico. Por seu turno, os fluxos de informações também se intensificam em convergência com as demandas do próprio sistema econômico, resultando numa diminuição considerável do tempo livre e consequentemente do prazer estético. Pode-se ver que não é por acaso que o cinema, com seu altíssimo poder de síntese e comunicação, ocupa o posto de arte por excelência de uma sociedade pós-industrial.
Em face ao pragmatismo dessa sociedade, é de se esperar também um quê de mecânico no consumo e na criação de conteúdos narrativos. Daí algo que depõe a favor dos tais seis mitos. Se os públicos aos poucos se veem afeitos a informações mais horizontais, mais dinâmicas e bem menos sutis, o que propor além de uma certa anestesia das experiências? Diante da compressão do tempo, por que não confiar às convenções e aos mitos clássicos, tão emblemáticos da nossa forma de comunicar e agir, a tarefa de preencher nosso espírito com projeções, reflexões, inquietações de maneira mais instantânea? Não seria o suficiente para alimentar o público e, na praticidade de processos de produção abreviados, também o mercado?
Seria, se a humanidade, ou mesmo a vida, fosse um organismo mecânico influenciado unicamente por processos como os descritos acima. Seria, se grupos sociais e culturais, por mais similarmente estruturados que fossem, não seguissem guardando diferenças tão fundamentais entre si. Seria, ainda, se as histórias e as artes estivessem restritas a ritos, e não respondessem ao amplo espectro da percepção, da compreensão e da imaginação humana. Seria, se o limiar entre a convenção e a linguagem fosse por demais inflexível, ou pouco convidativo à subversão. Seria, enfim, se estivéssemos falando de um chão, e não de um céu.
A CONVERGÊNCIA E O REENCONTRO
Ao revisarmos o cinema contemporâneo à luz dos questionamentos acima, podemos ser levados a outras conclusões. E, então, o caráter híbrido, presente ali na gênese do cinema, pode se manifestar na tal promiscuidade entre os mitos, gerando, assim, outros mitos, mais ou menos novos. Eis um exemplo: as jornadas genéricas regidas por valores liberais, por exemplo, podem ser pontuadas pela inevitável dimensão social e política, trazendo ao drama as tensões entre classes, gêneros e grupos étnicos.
Pensando em filmes como Parasita, Bacurau ou Que horas ela volta?, encontramos uma diversidade de jornadas e de heróis, longe de Ícaro, Orfeu, Cinderela, da Forja, da Busca ou do Encontro Improvável. As condições sociais e suas relações simbióticas com a política não podem mais ser consideradas apenas uma caracterização de cenário; são, mais do que nunca, parte do drama: determinam trajetórias, atos, personalidades, comportamentos, reviravoltas e outros componentes típicos da narrativa. Modificam, assim, a própria estrutura dramática. Por mais completo que seja o trabalho de Campbell, a riquíssima, sólida e profícua ideia da jornada do herói parece não dar conta da urgência de nuances no contemporâneo. Curioso que seja justo numa época tão pouco propícia a sutilezas que constatamos o poder dos pormenores. São os detalhes aparentemente pequenos que na verdade abalam toda a estrutura e fazem toda a diferença na história a ser contada. Se estamos falando das sínteses de uma sociedade, talvez devamos começar a procurar novas referências – e até mesmo estruturas – que traduzam melhor nosso tempo. Olhando adiante, uma nova máxima: dramas diferentes pedem mitos diferentes.
E a quem viaja pelo céu da fábrica, o que resta?
Talvez fazer o que sempre fez: balancear o voo com sensibilidade e ousadia, sempre prestando atenção ao que está ao redor, porém com a consciência de que as fronteiras agora estão mais além e é preciso voar por sobre as nuvens, reforçando a fuselagem para que a cabine resista à pressão de altitudes mais altas. Mas o ponto de partida é, parece, começar a acreditar que é possível chegar a outros lugares. E, para tanto, é preciso conhecer ou desbravar outras rotas, oriundas de outras tradições de navegação. E então perder o medo de voar de outras formas, acrescentando à sua própria experiência, certamente significativa e valiosa, as experiências de aeronautas que até agora corriam por fora. Ou melhor, voavam por céus mais distantes, antes ocultos, e agora não mais.![]()
LEO FALCÃO, cineasta, escritor, designer de conteúdo e professor – não necessariamente nessa ordem.
HALLINA BELTRÃO, designer e ilustradora.







