
Smartphone, a droga do momento
Somos uma sociedade que se entrega dócil e avidamente aos aparelhos móveis cheios de recursos, aplicativos e funções que não entregam de volta a vitalidade almejada diante deles
TEXTO GIANNI PAULA DE MELO
ILUSTRAÇÕES HALLINA BELTRÃO
04 de Março de 2020
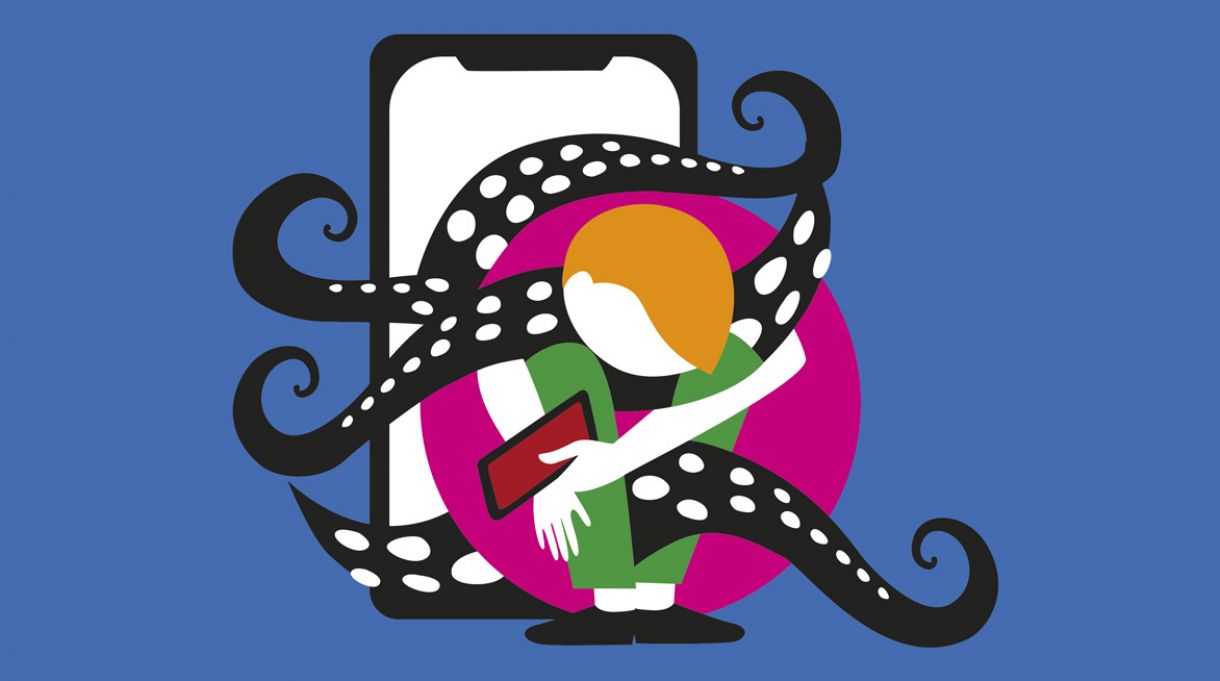
Ilustração HALLINA BELTRÃO
[conteúdo na íntegra | PARTE 1 | ed. 231 | março de 2020]
contribua com o jornalismo de qualidade
Estava há algum tempo sem escrever reportagens e, quando comecei esta apuração, me intrigou a seguinte reação das fontes: podemos fazer por áudios de WhatsApp? Desde sempre, muitos entrevistados optam por conversar por ligação, porque é mais ágil e toma menos tempo. Os adultos são muito ocupados, as crianças hoje também. Mas é que eu estava acostumada a entrevistar pessoalmente ou por e-mail. Telefonema sempre era rápido demais para a transcrição, e eu era enrolada para gravar, então nunca fazia essa proposta, mas aceitava quando era a preferência da fonte ou se a conversa não fosse tão longa – dúvidas e informações pontuais. A minha surpresa, no entanto, não foi a opção dos entrevistados, cuja dinâmica é muito boa, mas é que já estamos em 2020, e eu não lembro de ter realizado entrevistas por WhatsApp antes. Certamente uma alien.
Sou uma jornalista intermitente, mais correto seria dizer uma pessoa que escreve, e que chega atrasada aos hábitos digitais: foi assim com Spotify, iFood, Netflix. Aliás, foi assim com o WhatsApp. Em 2014, quando trabalhava de babá na Irlanda, na tentativa de fazer amizade, troquei telefone com outra babá brasileira, mas possuía apenas um celular à moda antiga. Ao descobrir que eu não tinha o aplicativo de mensagens instantâneas, a moça perguntou com a testa franzida como a gente iria se comunicar. Nunca nos encontramos.
É espantoso imaginar que ainda nesta década percorri o Leste Europeu sem Google Maps no bolso. Sem qualquer Google à palma da mão. Cheguei de madrugada em Budapeste por um terminal de ônibus do subúrbio, quase em frente à estação onde pegaria o metrô para o centro turístico. Trazia anotado num papel o nome do local onde deveria descer e as coordenadas do portão de saída até o hostel. Na avenida em que o ônibus, vindo da Cracóvia, havia me deixado não se via vivalma além de nós, os que estavam desembarcando. Eu viajava sozinha e não contava com a possibilidade de encontrar o metrô em reforma, não havia falantes de inglês por perto, eu possuía pouquíssimas moedas húngaras, deixara para trocar florins ao chegar na cidade. Na época, não tinha um smartphone comigo, mas me virei, assim como muitos viajantes fizeram, por séculos.
O intervalo que separa a minha viagem à Budapeste da vinda de Adam para o carnaval do Recife é de três anos e meio. Em fevereiro de 2018, a pedido de uma colega, hospedei um alemão que viajava pelo Brasil. Eis que foi a minha vez de ficar perplexa com essa criatura, que percorria o país sem smartphone, sem notebook, daquele mesmo jeito que eu fiz em 2014, mas que quatro anos depois parecia totalmente inacreditável. Ele ia chegar pela rodoviária e descobrir a rota para a minha casa, no bairro da Várzea, falando um português básico e sem muitos interlocutores que dominassem outro idioma pelo caminho. Eu havia enviado o endereço previamente por Facebook, que ele checou em uma lan house horas antes de entrar no ônibus – aquilo parecia de outra época.
Este prólogo de caráter pessoal serve apenas para ilustrar os níveis de dependência que estabelecemos com os mobiles de forma muito ligeira. Faz pouquíssimo tempo que esse aparato existe em nossas vidas, mas ele vem se tornando absoluto, e já nem lembramos como fazíamos certas coisas antes de possuí-lo. Isso, por si, não é uma revelação ou um mistério, pois o impacto de uma tecnologia eficiente sempre agrega um quê de condicionamento, afinal, passamos a ter soluções mais fáceis para antigos problemas.
A questão, no contexto da sociedade da “alta performance”, é: quais são as implicações dessa realidade e relação com o digital que estão sendo criadas? Estamos cada vez mais convencidos, talvez sem nem nos darmos conta, de que só com nossos celulares somos capazes de nos comunicar, estar integrados socialmente, deslocar-nos pelo espaço, ascender profissionalmente ou oferecer e encontrar serviços. E, aos poucos, estamos também negando a possibilidade de que algumas dessas atividades sejam realizadas fora do espaço digital. Não estou desprezando a utilidade do Waze e a alegria de poder manter contato com as pessoas que encontrei mundo afora, mas não há nada que ache mais detestável do que ser obrigada a comprar ingressos de shows online, pagando uma taxa idiota porque não há mais pontos de venda.
***
São muitas as questões políticas, econômicas e sociais nesse terreno, desde a ambiguidade das inovações disruptivas até o comprometimento da privacidade, sem esquecer a ampla influência em tabuleiros eleitorais de diversas nações. Mas outro debate transversal que parece igualmente urgente, e que começa a ganhar novos contornos, diz respeito à compulsão e à saúde. Dependência de tecnologia não é um assunto novo, há muito tempo que o uso da internet e a relação com jogos eletrônicos ou redes sociais são discutidos. No entanto, dois fatores mais recentes podem dificultar práticas saudáveis e autônomas nesse campo: de um lado, os barões da tecnologia passaram a investir pesado na criação de uma experiência diretamente atrelada ao desenvolvimento de um vício; do outro, o surgimento dos mobiles suprimiu a necessidade de se criar um tempo-espaço específico para essa experiência.
Essa combinação tem sido responsável pelo boom do uso coletivo excessivo das tecnologias móveis, que se tem naturalizado enquanto suas consequências começam a ser mensuradas por psicólogos e psiquiatras. “O smartphone uniu as funcionalidades da telefonia com as da computação, de uma forma portátil. Com isso, a possibilidade de se comunicar com outras pessoas, a qualquer momento e em qualquer lugar, também aumentou as chances de se fazer um uso nocivo do aparelho, assim como aumentou as possibilidades de possíveis prejuízos causados pelo uso da internet”, avalia o psiquiatra Vitor Breda, que integra o Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas (GEAT).
A missão de fazer o levantamento desse impacto é um tanto ingrata no meio científico, isso porque o tempo que envolve o desenvolvimento de um projeto – incluindo pesquisa bibliográfica, aprovação em comitê de ética, coleta de dados, análise, escrita e publicação dos resultados – é longo, se comparado à volátil realidade tecnológica que vivemos hoje. “Eu tive um colega que desenvolveu um modelo para fazer uma pesquisa sobre o uso dos indivíduos no Orkut. Quando ele conseguiu o aceite para publicar as informações sobre o seu impacto, o Orkut não existia mais. Então, como tudo está sendo modificado numa rapidez muito constante, os cientistas precisam se colocar critérios: o que eu vou começar a pesquisar neste momento, daqui a cinco anos ainda será válido e atual o suficiente?”, pontua Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do Núcleo de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo.
Encerrada uma década de hábitos mais consolidados em relação ao uso de smartphones e a algumas redes sociais, como Facebook e Twitter, começam a chegar os dados desse novo modelo de vida, além de também haver, entre os leigos suficientemente alarmados, mais clareza do modo de funcionamento desse parque de diversões digital. A minha inquietação em torno do tema cresceu enquanto cursava o mestrado, quando ficou nítida a limitação que eu havia desenvolvido para me concentrar e me dedicar a leituras sem provocar interrupções constantes. A relação aparentemente comum com essa tecnologia era completamente inimiga do tipo de trabalho a que me propunha fazer, uma prática mais teórica e intelectual, de abstração e tempo lento, solitária e difícil por si. Nesse contexto, o celular pode se tornar um escape e uma compulsão num piscar de olhos.
Na primeira parte do livro Celular: como dar um tempo, intitulado O alerta, a jornalista científica Catherine Price faz um mapeamento direto para o público não especializado a respeito da sedução e dos perigos desse artefato. Grande parte das pessoas já está convencida de que reduzir o uso do celular ou ficar um tempo offline seria bom para sua saúde, mas a grande maioria que acredita nos benefícios dessa escolha simplesmente não consegue colocar o plano em prática. Isso era o que mais me chamava atenção no período do mestrado, pois não era tão simples corrigir o hábito depois de identificar o problema.
“Tendemos a culpar esses excessos por uma falta de força de vontade – o que é outra maneira de dizer que a culpa é nossa. O que ignoramos é que os desenvolvedores de tecnologia manipulam de propósito nossas liberações de dopamina para dificultar ao máximo que paremos de usar seus produtos. Conhecida como hackeamento cerebral, essa técnica baseia-se no design de comportamento aliado à química cerebral – e depois que você aprende a reconhecer seus sinais, vai percebê-los em seu aparelho”, explica Catherine.
A liberação de dopamina é um dos acontecimentos químicos chave no tipo de relação que estabelecemos com nossos smartphones. Isso porque ela ativa receptores responsáveis pela sensação de prazer e nos condiciona a associar determinadas práticas a essa recompensa. Por ser responsável por um bem-estar, ela nos leva a repetir os atos que gerou a sua produção, como fazer uma postagem ou checar uma mensagem após ouvir o som de uma notificação. Essa é a base do que vem sendo explorado conscientemente pelos gurus digitais, na incessante busca de intensificar o chamado “envolvimento do usuário”. Grosso modo é a aplicação, dentro de um contexto mais sofisticado, de elementos desenvolvidos pela abordagem behaviorista nos séculos XIX e XX.

Price relembra em seu livro um trecho da entrevista concedida, em 2017, por Ramsay Brown, fundador da startup Dopamine Labs – cuja função é desenvolver códigos de hackeamento cerebral para empresas de aplicativos –, ao programa norte-americano 60 minutos:
“– Existe um algoritmo em algum lugar que prevê “ei, para esse usuário, que agora é o indivíduo número 79B3 no experimento 231, achamos que podemos ver uma melhora no comportamento dele se você der esse estímulo em vez daquele”. Você faz parte de uma série de experimentos controlados que estão acontecendo em tempo real com você e com milhões de outras pessoas – explicou Brown.
– Somos cobaias, então? – questionou o apresentador Anderson Cooper.
– Vocês são cobaias. São cobaias na jaula apertando o botão e, às vezes, recebendo curtidas. E eles fazem isso para mantê-los lá – concluiu Brown.”
***
É óbvio que os profissionais desse campo não são necessariamente mal-intencionados, eles fazem parte de uma realidade digital construída coletivamente, mas que se entrelaça a uma lógica social e econômica específica, gerando suas respostas para os “imperativos” do nosso tempo. Como dito antes, nos acostumamos às tecnologias eficientes e entendemos seus efeitos a medida em que elas vão sendo incorporadas, utilizadas e difundidas. Muitos indivíduos atuantes no ramo começaram a despertar para os efeitos dessa indústria e a necessidade de ampliar a reflexão de suas práticas.
Nesse quesito, Tristan Harris talvez seja um dos nomes mais conhecidos. Ex-funcionário da Google, empresa em que trabalhou como designer e estudioso da ética da persuasão, Harris é um dos fundadores do Center for Humane Technology. No seu TED How better tech could protect us from distraction (Como uma tecnologia melhor poderia nos proteger da distração), ele traça uma famosa argumentação comparando os smartphones a caça-níqueis de bolso – e os caça-níqueis são uma das coisas mais viciantes já inventadas. Existe um conjunto de disposições humanas mobilizadas pelo smartphone do mesmo modo que o faz um caça-níquel, com a diferença de que ele é uma tecnologia muito mais útil, complexa e diversa. Aliás, a própria Catherine Price faz uma boa síntese dessas disposições em seu livro.
Primeiramente, temos um cérebro aficionado por novidades, que libera dopamina a cada experiência nova, e os celulares nos oferecem informações novas, evidentes e sutis, a cada segundo. Esse já é um propulsor de fascínio em muitos níveis: “o que a gente tem que pensar é que esta mídia ativa é diferente do telefone ou da televisão, porque aquela mídia passiva não se modificava de uma semana para a outra, os princípios eram os mesmos, os padrões eram os mesmos. Hoje, nas plataformas digitais, os engenheiros, que são também cientistas do comportamento, trabalham 24 horas sem parar. Outro dia, li um artigo que dizia que a cada 24 horas parte desses aplicativos são atualizados para que seu engajamento se torne o maior possível”, afirma Cristiano Nabuco de Abreu.
Além disso, somos como crianças que adoram ver as reações causadas pelos nossos atos, o que, na psicologia, é chamado de reforço. Os programas nos smartphones exploram uma infinidade de reforços positivos sutis, como os likes do Instagram ou o barulhinho de uma jogada bem-sucedida no Candy Crush. Ao mesmo tempo, queremos ser amados e buscamos aprovação o tempo inteiro, por isso é estratégico ampliar o viés de julgamento mútuo das redes sociais. Há um permanente interesse por saber o que o outro está pensando e dizendo sobre mim ou sobre as minhas opiniões, e não cansamos de monitorar esses “feedbacks”.
Price soma ainda o elemento da inconstância, que dialoga diretamente com a lógica do caça-níquel, pois a irregularidade de reforços nos torna mais compulsivos do que a certeza de que sempre teremos o mesmo resultado, ainda que se trate daquilo que desejamos ver. “Depois que essa relação é estabelecida, não importa se a recompensa vem apenas uma vez em meio a cinquenta tentativas. Graças à dopamina, o cérebro sempre se lembra dessa única vez. E, em lugar de nos dissuadir, o fato de que não podemos prever qual dessas cinquenta olhadas será gratificante faz com que olhemos o celular com uma frequência ainda maior”, escreve a jornalista.
A cereja do bolo é o modo contínuo como o smartphone produz a ansiedade, sobretudo pela famosa sensação de fomo (fear of missing out), ou medo de ficar de fora, que não é o simples receio de deixar passar um evento ou uma fofoca no grupo do WhatsApp, mas um sentimento inconsciente e profundo de que posso estar deixando escapar algo realmente importante. Quando comento do meu desejo de fazer o caminho de volta para um dumbphone, a maior parte das pessoas acha loucura ou besteira, há reação de todos os tipos, mas uma me chama mais atenção: a das mães.
Várias argumentam que o vínculo excessivo que estabelecem com seus gadgets se deve ao cuidado dos filhos, algo que passa pela fantasia protetiva de poder controlar todas as contrariedades. Temos aí um contexto específico e delicado que pode intensificar o fomo ou a sensação de urgência. A grande questão é que o vínculo permanente com os mobiles estimula a ansiedade “de tal forma que as glândulas ad-renais acabam por liberar uma rajada de cortisol (hormônio do estresse) toda vez que largamos o celular. Portanto, para aliviar essa sensação, pegamos o celular. Por um momento, nos sentimos melhor, mas, assim que guardamos, a ansiedade volta a nos dominar”, pontua Price.
***
Agora que adiantei meus planos a respeito de não ter mais um smartphone no médio prazo, talvez precise sublinhar que nutro um pessimismo específico em relação ao aparelho combinado ao modelo de negócios a que ele serve. Diante da minha personalidade, história, tarefas, gatilhos e momento de vida, ele é uma má tecnologia. Esse é um exercício de consciência do uso que precisamos desenvolver coletiva e individualmente. No entanto, ao contrário desta jornalista um tanto apocalíptica, quase todos os meus entrevistados acreditam que o smartphone é uma tecnologia que traz mais benefícios que malefícios para nós. E eles são psicólogos, psiquiatras, pesquisadores e estudiosos.
Questionada nesse sentido, a psicóloga clínica e arteterapeuta Cristina Lopes pondera: “A gente tem nas mãos um aparelho que pode ser uma biblioteca, um instrumento de pesquisa, uma máquina de fotografar, então pode ser um objeto de ação criativa. Mas, como tudo na vida, ele traz outro lado, que é ser um instrumento extremamente sedutor que vai levando cada vez mais ao isolamento, porque as inclusões nos apps, filmes, YouTube vão nos capturando para dentro de uma caixinha. Então, a resposta para essa pergunta depende do uso e do controle que você tem.”
O pesquisador Cristiano Nabuco de Abreu, também consultor do Governo Federal, vai na mesma direção: “De uma maneira geral, todas as novas tecnologias chegam para oferecer uma série de recursos, facilidades e possibilidades que tornam a nossa vida mais fácil, mais prática, mais ágil, mais inteligente. Partindo do pressuposto de que cumprem essa função, creio que elas são mais positivas que negativas. O que acontece, na verdade, é que certos indivíduos acabam não tendo o senso, o controle do que seria uma utilização razoável.”
Profissionais de diversas áreas, atentos à engrenagem da persuasão existente por trás das tecnologias móveis e dos aplicativos, estão travando uma verdadeira cruzada de reeducação dos usuários no interior das próprias redes. Uma das iniciativas mais conhecidas nesse sentido é a Contente, um estúdio de criação que trabalha para promover uma vida digital consciente por meio de projetos autorais, conteúdo e parcerias com marcas. Idealizada pelas sócias Daniela Arrais e Luiza Voll, a Contente existe há quase 10 anos e, atualmente, divulga informações sobre o assunto utilizando a hashtag #ainternetqueagentequer.
Diante da provocação de se os benefícios gerados pelos mobiles se sobrepõem aos malefícios, Daniela, apaixonada confessa por internet e tecnologia, avalia o cenário da seguinte forma: “Nunca estivemos tão conectados, e isso tem um lado extremamente positivo. Tem mais gente usando a internet hoje do que há cinco, 10 anos. E falta um número expressivo de pessoas que ainda não têm conexão e no futuro vão se beneficiar disso. Democratizamos os meios de comunicação. Com uma ideia na cabeça, dá para criar um projeto, um canal, dá para se descobrir youtuber, fazer negócios a partir disso. Ouvimos uma pluralidade de vozes a que antes não tínhamos acesso – e isso é poderoso e transformador para uma sociedade tão desigual como a nossa. A grande questão hoje, para mim, é como usamos a internet. Estamos ainda no jardim da infância, muito entusiasmados com esse brinquedo e, às vezes, ficamos vidrados demais”.
A Contente utiliza seu espaço virtual para estimular hábitos que as próprias sócias vêm experimentando, na tentativa de buscar o melhor modo de estarem conectadas. Entre eles, os detoxes digitais e a restrição do uso do celular na primeira hora ao acordar e na hora que precede a noite de sono. “Já faz uns meses que faço isso e percebo que o dia começa melhor, sinto que o meu tempo é meu, que posso meditar, escrever, ler um pouco sem ter tido acesso aos excessos da internet. E, quando vou desligando os estímulos antes de dormir, também percebo que a qualidade do sono é maior”, relata.
Porém, diante do império da persuasão que enfrentamos ao ter um smartphone em mãos, não parece uma tarefa simples operar mudanças no coletivo se utilizando justamente dessas redes. Mesmo assim, Daniela mantém a criticidade aliada ao entusiasmo: “A internet que a gente quer e precisa é diferente da que a gente tem e usa. Estamos conectados 24/7 (24h por dia, 7 dias por semana), usamos a rede para trabalho, informação e relações, e, ainda assim, pensamos pouco nas implicações que tanta conexão tem em nossas vidas. Para usar diversos serviços gratuitamente abrimos mão da nossa privacidade. Compartilhamos dados e informação, além da nossa subjetividade, sem questionar o que isso significa. Tanta conexão nos deixa, também, ansiosos, nos comparando com as centenas de vidas que acompanhamos. Já é provado que as redes sociais influenciaram em processos políticos ao redor do mundo, no Brasil também. Chegou o momento de pensarmos melhor em tudo que envolve usar tão avidamente as redes.”

Uma vez que temos a prática de estar 24/7 conectados, o caminho de volta parece algo extremamente penoso. Mais que isso: a depender do quanto se deseja reduzir o uso, deve-se reorganizar certos setores da vida, pois muitos serviços foram parcialmente ou totalmente transferidos para o digital.
Essa mudança de paradigma foi sentida na pele pela fotógrafa Ana Rovati, que desenvolveu um projeto artístico radical intitulado Offline. Desde 2014, ela realizava entrevistas com idosos para compreender a lógica de pessoas que estavam fora da internet, que não viviam a hiperconexão atual. Em 2015, quando foi a Madri realizar um mestrado em desenvolvimento de projetos autorais sobre o tema dos “velhinhos desconectados”, Ana alugou um quarto na casa de uma senhora que não utilizava internet. A partir daí, deu-se conta de que as suas questões não se resolveriam fotografando essas pessoas. Levou dias para admitir, mas não conseguia tirar da cabeça que a resposta que tanto havia procurado para saber como falar sobre o que realmente a interessava seria retirar do seu cotidiano o elemento símbolo que permeava o projeto: a internet. Assim, ela teve algumas conversas, organizou-se e se desconectou em 2 de dezembro de 2015, permanecendo offline até 2 de dezembro do ano seguinte.
No fotolivro que deriva dessa imersão, Ana Rovati fala do “isolamento”, das manchetes que escaparam e da dificuldade de conseguir emprego, mas também do aumento de concentração e do refinamento da relação com as imagens e com a memória. Se existem benefícios que se destacaram da condição online, ela afirma: “A possibilidade de conversar com outros lugares do planeta, de ampliar conhecimento, de realizar trocas importantes para descobertas científicas ou de ver sua irmã que mora em outro país. Também a diversidade de informação. Se soubermos pesquisar, é possível conhecer opiniões e notícias diversas do mundo. E é mais barato, proporcionalmente. É incrível não estar limitada à compra de jornais”, avalia.
No entanto, no que diz respeito a tecnologias móveis, a fotógrafa manteve limites até hoje. “Não uso mais Facebook, uso apenas Instagram pelo computador. E não tenho mais um smartphone na minha vida pessoal. Para alguns frilas, caso seja fundamental, uso durante o período daquele trabalho específico.” Na perspectiva dela, é difícil manter uma relação saudável com os mobiles, mas, embora não inclua o aparelho em sua rotina, acredita que é preciso, e possível, descobrir modos de conviver com o digital.
“Não acredito num ‘basta querer que se tem o equilíbrio’. De forma geral, exige muito esforço e, mesmo assim, como não estamos isolados, mas cercados por um modelo econômico e social que ‘impõe’ uma dinâmica de consumo, comunicação e informação 24 horas ao dia, então a pressão é ainda maior. Mas a tecnologia pode ser algo muito legal. Precisamos encontrar novas formas de criar, de nos humanizar e de confiarmos mais na gente que na ferramenta. Não tenho a resposta, não sei como fazer. Não acho que o caminho é a desconexão plena. O projeto foi uma provocação radical para ir até as últimas consequências e pensar a respeito. Com minimudanças no meu cotidiano, como deixar redes sociais, sigo tentando descobrir uma maneira de ter mais autonomia sobre as minhas escolhas”, reflete a artista.
Quando questionada se os smartphones trazem mais benefícios que malefícios, Ana comenta: “O que eu poderia dizer é que acredito que as tecnologias são marcadas pela ambiguidade, ou seja, elas não são determinantes na nossa vida, mas também não são neutras. Por um lado, não implicam necessariamente em uma existência mais feliz ou infeliz, mais livre ou aprisionada; mas, por outro, de alguma maneira interferem fortemente numa ou noutra direção. Por isso mesmo é urgente questionar uma ‘falta de questionamento’ sobre seus ‘aparatos’, quase sempre associados positivamente pelo senso comum à ideia de ‘progresso’”.
***
Durante o meu mestrado, na Universidade Estadual de Campinas, sempre me questionava sobre o quanto os professores estavam atentos ao impacto que esses aparelhos tinham na produção dos pesquisadores mais jovens e como não era simples interromper esse uso. No meu caso, eu lidava diretamente com alguém preservado dessa dinâmica: meu orientador não tinha sequer celular. Ainda hoje, Eduardo Sterzi acumula as funções de coordenador do programa de pós-graduação, professor, pesquisador, crítico e poeta. Por nunca ter aberto espaço para o aparelho em sua vida, embora esteja presente nas redes sociais, pode-se antever que seu posicionamento a respeito dos smartphones é bastante crítico.
“Ganhei um celular de presente por volta de 1995 ou 1996, não lembro ao certo”, conta. “Fiquei com ele pouco mais de uma semana, e depois nunca mais. É um aparelho realmente infernal, porque elimina a própria ideia de tempo livre. Estar disponível para os outros 24 horas por dia é um pesadelo que as pessoas poderiam evitar, se percebessem que é um pesadelo – porém faz parte da eficácia do pesadelo capitalista que não seja percebido como tal, mas, pelo contrário, como se fosse um evidente ganho. Quem não quer ter o mundo na ponta dos dedos? Eu não quero, porque, na verdade, somos nós que nos colocamos nas mãos do mundo, isto é, dos seus proprietários, sob a forma de um trabalho generalizado e infinito, que captura todas as horas de nossas vidas.”
Na sua opinião, os celulares atentam contra o que resta da dimensão pública das telecomunicações. Ele observa, por exemplo, o continuum que liga a eliminação progressiva dos orelhões ao fim dos sinais analógicos de televisão, assim como a substituição dos programas de rádio pelos podcasts e da programação habitual da TV pelo streaming. “Esse continuum, que a meu ver se estende até a emergência do WhatsApp como rede antissocial refratária a verificação pública – o que favoreceu enormemente o fenômeno das notícias falsas, responsável pela aniquilação das formas contemporâneas de democracia, no Brasil, mas também um pouco por todo o mundo –, constitui uma forma extrema de privatização das nossas experiências comunicativas”, avalia Sterzi.
Seu ponto de vista vai na contramão de quem avalia essas tecnologias pela perspectiva de uma democratização ampla. Quando questionado sobre as consequências que observa no meio universitário, ele indica o favorecimento da dispersão da atenção durante as aulas. Por outro lado, destaca o que percebe como uma vantagem trazida pelos celulares: “Um impacto imediato nas atividades universitárias está na migração para o smartphone de grande parte das leituras que os alunos, mas também alguns professores, fazem. Este, a meu ver, é um dos poucos aspectos benéficos da intromissão maciça do pequeno aparelho obscuro nas nossas vidas. Associado às inúmeras formas de pirataria de textos e outros objetos culturais, ele ajudou na democratização do acesso à cultura.”
Se, por um lado, Ana Rovati enfrentou grandes limitações com a privação total de internet, Eduardo não atribui suas dificuldades na dinâmica contemporânea à não adesão ao aparelho. “Não é a falta de smartphone ou de celular que me traz dificuldades, mas, sim, a destruição da dimensão pública das telecomunicações, assim como a migração de serviços do mundo concreto e tangível, no qual lidávamos com pessoas de carne e osso, para o mundo etéreo das tecnologias digitais, no qual lidamos com avatares destituídos de qualquer consistência física verificável. Um exemplo concreto de dificuldade que encontro: não tenho mais como estacionar meu carro em vagas nas ruas de São Paulo conhecidas como Zona Azul – antes, comprávamos talões com permissões de estacionamento por um determinado intervalo de tempo. Hoje, toda essa operação é feita por meio do celular. Outra dificuldade: não consigo ter acesso à minha conta bancária por meio da internet, já que eu precisaria de um celular para liberar as operações.”
Ainda assim, o acadêmico não aventa a hipótese de se integrar ao montante de usuários de iOS ou Android: “Prefiro ter de lidar com essas dificuldades do que ter de pagar o imenso pedágio que é se deixar capturar pelo pequeno aparelho obscuro que escravizou toda uma civilização. Já tive, sim, de recorrer a amigos que tinham celulares quando foi absolutamente inevitável receber algum SMS com código de liberação de serviço virtual; ou ainda para alguma ligação telefônica de urgência – a qual eu faria num telefone público, se eles ainda existissem. Outro dia, tive de caminhar um quilômetro para encontrar um que estivesse funcionando – e só achei dentro de um shopping, o que não deixa de ser irônico”, conclui.
***
Quando esse tipo de discussão está instalada, não é difícil ver os argumentos deslizarem de um objeto para o outro e perdermos de mira se estamos fazendo uma crítica ao uso da internet, do smartphone, das redes sociais… Desde o início, a questão central desta reportagem é o tipo de relação com o digital que foi instituída com a ampla adesão dos aparelhos móveis. Algumas importantes vozes deste debate, no entanto, defendem que as tecnologias móveis em si não são o problema, mas o modelo de negócios que está por trás do que é consumido nesses aparelhos. Faz todo sentido, mas o fato é que é mais fácil alterar a relação com seu celular do que abater o sistema.
Para o cientista da computação Jaron Lanier, mais eficiente que mirar o smartphone seria deixar de utilizar as redes sociais – todas elas. No livro Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais, ele defende a necessidade de minar o modelo de negócios “em que o incentivo é encontrar clientes dispostos a pagar para modificar o comportamento de alguém.” Não é à toa que as redes também inflam nos indivíduos esse desejo de transmitir hábitos, de impactar o modo de vida do outro, que tem seu ponto alto na criação de uma categoria nomeada influencers – é a replicação individual, com alcance enormemente menor, do mesmo valor de negócio.
Sobre essa hegemonia econômica, o psicólogo Cristiano Nabuco relembra que as empresas de tecnologia, hoje, valem mais que as de energia ou de petróleo. Para Jaron Lanier, “sair das redes sociais é a única forma de descobrir o que pode substituir o nosso grande equívoco”, mas se trata também de um grande privilégio – basta pensar que hoje é por elas que circulam primeiro, por exemplo, muitas informações do campo do trabalho, das vagas de emprego.
A insanidade desse modelo e a negligência com que tem sido tratado é o que faz alguns profissionais tomarem a linha de frente do debate de maneira mais alarmista e combatente. Isso não quer dizer que eles não enxerguem as benesses dessas ferramentas, mas é preciso conversar sobre o preço que a sociedade está pagando por elas, que só aparentemente são gratuitas.
Lanier dá um exemplo bastante específico que me toca intimamente: “É difícil lembrar que pessoas com condições de saúde rara não tinham como encontrar outros indivíduos com a mesma história de vida, de modo que não havia ninguém com quem falar sobre problemas incomuns. Foi uma enorme bênção isso ter se tornado possível.” Não posso deixar de recordar a importância para a minha família de existir uma rede de compartilhamento sobre a doença rara que matou meu pai. Ainda assim, para cada uso precioso do smartphone e da experiência que ele carrega, quantos são feitos na direção de um adoecimento?
Um dos principais problemas da manipulação dos usuários a partir de recompensas simbólicas é que, segundo Lanier, ela tem melhor retorno de engajamento mobilizando o mal-estar entre nós. “Emoções negativas, como medo e raiva, vêm à tona mais facilmente e permanecem em nós por mais tempo do que as emoções positivas. (…) A diretriz principal de gerar engajamento se retroalimenta e ninguém percebe que as emoções negativas são mais amplificadas do que as positivas. O engajamento não tem o objetivo de servir a nenhum outro propósito particular além do próprio aprimoramento, e ainda assim o resultado é uma amplificação global e anômala das emoções ‘fáceis’, que por acaso são as negativas”, escreve.
Diante de tantos aspectos subjetivos e éticos, muitos de viés nocivo, que são pouco evidentes para grande parte dos usuários diretamente implicados com esses aparelhos, é de se perguntar quando vamos instituir um debate público a respeito desses aparelhos, inclusive no campo da saúde pública. “Acredito que em um futuro próximo será inevitável falarmos de políticas públicas, porque a internet tem um papel cada vez maior e mais determinante nas nossas vidas – e nós precisamos ser mais protagonistas dessa internet, entender nosso papel nela, nos planos individual e coletivo”, comenta Daniela Arrais.
Participante da campanha Reconecte, encabeçada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, relacionada à reeducação dos hábitos tecnológicos, Cristiano Nabuco avalia: “Com relação às políticas públicas, obviamente, isso já deveria estar acontecendo. Recentemente, nós fizemos o Detox Digital Brasil. A gente divulgou em várias redes sociais a proposta de ficar um dia inteiro sem tecnologia, sem contato nenhum, para que as pessoas pudessem raciocinar e refletir qual é o uso que elas têm feito. Eu acho que daqui para frente existirá uma tendência mundial de divulgar iniciativas de detox, de movimentos de uso mais saudável e inteligente, exatamente para que as pessoas comecem a observar que isso tem consequências bastante sérias.”
Questiono como é possível esperar que uma gestão que se beneficia tanto de um uso inconsequente das redes e do smartphone, inclusive se opondo a iniciativas de regulamentação, pode estar comprometida seriamente com uma conscientização neste âmbito, e o pesquisador responde: “As pessoas com as quais estou envolvido diretamente têm me dado uma abertura grande de eu poder levar adiante as ações que acho que seriam importantes. Alguns colegas já me falaram a mesma coisa que você me pergunta, mas, na parte que me cabe, no recorte que tenho contato, não vivencio isso.”
No que diz respeito ao direcionamento político que a lógica do aprimoramento do engajamento do usuário mobiliza, Lanier é objetivamente pessimista: “A mídia social é tendenciosa, não para a esquerda nem para a direita, mas para baixo. A facilidade de usar emoções negativas para fins como o vício e a manipulação faz com que os resultados indignos também sejam relativamente fáceis de alcançar. No fim das contas, uma combinação infeliz de biologia e matemática favorece a degradação do mundo humano. Unidades de guerra de informação influenciam eleições, grupos de ódio recrutam e niilistas obtêm um incrível retorno de investimentos, quando tentam derrubar a sociedade.”
----------------------------------------------------------------------
EXTRA: Página Detox Digital, da jornalista Daniela Arrais
----------------------------------------------------------------------







