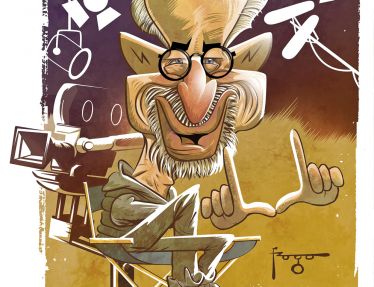'A Entrada de Cristo em Bruxelas', 1888, Museu Real de Belas Artes, Antuérpia
Pintura Reprodução
[conteúdo da ed. 192 | dezembro 2016]
Eu digo ao dia: “Nasça, que eu quero pintar”. Só pinto com luz do dia. Vejo, ainda na cama, um leve clareamento no alto da parede do quarto oposta à varanda, a luz começando a entrar pelos vidros do alto das duas portas, o sol prestes a nascer. Aí digo ao sol: “Nasça, que eu quero descer”, porque em minha casa os quartos ficam em cima e o atelier, como o resto da casa, embaixo no térreo.
(Continuo grafando “atelier”, como no Atelier Coletivo, onde comecei, da S.A.M.R., Sociedade de Arte Moderna do Recife. E também porque não é “ateliê” que ouço essa palavra, assim dicionarizada hoje em português, tanto no Houaiss como no Aurélio. Embora nunca pronunciemos esse erre final das palavras aqui no Nordeste, não dizemos propriamente “ê” e sim, no caso, algo que indique “er”, como bem assinalou uma linguista francesa, cujo nome me escapa, mulher do pintor espanhol Julio Alvar, amigo de Hermilo Borba Filho, Lêda de Hermilo deve se lembrar, casal que hospedei em minha casa em Rio Doce, Olinda, década de 1970, época em que pintei o retrato de Hermilo e Lêda. Eu, que não sou linguista nem tenho ouvido tão afiado, no entanto chocou-me essa redução drástica de “atelier” para “ateliê”, fica aqui o registro. O comentário serve para as terminações em erre com todas as vogais.)
Meu atelier é cheio de janelinhas no alto da parede de pé direito de dois andares, o que permite uma iluminação natural perfeita o dia todo, como vi em Antuérpia no atelier de Rubens, conservado intacto até hoje, um dos dois motivos pelos quais considero os belgas uma raça superior.
O outro motivo é uma história que não me canso de contar. Vou contar mais uma vez, porque acho bonita e para provar o que digo.
Madame Morin, pronuncia-se morrán, como do célebre cônsul francês Marcel Morin, apaixonado pelo bloco Inocentes do Rosarinho: “O cônsul Morin está contente/E vai à França levar o Inocentes/Em Paris, cidade de glória/Inocentes vai contar a sua história”. Aliás eu estava em Paris quando soube de duas coisas ao mesmo tempo: 1) estava havendo uma grande exposição, a Expo 58, em Bruxelas, quando construíram o grande átomo que até hoje virou símbolo da cidade, ocasião única de ver 50 anos de Arte Moderna da Bélgica, com uma grande retrospectiva de James Ensor, inclusive o quadro A Entrada de Cristo em Bruxelas que sempre sonhara ver; 50 anos de Arte Moderna, do mundo todo, tendo até um quadro de Portinari; a maior exposição já feita de Jerônimo Bosch, trazendo quadros do mundo inteiro; idem de Salvador Dali; além de maravilhas da tecnologia (como uma máquina que falava, respondendo de viva voz a qualquer pergunta em qualquer língua: à pergunta em russo do general Voroshílov “Qual o maior acontecimento mundial do ano de 1917” a máquina respondeu em russo sem titubeio “A Revolução Russa”); 2) que perto de Bruxelas, na cidade de Louvain (ninguém usa, mas em português é Lovaina), uma casa do estudante oferecia gratuitamente hospedagem a estudantes estrangeiros durante o tempo de férias, justamente esse da Expo. Imediatamente me candidatei e cheguei lá num domingo no finzinho da tarde mas ainda dia claro, que no verão por lá tem sol até 10 horas da noite. Toquei na campainha e veio um rapaz me receber, assim do meu tope, moreno. Quando eu disse meu nome, ele, que já devia ter lido minha ficha, deu um pulo e me abraçou louco de felicidade. Ante minha surpresa, declarou em espanhol: “Viemos mostrar a esses europeus o quanto valem nossos índios!” Continuei sem entender. Gritou, como para me acordar: “O Brasil acaba de ganhar a Copa do Mundo!” Tinha sido momentos antes, naquela mesma tarde. 1958.
Me levou à Madame Morin, uma senhora casada e sem filhos que resolveu fazer alguma coisa pelos filhos dos outros e criou aquela casa para abrigar estudantes estrangeiros pobres. Era branca, magra, alta, de trajes caseiros. Naquela época minha base era Paris, onde morava em casa de brasileiros de férias, e tinha facilidade de entender francês. Lembro que perguntou qual a preferência de línguas para companheiro de quarto, dois em cada quarto. De preferência que falasse português ou italiano, que tinha passado um ano na Itália. Ou espanhol, ou mesmo francês ou em último caso inglês. O mexicano me levou por um corredor e bateu na porta de um quarto. Apareceu um hindu. “Meu Deus”, pensei comigo, “em que língua vou falar com esse cidadão?” Ele estendeu a mão e disse “Muito pr’zer” em português de Portugal. Era de Goa, alfabetizado em inglês, falava português corretíssimo, única língua em que falava com sua mãe mas em que não sabia escrever uma palavra.
Madame Morrin gostava de pintura. Tinha dois Utrillo. Quis saber o que queria ver na Bélgica. Disse-lhe algumas coisas, como o atelier de Rubens e o Políptico do Cordeiro Místico na catedral de Gent, a obra-prima dos irmãos Van Eyck, inventores da pintura a óleo. Disse que um grande poeta brasileiro, Murilo Mendes, me intimara a ver o que ele achava o mais belo quadro que já fora pintado, A Virgem com o Menino de Jean Fouquet, do Museu de Antuérpia. Todo dia, de manhã cedinho, eu pegava bigu com o seu marido químico, que trabalhava em Bruxelas e me deixava na Expo. No último dia, estava eu como de costume no carro, dessa vez para pegar o trem para Paris, quando ela fez sinal que esperássemos. O marido olhava para o relógio resmungando: “Mas essa mulher não sabe que tenho horário!” Até que ela se aproximou e me entregou um envelope com uma inacreditável maçaroca de dólares, disse “Para você conhecer um pouco mais da Bélgica”, virou as costas enquanto o marido arrancava com o carro não me dando tempo de agradecer.
Enquanto estive lá, escrevi uma poesiazinha que dizia: “Minha mãe, quando eu morrer/Me enterre em Louvain/No Drève des Celestins/Debaixo dos arvoredos”. ![]()