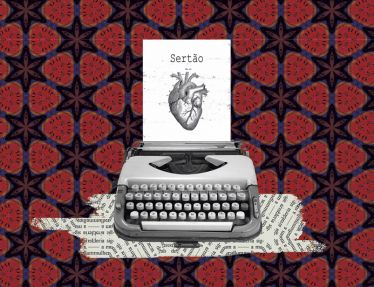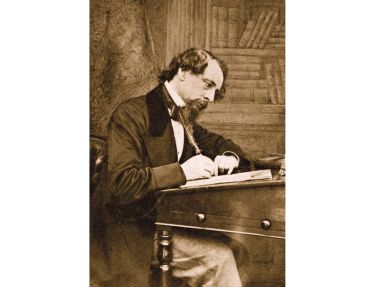Nanquim e acrílico sobre papel, 38 x 57 cm, 1985, sem título, de Solange Magalhães
Imagem Reprodução
Não gosto de matéria que não diga logo na primeira linha sobre quem se fala. Gosto dos russos que começam assim: “Ivan Ivanitch Lapkin, jovem cavalheiro de aspecto agradável, e Ana Semiônovna Zamblítzkaia, jovem senhorita” (Lendo Tchekov, tradução de Tatiana Belinky, Ediouro, 2005) ou “Evguêni Ivânovitch Irtênev tinha uma brilhante carreira pela frente” (Tolstói, O diabo, tradução de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares, L&PM, 2010).
Neste caso especial, porém, não me posso permitir, nomeando-a, expor a pessoa de quem falo, moça exemplar, que tanto prezava a discrição. Até na morte. Naquela época, início da década de 50, morte aqui no Recife não era coisa tão banal como hoje e, com certeza por isso, para mim nunca foi nem será banal. Tratava-se de criatura de nossa idade, vinte anos no máximo, e que não demonstrava conflito nenhum. O mundo era outro. Qualquer pessoa aqui no Recife podia andar de noite na rua, até a noite toda se quisesse, sem medo de assalto. Não havia a indústria de horrores. Uma morte se sentia, agregava-se ao nosso íntimo criando uma espécie de parentesco até entre desconhecidos. Ainda mais pessoa com quem se conviveu, que se tornava parte do nosso ser, ficando aquela dor muda dentro de nós até hoje. O tempo não pesa, o tempo não passa, em relação a isso.
Agora, os anos chegando, os conhecidos morrendo, sinto essa pessoa (como gostaria de dizer o nome dela!) cada vez mais perto. Com a proximidade da minha própria morte, que ninguém vive para sempre, me sinto capaz de falar quase de igual para igual, como se o fato de ela ter morrido não contasse, não fizesse lá grande diferença; também porque dentro de nós ela não morreu. Nós é que morremos todos os dias: não é verdade, Octavio? não é verdade, Egydio?
E outro fenômeno. Como ela estava com vinte anos ou menos, eu, nos meus oitenta e dois, quando penso nela fico com os mesmos vinte ou menos dela, ela intacta, bela e risonha depois de mais de seis décadas do seu suicídio. Como não vi a velhice dela nem ela a minha, continuamos, um para o outro, jovens. Isso além de eu garantir, enquanto existir, a sua existência, garantindo-lhe também a juventude, a jovialidade, a beleza, a inteligência e tudo o mais que era dela e continua sendo. De quebra, também salvo a minha juventude, pois não conseguiria falar-lhe na postura de velho. Nem imaginá-la, de jeito nenhum, velha: nem fisicamente, na face, nos gestos, no andar, nem portadora de currículo carregado de títulos e outras importâncias inalcançáveis. Devo isso a ela, a obrigação de continuar jovem, limpo, requisito indispensável para falar com ela. Caso contrário ela não me reconheceria.
Fazíamos o curso clássico no Colégio Osvaldo Cruz. Te lembra, Terezinha? Te lembra, Alencar? Fizemos vestibular no mesmo ano para a Faculdade de Direito do Recife (aposto como ela tirou a melhor nota). Você sabia que eu de nada sabia mas me tratava como se eu fosse alguém, como se eu não fosse qualquer um (e eu exatamente era o rapaz sem parentes importantes, sem dinheiro no bolso, vindo do interior, como diz a música). Você não se pintava. Ou talvez alguma vez usasse batom (acho que as moças naquela época não se pintavam nem pintavam as unhas, não lembro). Naquela época as saias eram abaixo dos joelhos (e moças, algumas, usavam calças compridas pelo carnaval). E (me perdoe a falta de respeito, de jeito nenhum falaria disso em sua presença) acho que você não raspava as pernas: não combinava com o seu sorriso. Nunca a vi rir, dar risada de boca aberta. Falava baixo, educadamente (não lembro de sua voz a não ser isso, que falava baixo, educadamente). Seus dentes eram perfeitos e, pelo que guardo na lembrança tão distante e juntando com a memória fraca, um pouco miúdos, dando um ar um tanto infantil em contraste com a sua lucidez, seu aprumo, combinando com a discrição do sorriso sempre na hora certa sem um segundo a mais. Não sei de ninguém que lhe tenha tido maior aproximação além da cordialidade. Vejo você passando, num dos corredores do colégio, de vestidinho leve, verde, com uma braçada de livros (seu sorriso nos dizia que você sabia de coisas que a gente não alcançava).
Em quem será que Mozart Siqueira pensava quando levantava os olhos para reverter as lágrimas ao recitar obsessivamente Annabel Lee de Edgar Allan Poe? A bunda no chão no meio-fio do Pátio da Santa Cruz, ou melhor, um degrauzinho curvo do Centro Gouveia de Barros, ele recitava verso por verso em inglês e traduzia para português, que o meu inglês nunca deu para nada: “Há muitos e muitos anos/num reino à beira-mar/conheci uma linda moça/que bem se poderia/Annabel Lee chamar”. Eu morava na Rua de Santa Cruz 220 e ele na Barão de São Borja (que fazem esquina). Ele sempre de paletó e gravata apesar de bem à vontade, hábito da Faculdade onde só se assistia aula de paletó e gravata (por isso eu era “convidado a me retirar da classe” porque ia com a camisa por fora das calças, sem paletó nem gravata). Nós éramos do primeiro ano e Mozart do quarto. Uma noite ela pegou um carro de aluguel (ainda não existia táxi aqui) e pediu para deixá-la em Piedade. Piedade quase não tinha casa. Boa Viagem só na beira-mar. Lembro da igreja, isolada, e a certa distância uma casa dos jesuítas que nos serviu de retiro, aos internos do Colégio Marista. O mar era violento. Nem banho de mar tomávamos. Imagino a decisão de ficar lá de noite, uma moça, na areia. Acho que nem postes de iluminação existiam. Nunca soube o lugar exato onde o motorista a deixou para ir buscar dentro de determinado tempo. O barulho do mar, as ondas, a companhia exclusiva das forças irracionais da natureza, o vento emendando com o estampido. ![]()
JOSÉ CLÁUDIO, artista plástico.