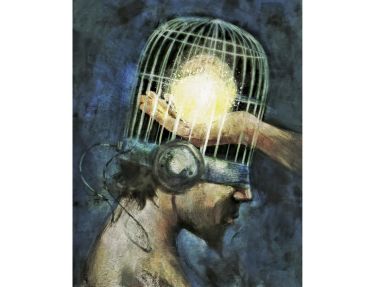Mídias: A obra independe do suporte
No século 21, dissemina-se na produção artística uma maior aproximação com o pensamento e o fazer tecnológicos, associando-os ao seu desvirtuamento funcional
TEXTO Diana Moura
01 de Janeiro de 2011

O cineasta indiano Amar Kanwar apresenta seus filmes-ensaio em instalações
Foto Reprodução/Catálogo da 29ª Bienal de São Paulo
Entre as várias formas pelas quais podemos observar a relação do homem com a tecnologia, está a do processo de disseminação dessas novidades. Elas se consolidam num ciclo que se inicia no desejo e na necessidade, passando pela descoberta, apreensão e popularização até a decadência. Essa última coincide com sua superação técnica e substituição por outra tecnologia mais eficiente, baseada em novos desejos ou necessidades. De tempos em tempos – ou de coisas em coisas –, o ciclo se repete. De uma maneira geral, uma nova tecnologia se estabelece pela sua funcionalidade e eficiência – e esse processo, vulgarmente falando, só é desvirtuado por dois motivos: erro/casualidade ou estética. Ou seja, salvo engano, só a arte é capaz de retirar a utilidade prática dos objetos, transportando-os para o mundo dos valores puramente simbólicos.
Esse procedimento estético se tornou mais evidente a partir do dadaísmo de Marcel Duchamp, com seus ready mades. A subtração do princípio da funcionalidade, ou a sua distorção, converteu-se num recurso que ocupou boa parte da arte do século 20. Nesse início de século 21, a produção artística se aproximou bastante do pensamento e do fazer tecnológicos, associando-os, por conseguinte, ao seu desvirtuamento funcional. Quer dizer, a arte contemporânea dessa primeira década dos 2000 ocupa-se em apropriar-se dos meios tecnológicos e modifica a maneira como o homem lida com esses aparatos. Embora essa prática não seja exclusiva de nosso tempo, torna-se cada vez mais popular, uma vez que, nunca, como hoje, a relação do homem com o mundo foi tão intensamente mediada pelos recursos técnicos e tecnológicos, digital em sua maioria.
Não foi por casualidade, nem por determinação expressa de seus curadores, que a Bienal de Arte de São Paulo de 2010 teve um volume de vídeos até então inédito na mostra internacional. Segundo o curador Moacir dos Anjos, corresponsável por essa edição do evento ao lado de Agnaldo Farias, o crescimento da videoarte como forma de expressão apenas reflete o amadurecimento de uma geração artística que cresceu diante da onipresença do vídeo, principalmente a televisão. Ao trabalhar com meios audiovisuais, eles transportam para a arte o suporte pelo qual se acostumaram a ver e interpretar o mundo.
Rodrigo Braga registra a performance Desejo eremita em ensaio fotográfico de 2009.
Foto: Reprodução
O artista plástico amazonense Rodrigo Braga, radicado no Recife, é um dos nomes da produção contemporânea que se vale do vídeo como forma de expressão estética. Um de seus trabalhos mais delicados – e também polêmicos – mostra dois pássaros de tamanho similar, presos um ao outro, por um cordão atado aos pés. Um deles está vivo, o outro morto. Quando um levanta voo, é puxado pelo peso do animal inanimado. Doloroso, o vídeo traz consigo o sugestivo título de Vontade (2007).
Rodrigo Braga, aliás, é um dos nomes mais fortes da arte pernambucana quando se pensa na associação entre arte e tecnologia. Um de seus trabalhos mais conhecidos, Fantasia de compensação, apresenta o rosto do artista reconstituído com as feições de um cachorro. Impactante, a série de fotografias, realizada em 2004, suscita críticas inflamadas ainda hoje, pelo uso do corpo do animal como matéria-prima para a realização de uma obra de arte. Extremamente complexas, as peças foram construídas pela combinação bem-sucedida de perícia técnica (moldes de gesso, recorte dos pedaços da cara do cachorro, montagem dessas partes no molde, fotografia) e domínio tecnológico. Manipulando softwares gráficos, o artista substituiu com perfeição o modelo de gesso de sua cabeça por fotografias de sua face.
Máscara de mergulho é a perfomance realizada por Carlos Mélo, em
Sintra. Foto: Reprodução
Essa criação de Rodrigo é um exemplo claro de uma obra que, antes da disseminação das tecnologias digitais, não seria possível – pelo menos em todos os seus níveis. Claro que uma pintura hiper-realista seria capaz de proporcionar um efeito alegórico similar, mas a verossimilhança das imagens transmite uma sensação de completude e incômodo muito maiores. Tanto que diversas pessoas chegaram a perguntar ao artista se ele realmente teria se submetido ao transplante das partes do cachorro em sua face durante a feitura de Fantasia de compensação.
CAMPO PERFORMÁTICO
A popularização e o barateamento das tecnologias digitais também mudaram, nos últimos 10 anos, o processo de construção e exibição das performances, não apenas no Brasil, como em outros países. Hoje, com a onipresença das mídias de todas as naturezas e escalas, é quase impossível escapar de alguma forma de registro e reprodução imagética dessas ações, que acabam se transportando e gerando outro produto estético. É o caso, em Pernambuco, do artista plástico Carlos Mélo, que, apesar de também se expressar por meio de vídeos, múltiplos e objetos, encontrou na realização de performances e na sua documentação um campo vasto para a representação de sua poética.
Amor e felicidade no casamento, de Jonathas de Andrade, é uma obra composta por 80 fotografias-pôsteres. Foto: Reprodução
No pensamento plástico de Mélo, o corpo é ponto de partida e de chegada. O artista revela especial interesse por esse corpo que se move no espaço e por seus vestígios. Depois de ter atuado em muitas de suas obras, atualmente ele tem convidado outras pessoas para fazer parte das criações. Como acontece com a maioria dos artistas performáticos, as ações a que o público assiste diretamente são, muitas vezes, inferiores ao potencial de visualização do resultado quando exposto, seja por meio de fotografias, vídeos ou em outras circunstâncias.
Essa especificidade acaba por criar duas obras distintas – a performance, propriamente dita , e sua representação –, mesmo que compartilhem uma só gênese. Apesar de evidenciarem a ausência da ação, no momento em que são vistas, as fotografias são a única forma possível de apreender a realização anterior. Uma obra de arte que expõe a ausência de outra, sua antecessora, e que não existiria de outra forma. Embora esse tipo de trabalho venha sendo realizado desde meados do século 20, não há como negar que as tecnologias digitais lhe ofereceram novo impulso e mais possibilidades.
Entre suas experimentações artísticas, Cristiano Lenhardt produziu
fotografias com aparência envelhecida, que resultaram na série Europa.
Fotos: Reprodução

Aliás, a massificação de fotografias computadorizadas proporciona, ainda, o surgimento de duas outras formas de utilização estética desse recurso, ou de sua negação. Uma delas é a apropriação, pelo campo da arte, do excesso e da saturação de imagens absolutamente casuais, clicadas todos os dias, em todos os lugares do planeta, e disponibilizadas aos montes nas redes sociais online. Como contraponto, há uma reação a essa banalização fotográfica, sentida nas obras de artistas como Cristiano Lenhardt e Jonathas de Andrade, que produzem, atualmente, fotografias propositadamente com aparência envelhecida. Claro que esse é apenas um dos aspectos de suas criações, mas não deixa de ser interessante observar a proposta de artistas que se estabelecem na contramão do fluxo da produção imagética midiática. Ao adotarem novos critérios para a imagem, resgatando texturas, locações e temas relacionados a décadas que ficaram para trás, eles reafirmam o caráter menos banal e corriqueiro da fotografia, fazendo incidir um olhar diferente sobre ela. Para isso, utilizam meios ambíguos a fim de concluir esse percurso. Primeiro, porque também acabam por se pautar por temas cotidianos – que se tornam menos cotidianos quando nos iludem em relação ao tempo que parece acumular-se sobre elas. Depois, porque também podem sofrer processos tecnológicos para que se tornem antigas, amareladas, rotas e gastas, num processo que usa aparatos digitais quase que para negá-los.
Há nessa dualidade um caso cada vez mais comum de apego e negação das imagens ditas computadorizadas. Atualmente, essa questão também tem impregnado o cinema. Há uma tendência de se usar recursos avançados de produção, gravação, montagem e acabamento digitais em filmes que podem ser realizados em casa, com softwares operados com simplicidade. O resultado é um artesanato – aqui usado como contrário a um processo industrial pesado – que leva alguns artistas do audiovisual a criarem produtos que, de tão livres, são híbridos, não importando se estão enquadrados na categoria cinema, vídeo, videoarte, ficção ou documentário.
O diretor pode amalgamar características pertinentes a todas essas linguagens e criar um produto único, que possua linguagem própria de seu criador, longe de rótulos e amarras. Obras desse tipo têm se multiplicado, só para explicar (aos apocalípticos) que arte é aquilo que o autor traz consigo antes de decidir em que suporte vai realizá-la. Pode ser numa folha de papel. Ou num código binário impalpável, só existente, na prática, como um arquivo digital. O processo e os resultados, ou seja, a poética, é a única coisa que verdadeiramente importa. ![]()
DIANA MOURA, jornalista, mestre em Comunicação e editora-assistente do Caderno C, do Jornal do Commercio.
Leia também:
Emergência tecnofágica