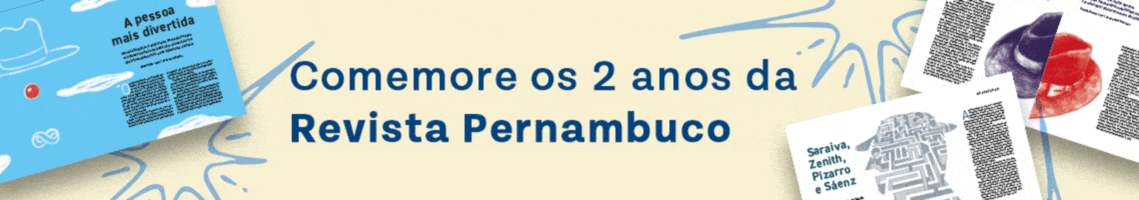Radiohead: incrível jornada noite adentro
Nove anos ausente do Brasil, banda inglesa fez show memorável no Rio de Janeiro, na sexta do dia 20 de abril
TEXTO Luciana Veras
21 de Abril de 2018

Quinteto inglês se apresentou na noite de sexta, 20, na Jeunesse Arena, no Rio
Foto Patrícia Menezes
O primeiro show do Radiohead no Brasil após um hiato de nove anos – a banda inglesa esteve no país, para as mesmas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo que a recebem agora, em março de 2009 – ocorreu na sexta (20/4), na Jeunesse Arena, nos cafundós da capital carioca. As informações essenciais já constavam no material de divulgação e eram repartidas entre todos os fãs que se dirigiam de metrô e BRT à área do parque olímpico, muito além da Barra da Tijuca: portões seriam abertos às 18h, primeiro show – Junun – começaria às 19h30, em seguida haveria o set do DJ Flying Lotus e, por fim, às 22h, Thom Yorke, Colin Greenwood, Johnny Greenwood, Phil Selway e Ed O’Brien subiriam ao palco.
“Flopado” era um adjetivo que alguns fãs usavam na jornada de transporte público (de fato, a melhor maneira para se deslocar até o local do concerto) para descrever o show: com a provável venda de poucos ingressos, mudou de lugar, depois mudou de data e, por fim, recambiou-se para o dia original – sexta-feira, 20 de abril de 2018. “Flopar” significa, mais ou menos, afundar. OK, se houve pouca venda de ingressos, melhor foi para quem estava lá. A Jeunesse Arena se assemelha ao Geraldão, o antológico ginásio localizado na Imbiribeira, no Recife, que sediou diversos shows internacionais (só em 1991, lá pude ver, no intervalo de apenas três meses, A-ha, Information Society e Faith no More). Logo, o espaço propiciava maior aproximação entre o público e o palco, experiência que decerto não se repetirá em São Paulo, onde o show deste domingo, 22, ocorrerá no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras.
Ginásio versus estádio é uma equação que qualquer fã responderá de imediato: ginásio! Se o Radiohead precisou readaptar seu intricado sistema de projeções ou o lisérgico desenho de luz para uma configuração de menor porte, decerto o fez de maneira hábil: o impacto visual do espetáculo é, de fato, incrível. Há um jogo entre os telões e os canhões de luz que reproduz atmosferas oníricas, ora emulando uma paisagem subaquática (em Weird fishes/Arpeggi, em que parecia que estávamos, todos, dentro de um submarino a explorar as nuances de todas as formas da água), ora uma feérica noite em que dançar faz mais sentido do que falar – como em 15 step ou Paranoid android.
O que nos leva ao setlist. Muito já havia se especulado sobre o punhado de canções a ser apresentadas nos dois shows do Brasil, em especial depois das passagens pelo Chile, pela Argentina e pelo Peru. As divergências entre cada uma das três performances na América do Sul evidencia, na verdade, a força de um repertório que é burilado com maestria pela banda. As canções de A moon shaped pool, álbum de 2016, vêm sendo mostradas desde o ano em que foi lançado, em concomitância com a vasta bagagem de canções que fazem parte da cultura/cosmogonia pop desde 1993, quando o Radiohead surgiu com Pablo honey. Ou seja, há muito o que mostrar em cada concerto. E o de sexta (20/4), no Rio, exemplificou essa capacidade de Thom Yorke e cia. de transcender expectativas, ou melhor, de torcê-las, colocando tudo em um liquidificador que, inclusive, opera novos compassos no ritmo da apresentação.
Por exemplo: a abertura, com Daydreaming, canção-sonho de vocal quase mantra, evocava a atmosfera litúrgica que se instalaria a partir daquela hora – 22h15 – em que as luzes se apagaram. Ful stop vem e eleva o compasso em um tom, seguida por 15 step, carro-chefe de In rainbows (2007), e por Myxomatosis, uma das mais adoradas canções de Hail to the thief (2003). Esse duo – 15 step + Myxomatosis – é daqueles de colocar o público já para se requebrar como Thom já fazia àquele momento – percebe-se que o vocalista vem envelhecendo como o vinho: mais charmoso, mais desenvolto, mais afeito a dancinhas que desnorteiam e enlouquecem meninos e meninas.
Mas aí a expectiva de um “crescendo” é quebrada por Lucky, de OK Computer (1997) – na primeira das muitas surpresas da noite. Em cinco músicas, apenas, o Radiohead avisava: não esperem linearidade, não esperem um setlist igual àqueles que chilenos, argentinos, peruanos viram, não esperem conforto, e sim a vertigem do inesperado. Reckoner, de In rainbows, e I might be wrong, de Amnesiac (2001), foram celebradas com bastante alegria por uma plateia que não escondia: sim, todo mundo fizera o dever de casa, estudara o legado da turnê, cantava em uníssono e, o que é mais importante de ressaltar e em completa dissonância com os tempos de hoje (mas em completa convergência com a experiência que o quinteto inglês entrega), respeitava o espaço alheio e a fruição de cada um.
Não havia um mar de celulares a filmar sem que as pessoas reclamassem e fossem atendidas - ao contrário, por exemplo, do show do U2 em São Paulo, em outubro de 2017, quando as pessoas pareciam olhar o palco pela câmera dos seus iphones, ontem a mirada se dava sem a mediação do dispositivo. Talvez isso se deva à condução hipnótica do show. Há momentos em que um transe se instaura: Lotus flower, a mais famosa das músicas de The king of limbs (2011), é entoada de modo que quem dança como Thom Yorke no clipe somos nós. Ele, sim, também requebra, mas lidera uma oferta sonora que deixa todo mundo à vontade para se questionar: estamos mesmo vendo essa música sendo tocada ao vivo ou isso tudo é um sonho?
Aliás, a sequência Lotus flower, The national anthem e Idioteque (essas duas de Kid A, disco de 2000) encerra o primeiro bis de um modo potente e ao mesmo tempo antitético: se terminou assim, tão forte, como pode voltar? Foi no retorno, no segundo bis, quando o relógio já marcava as primeiras horas do sábado, que Thom Yorke apareceu sozinho e deu ao público da Jeunesse Arena a mais singela revelação da noite: é possível voltar, sim, e seguir numa aposta essencial para os tempos de cólera em que vivemos.
No amor.
True love waits é uma canção perdida num lado b de um single que entrou na discografia “oficial” da banda, por assim dizer, no álbum ao vivo I might be wrong (lançado no mesmo 2001 de Amnesiac). Não foi tocada no Chile e na Argentina, tampouco no Peru. Não posso dizer que ninguém esperava ouvi-la no Rio de Janeiro porque, afinal, tudo parecia possível naquela espécie de missa em que os rituais eram de pura partilha. Mas a emoção de cantá-la enquanto o vocalista dedilhava o violão pertence ao que existe de indescritível na vida. Será que o amor verdadeiro espera? Ou está à espera de ressignificação em amizades antigas e novas possibilidades de encontros? O que se espera, sem que isso repercuta em uma diminuição do afeto, e os nove anos de ausência deixaram bem claro, é a oportunidade de estar novamente diante de uma banda que se admira. De uma banda que escancara sua aposta para o mundo de 2018: “immerse your soul in love”, mergulhe sua alma no amor, como brada Street spirit (Fade out), única de The bends (1995) que entrou na lista de ontem.
Muito mudou no Brasil que Thom, Ed, Colin, Johnny e Phil visitaram em 2009. Antes vivíamos uma democracia, hoje já não se sabe se haverá eleições em outubro e uma cidade como o Rio de Janeiro, impávido colosso de beleza natural, padece sob intervenção militar federal. Talvez o que eles quiseram dizer, ontem, era que, não importa o quão tenebroso tudo possa parecer, há sempre a chance de se escorar na indizível integridade do vínculo estabelecido entre os artistas e seu público e em todas as sensações que dele emana. “Por um minuto ali, eu me perdi”, narram os mais famosos versos de Karma police, a música que encerra o show. Foi isso, portanto, o que aconteceu. Por 2h25 ali, todos nós nos perdemos. Para nos acharmos, quem sabe como, depois. E para seguir nos buscando. Sempre.
Setlist
- Daydreaming
- Ful stop
- 15 step
- Myxomatosis
- Lucky
- Nude
- Pyramid song
- Everything in its right place
- Let down
- Bloom
- Reckoner
- Identikit
- I might be wrong
- No surprises
- Weird fishes/Arpeggi
- Feral
- Bodysnatchers
BIS 1
- Street spirit (Fade out)
- All I need
- Desert island disk
- Lotus flower
- The national anthem
- Idioteque
BIS 2
- True love waits
- Present tense
- Paranoid android
- Karma police