
Entre crises, o jornalismo resiste [parte 1]
Um olhar sobre o presente e o futuro da profissão em meio à atual crise do setor
TEXTO Débora Nascimento e Luciana Veras
03 de Abril de 2023
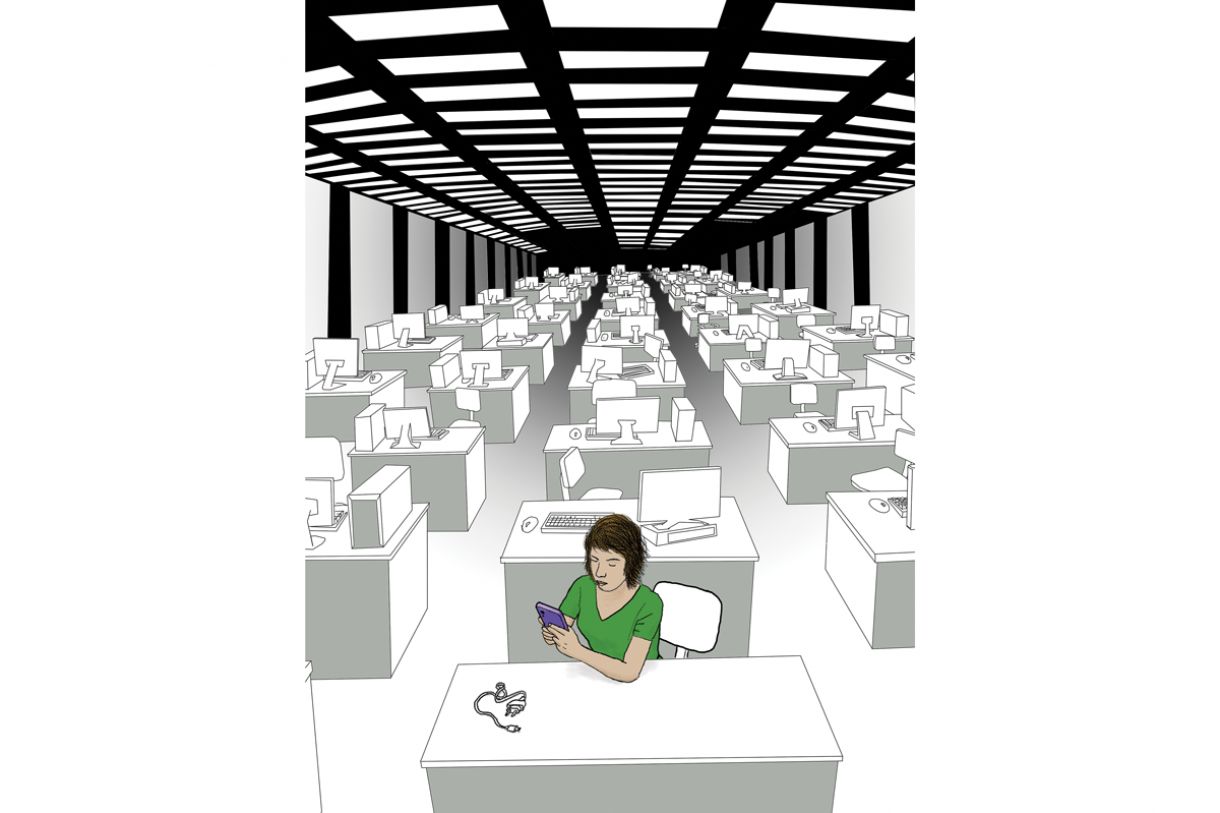
Ilustração YELLOW
[ed. 268 | abril de 2023]
Do latim crĭsis,is, no sentido de “momento de decisão, de mudança súbita, crise”; e do grego krísis,eōs, como “ação ou faculdade de distinguir, decisão”; e ainda krínō na acepção de “separar, decidir, julgar”, a palavra crise chegou ao português no século XVIII, segundo o dicionário Houaiss. Trazida, com grande probabilidade, pelo vocabulário médico que a equiparava a um “momento decisivo na doença”. A junção de cinco letras que não se repetem em um vocábulo de duas sílabas e sonoridade ímpar virou um termo recorrente nestes 23 anos do novo milênio. E, como tal, tem aparecido, com regularidade, na prática profissional que talvez mais se encarregue de documentar a(s) crise(s) da contemporaneidade: o jornalismo.
A crise do jornalismo, assim como a crise da emergência climática, a crise do neoliberalismo e a crise das democracias colapsadas e da ascensão do autoritarismo em diversos países, reverbera em todo o planeta. Porque, quando o jornalismo está em crise – de credibilidade, de financiamento, de representatividade –, o olhar da profissão há de se voltar, também, para a investigação sobre sintomas e causas desse “momento de decisão”.
“Confiança nas notícias caiu em quase a metade dos países na nossa pesquisa, e subiu em apenas sete, revertendo em parte os ganhos obtidos no auge da pandemia do novo coronavírus”, afirma o Instituto Reuters para Estudos de Jornalismo, vinculado ao Departamento de Política e Relações Institucionais da Universidade de Oxford, na Inglaterra, na 11ª edição do seu Digital News Report, divulgada em julho de 2022.
Com dados de 46 mercados em seis continentes, incluindo Brasil, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Índia, Nigéria, Colômbia e Peru, o relatório situa que o “consumo da mídia tradicional, como TV e impressos, decaiu ainda mais no ano passado em quase todos os mercados (pré-invasão da Ucrânia), com o consumo online e nas redes sociais sem suprir a lacuna”. Uma das conclusões: “O interesse nas notícias despencou drasticamente em todos os mercados, de 63% em 2017 para 51% em 2022”. Outro achado: “Uma proporção significativa de pessoas mais jovens e menos educadas dizem que evitam o noticiário porque pode ser difícil de entender ou de acompanhar – sugerindo que as organizações jornalísticas poderiam fazer muito mais para simplificar a linguagem e explicar ou contextualizar melhor matérias complexas”.
Houve uma época em que, para se falar de um estudo como este da instituição britânica, seriam usadas as perguntas básicas do jornalismo: “O quê? Quem? Onde? Quando? Como? Por quê?”. Hoje, a pergunta principal é: isso vai ter quantas curtidas? Mas, mais do que isso, no contexto de crise generalizada, um recém-formado pode ir além da preocupação tradicional – “Terei emprego?” – e se questionar, com muita razão: “Conseguirei sobreviver a partir dessa profissão?”.
Os resultados do Digital News Report ou do Perfil do Jornalista Brasileiro 2021 – Características sociodemográficas, políticas, de saúde e do trabalho, liderado pelo Laboratório de Sociologia do Trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Rede de Pesquisadores do Trabalho e Identidade no Jornalismo (Retij) e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), e também difundida em 2022, suscitam outras indagações.
“A precarização do trabalho avançou significativamente a partir de vários indicadores: quanto aos tipos de contratação, reduziu o volume de vínculos CLT e as formas precárias chegam a 24% (frilas, prestação de serviços sem contrato, PJ e MEI); quanto à jornada de trabalho, o percentual de jornalistas com carga diária superior a 8h permanece alarmante”, alerta a pesquisa, coordenada pelo professor Samuel Pantoja Lima, da UFSC. “Todos os indicadores de saúde confirmam a deterioração das condições de trabalho e produzem efeitos nocivos sobre jornalistas, em especial, o nível de estresse e a disseminação das formas de assédio moral.” Diante de tudo isso, a profissão do jornalista sobreviverá? O que é e quem faz jornalismo em 2023? E, frente a estes índices alarmantes, onde, quando, como e por quê?
Estas são algumas das perguntas que atravessam o meio jornalístico e às quais tentamos responder nesta reportagem, o que também implica um exercício delicado e sinuoso: falar e escrever sobre um mundo que parece estar ruindo, enquanto os sobreviventes tentam, ao mesmo tempo, reconstruí-lo. Porque a crise do jornalismo é global e plural, abarcando vários aspectos simultâneos e entrelaçados: falência de empresas de comunicação, diminuição nas vagas de emprego, baixos salários, pouca infraestrutura nas redações, queda na produção de grandes reportagens, escassez de furos jornalísticos e diminuição do número de leitores, agora já muito acostumados à disponibilidade gratuita e abundante de informações e opiniões efêmeras na internet.
“Acho que existe uma crise de financiamento. As pessoas querem informação e não querem pagar por ela. Isso se mistura ao crescimento das redes sociais. As pessoas confundem, achando que estão se informando por lá. No entanto, muitos ali fingem apresentar matérias e, na verdade, publicam muita desinformação ou mesmo mentiras. Esse comportamento nos trouxe uma demanda de lidar com as mentiras na rede e não simplesmente ignorá-las”, observa Juliana Dal Piva, colunista do UOL, ex-repórter do jornal O Globo e autora de O negócio do Jair (Cia das Letras, 2022). “Agora vejo, também, uma dependência da audiência. As métricas de audiência estão ditando demais a produção digital do jornalismo como um todo. E não é saudável pautar tudo sobre audiência”, complementa, em entrevista por e-mail à Continente.
Ela reconhece, entretanto, que alcançar as audiências requer a exploração de novos formatos. “Não adianta termos uma grande manchete que não chegue até às pessoas. Que a população não domine o conteúdo. É necessário olhar para cada material que está sendo produzido e se perguntar qual é a melhor maneira de apresentá-lo”, defende Juliana. Foi o que fez nas duas temporadas do podcast UOL Investiga – a primeira, A vida secreta de Jair, levada ao ar em julho de 2021; e a segunda, intitulada Polícia bandida e o clã Bolsonaro, em setembro de 2022, pouco após a publicação de O negócio do Jair e um mês antes da derrota do ex-capitão do Exército para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Dessa forma, no livro de subtítulo “A história proibida do clã Bolsonaro” e nos oito episódios das duas temporadas do podcast, a jornalista deslindou ao público uma avalanche sobre falcatruas, crimes e ligações milicianas. “Eu tinha feito muitas matérias antes do podcast e entendi que muita coisa tinha ficado perdida na medida em que a ‘história grande’ não tinha sido contada. Foi isso que eu fiz. Também procurei material para ajudar as pessoas a entenderem a história pelos personagens, provas dos crimes; por isso, os áudios. Já o livro foi por um intuito de registro histórico. Para que ficasse bem demarcada a história que a família Bolsonaro queria esconder”, diz.

Autora do livro O negócio do Jair, Juliana Dal Piva é colunista do
portal UOL. Foto: Mauro Figa/Divulgação
Sua coragem, sua acuidade e seu zelo pelo exercício da profissão tiveram um preço e Juliana Dal Piva virou alvo da brutalidade. Como conta em O negócio do Jair, foi chamada de “inimiga da pátria e do Brasil” pelo advogado Frederick Wassef. Porque, como se todos os transtornos da área fossem ínfimos, ainda há uma campanha de difamação da imagem dos jornalistas, deliberadamente criada e alimentada, na última década, por políticos de extrema direita, como o ex-presidente do Brasil. Eles pretendem se beneficiar com a ignorância provocada pelo desinteresse do leitor/eleitor, que, por sua vez, é municiada com desinformação e fake news através das mídias sociais.
Wassef agrediu a profissional por mensagens de texto. “Por que nao se muda para a grande China comunista e va tentar exercer sua profissao por la???? Faca la o que voce faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema politico que voce tanto ama faria com voce. La na China voce desapareceria e nao iriam nem encontrar o seu corpo”, esbravejou, sem muito compromisso com a gramática, o responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (e por acoitar o ex-PM Fabrício Queiroz) no caso da “rachadinha” dos salários do gabinete de Flávio durante seus mandatos de deputado estadual no Rio de Janeiro.
A jornalista processou o advogado. Em junho de 2022, o juiz Fábio Coimbra Junqueira, da 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou Wassef a pagar R$ 10 mil por danos morais, porém também determinou que Juliana arcasse com o montante de R$ 10 mil por divulgar as mensagens ofensivas. Ela recorreu ao TJ-SP e atualmente aguarda um novo posicionamento do judiciário.
“O jornalismo brasileiro teve um papel extremamente importante nos últimos quatro anos. Foi a partir do trabalho de diferentes colegas jornalistas, entre os quais me incluo, que conseguimos nos aprofundar e mostrar os crimes da família Bolsonaro. Além disso, teve toda a desafiadora cobertura da imprensa na pandemia de Covid-19. O Brasil é um dos países do mundo onde mais morreram jornalistas, tudo isso também em meio ao descaso do antigo governo com a proteção da população na pandemia”, pontua Juliana.
Embora ela se refira ao número de profissionais vitimados pela doença, é crucial registrar que, nas últimas duas décadas, mais de 1,6 mil jornalistas foram assassinados no mundo, conforme levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras. O Brasil é o nono país neste triste ranking, com 42 óbitos. Em 2022, a entidade reputou o continente americano como um dos mais perigosos: foram 11 assassinatos de jornalistas no México, seis no Haiti e três em solo brasileiro – entre eles, o do inglês Dom Phillips, em junho, trucidado ao lado do indigenista pernambucano Bruno Pereira em solo indígena no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas.
Também em 2022, o Brasil contabilizou 376 casos de agressões a jornalistas e veículos de comunicação, em uma triste equivalência de um caso por dia, como reporta o Relatório da Violência Contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil – 2022, divulgado, em janeiro, pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Apesar da queda de 12,53% em relação a 2021, o relatório ratifica que as agressões cresceram em todas as regiões do país, em especial a violência física (representando um salto de 88,46%,) e descredibilização da imprensa (87 casos).
De acordo com a Fenaj, “o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como nos três anos anteriores, foi o principal agressor. Sozinho, ele foi responsável por 104 casos (27,66% do total), sendo 80 episódios de descredibilização da imprensa e 24 agressões diretas a jornalistas (10 agressões verbais e 14 hostilizações)”.
Diante do grande número de ataques, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, instituiu o Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais. A portaria, publicada em 17 de fevereiro de 2023 no Diário Oficial, aponta como competências: monitorar casos de condutas violentas contra jornalistas; apoiar investigações; criar e manter banco de dados com indicadores; e sugerir a adoção de políticas públicas para garantia da função.
***
Nos quatro anos do mandato de Donald Trump, o The New York Times estampou a seguinte frase no topo de seu website e no cabeçalho da sua primeira página: Democracy dies in darkness. Se a democracia morre na escuridão, o jornalismo é farol para restaurá-la. “Dizer que o jornalismo é importante para a democracia é que nem dizer que brócolis faz bem para saúde. Só falar não adianta, tem que mostrar”, brinca Murillo Camarotto, repórter do Valor Econômico na sucursal de Brasília. “É óbvio que o jornalismo é essencial. Só que, nos anos mais recentes, houve uma campanha de descredibilização e de ataques concretos à imprensa, características comuns à extrema direita no mundo, como durante o Brexit, na Inglaterra, e com Trump, Bolsonaro e Viktor Orbán, na Hungria, com efeito sobre a confiança das pessoas no jornalismo. Acredito que, hoje, vivemos uma necessidade de reconexão do jornalismo com as pessoas. O mundo percebeu que, quanto mais turbulência aparece na democracia mundial, mais precisamos ter uma fonte de informações confiáveis no oceano da irrelevância”, acrescenta.
O tema da crise mobiliza o repórter desde 2017, quando, escalado para assumir o posto de correspondente em Buenos Aires, viu a promoção se esvair porque o periódico cortou o posto de trabalho. Ao procurar outras oportunidades de estudar fora do país, leu uma entrevista do diretor do Instituto Reuters para Estudos de Jornalismo. “Lá existe um programa de bolsas para jornalistas do mundo inteiro e eu quis estudar a crise do jornalismo a partir da minha própria experiência no Recife. Quando cheguei a Pernambuco, em 2009, para trabalhar na sucursal do Valor, os jornais locais estavam de um jeito, empregando os melhores jornalistas, conquistando prêmios. Quando saí, em 2014, a situação já era bem pior e uma grande parte desses repórteres premiados tinha ido trabalhar no setor público, em cargos comissionados ou em assessoria parlamentar, em um êxodo causado pela crise, que se refletia na piora da qualidade das matérias dos jornais”, conta Murillo.
Local media in Brazil: Draining the newsrooms in the country’s poorest region, seu trabalho apresentado em julho de 2019, ao término da especialização em Oxford, diagnosticava tanto essa debandada de capital humano das redações como um panorama mais amplo. “Na esteira do processo de desconexão do jornalismo e dos veículos mais tradicionais com a sociedade, essa mesma sociedade também foi se transformando, com cidadãos que agora, também, se veem como produtores de conteúdo. Jornal, rádio e TV passaram a competir com uma gama de produtos, e um conteúdo muito maior”, opina.
Em outro artigo escrito durante o período na Grã-Bretanha, Murillo analisou o caso do Recife Ordinário, perfil criado no Instagram como a “Maior página em linha reta da América Latina que fala sobre uma cidade!” e que, de tanto receber vídeos com denúncias de problemas urbanos, tornou-se referência, inclusive jornalística, para os recifenses: “Um perfil anônimo tinha sido criado, também no Instagram, para denunciar as más condições de trabalho de um jornal pernambucano e um dos mais antigos do país, e me surpreendeu que as pessoas iam lá nas postagens e, em vez de marcar o próprio jornal, marcavam o perfil do Recife Ordinário, dizendo algo como “olha aqui, @recifeordinario”, para interceder naquela situação”.
Uma hipótese que ele sustenta é de que os jornais no Brasil afora não souberam como manter o público fiel. “Perdemos o bonde. As pessoas até querem ler, mas não querem pagar. Essa é a luta: quem paga R$ 30 e assina a Netflix ou outro streaming, por exemplo, pode olhar para projetos como a Marco Zero Conteúdo, daí de Pernambuco, Nexo, Agência Pública e Headline para ler algo de qualidade e se esforçar para apoiar. Isso vai fazer a roda girar”, crê.
Tais veículos citados pelo jornalista e pesquisador fazem parte da Associação de Jornalismo Digital (Ajor), uma organização da sociedade civil que representa “um ecossistema em constante ampliação, diversificação e impacto no país”, como se define. Estão, junto à Rádio Novelo, revista piauí, Nós, Mulheres da Periferia, agência Diadorim, Aos Fatos, AzMina, a revista pernambucana O Grito!, Paraíba Feminina, Voz das Comunidades, InfoAmazonia, Alma Preta e a tantas outras irmanadas no intuito de estimular “o campo jornalístico, fortalecendo suas associadas e defendendo uma imprensa mais livre, diversa e plural”, a partir da atuação em três eixos: fomento ao empreendedorismo, defesa do jornalismo e da democracia e foco na diversidade.

Samira de Castro é diretora da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação
“Mesmo neste cenário de crise, o espaço da diversidade cresceu, assim como a busca por essa diversidade, pela transformação da memória social, por mais direitos LGBTQIAPN+ e pelos direitos dos povos indígenas e pela própria cultura dentro do jornalismo”, anota Rafael Gloria, do Nonada Jornalismo, veículo de jornalismo cultural em atividade em Porto Alegre desde 2010 e integrante da Ajor desde a gênese da associação, em 3 de maio de 2021, no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa.
“Se a nossa profissão já não é mais o que era, e se as rápidas mudanças tecnológicas influenciam muito, nosso papel é mudar o espírito, abrindo espaço para a diversidade e outras transformações importantes. A apuração, a busca pela objetividade, tudo isso tem que persistir, pois é o motivo de existirmos. Mas eu acredito no propósito de fazer um jornalismo aprofundado, mesmo com o pouco espaço dos jornais ou aquele jornalismo declaratório e caça-clique dos grandes portais. Aliás, apesar disso, indo além disso. E se isso tudo significa repensar o próprio jornalismo, então, vamos reinventar esse fazer jornalístico”, corrobora.
Em março de 2022, o Festival 3i de Jornalismo – Inspirador, Inovador e Independente colocou em foco as experiências da Nonada, da Revestrés, d’O Grito!, da revista Quatro Cinco Um e da Continente no debate virtual “Como o jornalismo cultural está se reinventando?”. Foi do 3i, criado em 2017, que nasceu a Ajor, hoje um enclave a catalogar mais de 100 membros – o que a consolida como alento e resposta a um dos mais inequívocos e sombrios fatores de dimensionamento de erosão do setor: o fechamento de veículos de comunicação e o subsequente desaparecimento de vagas no mercado de trabalho.
Em tempos de crise do jornalismo, a ausência de empregos não é exatamente novidade, como o próprio Rafael Gloria descobriu no mestrado em Comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul: “Pesquisei a imprensa alternativa na ditadura militar a partir da Coojornal, uma cooperativa de jornalistas que foi a primeira do Brasil e surgiu quando não se tinha trabalho e não havia emprego suficiente. Foi criada em 1975 e durou até 1982. Legal é que, como era uma cooperativa nascida durante a ditadura, tinha um viés mais alternativo, com um jornal, o Coojornal, que durou esses seis, sete anos. Os caras prestavam serviços para cooperativas de arroz, por exemplo, fazendo os boletins, e assim conseguiam pagar os jornalistas. Foi um veículo de imprensa alternativa que me inspirou muito, daí a Nonada já ter nascido com a ideia do coletivo, de fazer as coisas em conjunto para poder se manter e contratar pessoas, mas nunca emulando a grande mídia. Nesse ponto, como uma organização nativa digital, não quero crescer para virar uma empresa que vai reproduzir as mesmas coisas da grande mídia em crise”.
***
No Brasil, entre os anos 2018 e 2021, 17 empresas de médio a grande alcance nacional encerraram suas atividades, segundo o Atlas da Notícia, censo jornalístico concebido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor), cujos dados mais atualizados foram coligidos em fevereiro de 2022. Somente em 2021, foram cinco fechamentos importantes registrados – como a redação brasileira do El País. Já as revistas Rolling Stone Brasil, Casa Claudia, Elle e Boa Forma acabaram as suas publicações impressas, mas mantiveram seus sites. Publicada desde 1973 no Brasil, a Cosmopolitan findou no papel e no digital.
O fenômeno também se repete nos Estados Unidos, maior mercado do mundo. Do fim de 2019 até maio de 2022, mais de 360 jornais foram fechados em todo o país, de acordo com levantamento feito pela Escola Medill de Jornalismo, Mídia e Comunicação Integrada em Marketing, da Northwestern University de Illinois. Na maior parte dos locais onde os jornais encerraram suas atividades, não foi aberto um substituto, o que traz consequências: lugares sem um veículo de notícias registram menos participação eleitoral e aumento na corrupção. O relatório demonstra que houve, no país, um aumento de financiamentos que contribuíram para a criação de 64 sites. No entanto, a maior parte deles situa-se em áreas urbanas, onde já há mais fontes de recursos.
Com esses fechamentos, aumenta consequentemente o número de jornalistas desempregados. Os segmentos de Rádio e TV e de Jornais e Revistas são os dois maiores empregadores da área de jornalismo e abrangem, juntos, 37,1% dos vínculos empregatícios. Em terceiro lugar, vem a Administração Pública, com 18% – nesse setor, desde 2017, o contingente de trabalhadores supera o total do setor de Jornais e Revistas. O auge do nível de emprego no jornalismo, de uma forma geral, foi em 2013, com 60.899 vínculos. Em 2019, esse número caiu para 49.391 vínculos, coincidindo com o período da crise econômica e política no país, aponta o e-book O impacto das plataformas digitais no Jornalismo, produzido pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), em 2021.
Segundo o estudo, as quedas mais significativas no contingente de jornalistas empregados ocorreram na categoria Jornais e Revistas, a partir de 2015, ano em que se registrou diminuição de 19%; e, na virada de 2018 para 2019, quando o fechamento de postos de trabalho foi de 7%. Já no segmento de Rádio e TV foi observado, entre 2010 e 2019, o crescimento de 21,8% no número de empregos (média de 2,2% ao ano). No segmento de Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, em 2010, o número de vínculos era de apenas 302, chegando a 1.072 em 2019.
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a redução de vagas atingiu em cheio a presença nas redações dos jornalistas mais experientes, que têm salários mais altos (a faixa etária de 50 a 64 anos, 12,8% da categoria, tem remuneração média de R$ 10.801,80). Já as novas contratações privilegiam jornalistas mais jovens, que recebem próximo ao piso salarial, com médias de R$ 2 mil a R$ 4 mil. A faixa etária com maior presença no mercado, 38%, é a de 30 a 39 anos, com remuneração média de R$ 6.429,10.
A partir de 2001 e por duas décadas, foram concedidos 142.424 registros de jornalistas. O crescimento foi contínuo até 2011, quando chegou ao pico de 13.230. Depois, seguiu uma tendência até 2014, com registro médio anual de 7.500. “Em 2000, registravam-se apenas 500 jornalistas por ano; em cinco anos, chegou-se a 5.000; uma década depois, a 10.000. Portanto, verifica-se uma forte expansão no número de profissionais, em pouco tempo, seguida de declínio e estabilização”, detalha o Perfil do jornalista brasileiro 2021. “Contudo, uma parcela de jornalistas atua sem registro (25% na pesquisa de 2012) e a listagem dos registrados não é atualizada com a baixa daqueles que desistiram da profissão, se aposentaram ou faleceram”, aponta.
Essa pesquisa da UFSC apresenta as características do profissional hoje, no país, e traz algumas alterações com relação aos números da compilação anterior: “Uma das mudanças mais significativas foi o aumento na presença de pessoas negras entre jornalistas no Brasil: de 23%, em 2012, para 30%, em 2021; resultante, provavelmente, da combinação entre cotas nas universidades e ações por mais diversidade no mercado. Uma segunda mudança relevante é o incremento da participação de homens. O estudo constata que jornalistas no Brasil ainda são majoritariamente mulheres (58%), brancas (68%), solteiras (53%), com até 40 anos, um perfil que mudou pouco em relação ao levantamento de nove anos antes. Contudo, se a profissão continua majoritariamente feminina, a participação de mulheres se reduziu em seis pontos em comparação ao estudo anterior (64%): a presença masculina cresceu de 36% para 42%”. Ainda segundo o estudo, “outra característica da precarização crescente do mercado jornalístico brasileiro é a feminização. Elas são maioria nas redações, porém ocupam menos cargos de gestão, saem mais cedo da profissão e ganham menos”.
Tais percentuais acompanham o crescimento do número de cursos de Jornalismo ou de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo em instituições de ensino superior no Brasil. Antes de 1970, eram apenas 18 cursos, segundo dados do Ministério da Educação. Até 1981, 51 cursos; até 1990, 61; em 2000, já eram 137. Uma década depois, em 2010, havia 317 cursos no país; em 2020, o número subira para 327. Em março de 2023, existem 363 cursos, conforme as informações enviadas pelo MEC à Continente.

Ilustração: Yellow
A primeira escola de Jornalismo do país foi a Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, em São Paulo, fundada em 1947. E o primeiro curso do Norte e Nordeste foi o da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Criado em 1962, comemorou seis décadas com uma nova matriz curricular, a partir deste primeiro semestre de 2023 – a alteração anterior no currículo havia ocorrido no ano 2015.
Quem entrou em Jornalismo em 2023.1, portanto, está cursando disciplinas novas como Criatividades e Novas Narrativas e Linguagens Audiovisuais, enquanto uma nova especialização, Jornalismo Independente: Produção de Conteúdos e Gestão Financeira, começa sua primeira turma. “A graduação não dava conta, de forma aprofundada, da necessidade de entender de inovação, empreendedorismo e gestão de organizações jornalísticas. Queremos ensinar mais do que ser repórter ou editor, a também ser gestor para fundar iniciativas. É relativamente fácil criar um site, começar um podcast, criar um canal no YouTube e produzir o seu conteúdo de alguma maneira. É bem mais simples do ponto de vista técnico e tecnológico do que era 10 ou 20 anos atrás. Agora, manter essa organização e torná-la sustentável é o grande desafio”, observa Carol Monteiro, diretora da Escola de Comunicação da Unicap e uma das fundadoras da Marco Zero Conteúdo, na ativa desde 2015.
Dar ao empreendedorismo e à gestão o mesmo peso de disciplinas como “Linguagem e produção em mídias sonoras” (Carol conta que, na Unicap, as antigas cadeiras que versavam sobre técnicas e entrevistas para rádio foram substituídas e atualizadas, na nomenclatura e na ementa, por “mídias sonoras”, abarcando o extenso universo da podosfera) talvez seja uma transformação vital para um mercado em contínua e constante retração. As pesquisas recentes sinalizam que o encolhimento se notabilizou significativamente em uma década, quando a crise da indústria da informação jornalística no Brasil e no Ocidente intensificou-se.
Por exemplo, entre 2006 e 2017, o faturamento dos jornais norte-americanos com publicidade caiu de US$ 49 bilhões para US$ 16 bilhões. Com a criação das gigantes digitais (Google, YouTube, Facebook, Apple, Twitter etc.), mais de dois mil diários foram fechados nos Estados Unidos nos últimos 15 anos. O número de empregados em redações de jornais caiu de 74 mil, em 2006, para 39 mil, em 2017. Mas nota-se que, nas duas principais cadeias pertencentes a hedge funds, a GateHouse (hoje Gannett) e a Digital First, o ritmo das demissões em massa é bem maior. Nessas empresas, uma redação central prepara conteúdo em grande escala para centenas de veículos, como jornais, publicações comunitárias e sites.
No Brasil, onde os passaralhos (expressão cunhada para designar as ondas de cortes nas redações) são cada vez mais recorrentes, não apenas se demite como também não se paga. Em primeiro de março, o perfil do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco (Sinjope) noticiou, no Instagram, que prestadores do Diario de Pernambuco haviam cruzado os braços “por falta de pagamento de salário”. Alguns estavam “com oito meses de salário em aberto”: “No momento, a redação possui 11 celetistas e 32 prestadores de serviço, contratados como pessoas jurídicas, os chamados PJs, o que legalmente os impediria de trabalhar com horários fixos, integrar escalas de trabalho em domingos e feriados, o que não é o caso da empresa”.
O jornalista Jailson da Paz, presidente do Sinjope e, ele mesmo, um ex-funcionário da instituição caloteira, atenta para as dificuldades enfrentadas pelo sindicato. “O fim do imposto sindical, tirado pela reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer, como parte do desmantelamento da estrutura sindicalista do país; o sucateamento da estrutura de fiscalização do trabalho, que o governo Bolsonaro piorou; e a própria condição nossa, da classe, que nunca se identificou muito como uma categoria de classe trabalhadora, talvez por um certo receio de ser confundida com a ideologia classista; além da crise do próprio modelo de financiamento e de produção”, resume.
Se, por um lado, os jornalistas precisam “despertar para a consciência de classe”, enquanto tentam não submergir no mar da precarização (legalmente, por exemplo, o Sinjope não poderia representar os interesses de quem é contratado como PJ, mas o fará na negociação com o jornal devedor), por outro “o jornalismo continua sendo o jornalismo – essencial e necessário”, nas palavras de Jailson, e, por isso mesmo, é preciso reafirmar seu “compromisso social, político e até econômico” com qualquer noção de futuro que o Brasil queira construir.
Foi também com essas bandeiras que a diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), encabeçada pela presidenta Samira de Castro, esteve no Palácio do Planalto, no início de março, para entregar ao ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, o documento Oito pautas prioritárias das e dos jornalistas brasileiros. Três dias antes, em conversa por telefone com a Continente, Samira contava que, tão premente quanto a pauta entregue à Secom, era o retorno de um diálogo institucional com a presidência da República, a fim de cobrar o que precisa ser cobrado. “O debate sobre democratização das comunicações precisa ser atualizado. A primeira Conferência Nacional de Comunicação é de 2009. Nos últimos anos, entraram em campo as plataformas multinacionais ainda mais concentradas do que o nosso sistema de comunicação eletrônica. A gente falava dos coronéis da mídia, das famílias que detinham a radiodifusão, mas o cenário é pior”, sugere.
Ela esmiuçou as reivindicações endereçadas ao presidente Lula: “Estamos pedindo o atendimento a reivindicações históricas da categoria, como a aprovação da PEC do Diploma, que institui a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão; a atualização da nossa regulamentação profissional, que é de 1979; a institucionalização de um piso salarial nacional; a criação do Conselho Federal de Jornalistas; a regulação das comunicações e das plataformas digitais, pois sabemos que, no cenário atual, uma empresa como a Meta controla o Facebook e o WhatsApp, concentra ainda mais a difusão de informações e fatura trilhões, sendo uma arena de debate público enviesado, interditando temas centrais e afetando democracias; a aprovação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo, para que a União possa financiar iniciativas, principalmente, nos municípios onde não existe veículo algum; a recuperação da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e a ampliação do sistema público de comunicação, para descentralizar a produção e o escoamento; e a revogação das reformas Trabalhista e da Previdência, um pleito geral fundamental para todas as classes trabalhadoras do país”.
Para Samira, se temos “crises no plural”, precisamos de revides à altura. A fim de combater a ideia de “eixo/fora do eixo” e descentralizar produção e difusão do jornalismo, é mais do que válido instituir um tributo a ser pago pelas big techs (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), por meio de uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), nos mesmos moldes do que já existe no audiovisual (recursos provenientes da Condecine – Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional municiam, desde 2002, mecanismos como o Fundo Setorial do Audiovisual, em vigor desde 2006).
“Nunca precisamos tanto do jornalismo e do trabalho dos jornalistas. É uma forma de conhecimento imediata da realidade, que proporciona a constituição de cidadania e ajuda as pessoas a cobrarem seus direitos, ao fiscalizar as atividades públicas e privadas. E isso é cada vez mais necessário, nesse ambiente de desinformação. Nossa profissão tem técnica, mas tem um papel social e ético muito importante. Podem mudar as formas, podem mudar os arranjos produtivos, pode vir a crise que for, e talvez essa seja a mais turbulenta que já vivemos, mas não vai acabar a necessidade de distribuir a informação de interesse público e permitir que as pessoas tenham contato com essa informação trabalhada”, sintetiza a presidenta da Fenaj.
continue lendo na parte 2






