
A literatura do Brasil em análise
Leia um trecho de um ensaio de Adriano Espínola para o livro 'O cego e o trapezista', da Cepe Editora
TEXTO Adriano Espínola
01 de Julho de 2022
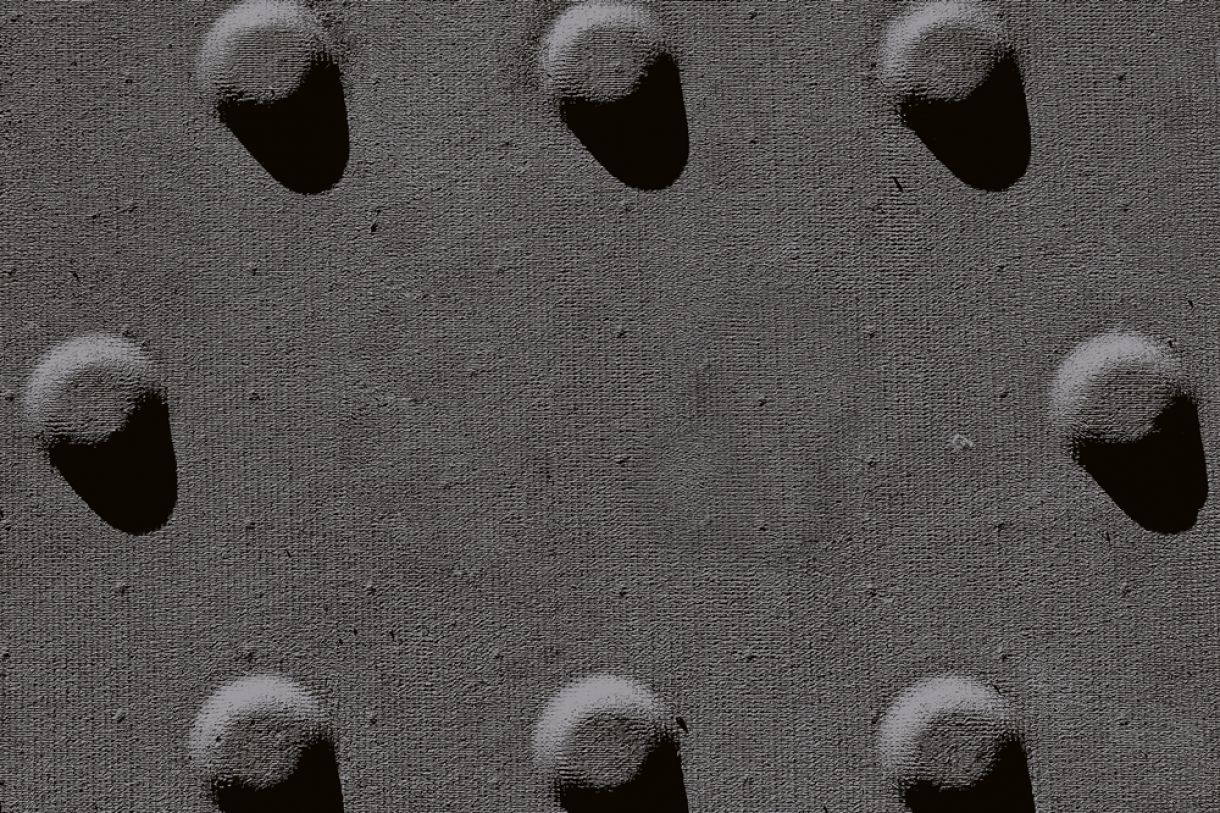
Imagem Divulgação
[conteúdo na íntegra | ed. 259 | julho de 2022]
Assine a Continente
CASA – GRANDE & PASÁRGADA
A Eduardo Portella, i.m.
Um, poeta; o outro, sociólogo. Ambos nordestinos, pernambucanos. De famílias tradicionais, mas profundamente renovadores. A poesia de um, com seu apurado senso do momento poético e da realidade humana, moderniza nossa sensibilidade, libera o verso, dá-lhe novas medidas e ritmos — sobretudo os inumeráveis —, aproximando-o da fala e da vida cotidianas.
A ciência do outro, vazada em linguagem altamente plástica, ressoando a batuques africanos e colorido tupiniquim, penetra na casa-grande da nossa formação, aconchega-se em uma rede indígena esticada na varanda, para ouvir as histórias da negra Rosa. Ilumina os recantos da casa e da senzala, escuta de repente o range-range das camas de vento dos coitos danados dos nossos avós, misturando no gozo o sangue preto e lusitano; mais adiante, em uma moita, o encobreado: um bando de meninos mulatos, cafuzos e mamelucos saltam dos quartos e matos para fazer a policromia de uma raça, de uma nova raça: luso-tropical.
Um amplia o horizonte da ciência poética; o outro mancha de poesia as ciências humanas. Ambos realizam um misto de arte e ciência, ciência e arte. Em ambos, este outro traço fundamental: o de serem marcadamente brasileiros. Sensualmente brasileiros. De buscarem expressar o nosso modo de ser, de amar, de ganhar a vida, de sonhar e sofrer: quer nos relacionamentos sociais, quer no recolhimento individual.
Falo de dois escritores: Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho (1886-1968) e Gilberto de Mello Freyre (1900-1987). Com eles aprendemos a ver, na mistura de temperamento e raça, de arte culta e popular, erudita e coloquial, o traço da nossa singularidade e esperança. Esperança de um Brasil melhor, cultural e socialmente mais rico e justo. Lírico e doce. Apesar dos conflitos sociais, pobreza, desvios e violência em todos os níveis, que ainda nos cercam e infelicitam.
Pretendo aqui aproximar a criação literária de um à análise sociológica do outro, para tentar extrair desse enlace talvez uma imagem do que somos: nossas heranças materiais e espirituais, nossos sentimentos e ideias, nossos gestos e rostos dirigidos para o mundo e para o outro. Imagem esta que, embora voltada para o passado, não deixa de apontar para o futuro, para uma “outra civilização”. A nossa. A nossa utopia possível. Casa-grande & Pasárgada.
Por uma questão metodológica, iniciarei sempre com um texto do poeta para, em seguida, confrontá-lo com as ideias do ensaísta. Buscarei, deste modo, partir da sugestão poética do autor de Libertina/gem (1930) e aproximá-la da exposição científica (sociológica, histórica, econômica...), ou do comentário paralelo sobre o mesmo assunto feito pelo autor de Casa-grande & senzala (1933).
EM BUSCA DA ARQUITETURA PERDIDA
Falar do autor de Casa-grande & senzala e do criador de “Vou-me embora pra Pasárgada” significa destacar desde logo o elemento espacial-arquitetônico com o qual os dois vão evocar o início do nosso percurso civilizacional. Porque será no tipo da edificação, na dignidade das grossas paredes, nas varandas das velhas casas coloniais, entre outros aspectos, que Freyre surpreenderá a primeira criação do colono em terras tropicais, já adaptado ao clima e às necessidades da família patriarcal açucareira. Por sua vez, Bandeira identificará nos casarões de Ouro Preto o alvorecer da nossa cultura. E, nos antigos solares e igrejas da Bahia, experimentará intenso sentimento de intimidade brasileira.
Com efeito, ao pisar pela primeira vez em Salvador, Bandeira (1990: 441), enfático, dirá: “Nunca vi cidade tão caracteristicamente brasileira como a boa terra. (...) como se ali fosse a grande sala de jantar do Brasil, recesso de intimidade familiar de solar antigo com jacarandás pesados e nobres”. Porque ali, afirma, “a gente se sente mais brasileiro”. Confessa que, nele, “mais forte do que nunca, estremeceram aquelas fundas raízes raciais que nos prendem ao passado extinto, ao presente mais remoto. Raízes em profundidade e em superfície”.
“O que nos surpreende nos arquitetos e construtores do período colonial” — acrescenta de forma mais objetiva — “é essa adaptação ao ambiente, às necessidades arquitetônicas, à natureza do material”. Fascinado pela autenticidade e funcionalidade dos sobradões antigos, o escritor aproveita para denunciar “a mania do neocolonial”. Como antídoto, o poeta aconselhará aos “nossos amadores de estilo” que deem um pulo na Bahia, a fim de “sentirem e apreenderem a razão, a força, a dignidade daqueles velhos solares ou dos altos sobradões dos bairros comerciais”. Para ver se deixam, por fim — não perdoa o poeta (op. cit.: 447) —, de fazerem “bonitinho, engraçadinho, enfeitadinho, quando o espírito das velhas casas brasileiras era bem o contrário disso, caracterizando-se antes pelo ar severo, recatado, verdadeiramente senhoril”.
Ainda a propósito de Ouro Preto, o bardo pernambucano conclamará, em 1952, seus amigos e inimigos a salvarem a cidade, em decorrência das fortes chuvas de verão, no poema “Minha gente, salvemos Ouro Preto”. Depois de referir-se aos “monumentos veneráveis” (Palácio dos Governadores, Casa dos Contos, Casa da Câmara, os templos, os chafarizes e os nobres sobrados da Rua Direita), que se encontram em perigo, mas, também, aos “casebres de taipa de sopapo”, Bandeira (op. cit.: 825) concluirá que o salvamento é importante porque:
Em Ouro Preto alvoreceu a nossa vontade de autonomia nos
sonhos
[frustrados dos inconfidentes.
Em Ouro Preto alvoreceu a nossa arte nas igrejas e esculturas do Aleijadinho.
Em Ouro Preto alvoreceu a nossa poesia nos versinhos do Desembargador.
Se o poeta lembra que naquela cidade brotou o sentimento de independência, além da nossa arte sacra, escultural e poética, Gilberto Freyre — também revisitando as construções coloniais, sobretudo a casa-grande, completada pela senzala, encravada no latifúndio açucareiro do Nordeste nos primeiros séculos —, buscará surpreender ali a própria configuração do sistema patriarcal da colonização portuguesa e os primórdios da nossa organização político-social, racial e cultural. A arquitetura da casa-grande torna-se, para ele, o protossímbolo da sociedade brasileira.
Com efeito, a observação detalhada do traçado da casa-grande possibilitou a Freyre (1966: xxxi) destacar uma série de características que, girando em torno do microcosmo familiar, rodeado de índios domesticados e negros escravizados, explicaria a eclosão de uma civilização estável e singular. Tal singularidade residiria na concepção mesma da edificação, diferente das habitações lusitanas da época:
A casa-grande de engenho que o colonizador começou, ainda no século XVI, a levantar no Brasil — grossas paredes de taipa ou de pedra e cal, coberta de palha ou de telha-vã, alpendre na frente e dos lados, telhados caídos num máximo de proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais — não foi nenhuma reprodução das casas portuguesas, mas uma expressão nova correspondendo ao nosso ambiente físico (...).
A partir desse momento, o português torna-se luso-brasileiro: ao criar um novo tipo de habitação, estabelece os fundamentos de uma nova ordem econômica e social. De fato, a casa-grande, associada à senzala,
representa todo um sistema econômico, social, político: de produção (a monocultura latifundiária); de trabalho (a escravidão); de transporte (o carro de boi, o banguê, a rede, o cavalo); de religião (o catolicismo de família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o “tigre”, a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés); de política (o compadrismo). (Freyre, op. cit.: xxxi).
Com tal base material, comportamental, religiosa e de mando, espraiando-se pela edificação, os senhores de engenho — afirma Freyre (op. cit.: xxxv) — acabaram por dobrar o adversário mais ferrenho: o jesuíta. Tornaram-se virtualmente os senhores feudais da colônia tropical. Donos de tudo: dos homens, das mulheres, das terras. Conclui, afirmando que em torno deles “criou-se o tipo de civilização mais estável na América hispânica; e esse tipo de civilização ilustra a arquitetura gorda, horizontal, das casas-grandes” (op. cit.: xl).
O sociólogo junta, assim, a estabilidade do poder feudal-tropical — baseada no açúcar de engenho e no negro escravizado— ao traçado físico e histórico das casas-grandes, para ressaltar o papel de ambos na formação da própria identidade do homem e da sociedade brasileiros:
A história social da casa-grande é a história íntima de quase todo brasileiro: de sua vida doméstica, conjugal, sob o patriarcalismo escravocrata e polígamo; da sua vida de menino, do seu cristianismo reduzido à religião de família e influenciado pelas crendices da senzala (...). Nas casas-grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro; a nossa continuidade social. (Op. cit.: xliii).
Há sem dúvida uma confluência de ideias e até mesmo de sentimentos entre os dois pernambucanos, em relação às edificações antigas. Podemos até afirmar que aquilo que Bandeira sente, como poeta e cronista, Freyre pensa, explica (embora não deixe também de sentir, pois nosso passado “se estuda tocando em nervos”, segundo ele), como sociólogo e antropólogo social.
Assim, compreendem-se os sentimentos de “intimidade familiar” do poeta logo ao chegar à Cidade Baixa, em Salvador. Tal intimidade, diante daqueles sobradões coloniais, endossa a assertiva de Freyre, segundo a qual a história social da casa-grande é a história íntima de quase todo brasileiro. Por isso, “ali a gente se sente mais brasileiro”, diz o poeta, para logo confessar que lhe “estremeceram aquelas fundas raízes raciais”. Saudades da senzala, decerto de alguma Nega Fulô, diria Jorge de Lima.
Bandeira ao falar das raízes raciais talvez inconscientemente as confunda com as sociais. Está certo, porém: a mistura em torno da casa-grande ou dos sobradões antigos não se fez somente no plano das relações sociofamiliares, mas igualmente das relações sexuais entre os senhores, os nhonhôs, e as negrinhas e caboclas servidoras ou escravas. Daí o estremecimento saudoso do poeta…
Se Bandeira também acerta ao observar a adaptação ao ambiente da construção colonial, Freyre (op. cit.: xxxi) afirma que ela corresponde “a uma fase surpreendente, inesperada, do imperialismo português: sua atividade agrária e sedentária nos trópicos; seu patriarcalismo rural e escravocrata”. Assim, para além dos aspectos puramente materiais ou ecológicos da construção, compreendemos que o traçado da casa-grande corresponde igualmente às atividades econômicas baseadas na exploração da terra e no trabalho escravo, além do poder político e familiar do pater.
Por último, vale lembrar que um dos aspectos das casas antigas que mais parece impressionar o poeta (op. cit.: 447) residiria na “lição de força” e “no ar severo, recatado, verdadeiramente senhoril”. Freyre (op. cit.: xxxv) explica-nos a razão. Vencido o jesuíta no domínio da colônia, “a força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. (...). Suas casas representam esse imenso poderio feudal. Feias e fortes. Paredes grossas. Alicerces profundos. Óleo de baleia”. A intuição e sensibilidade do poeta acertam, mais uma vez, ao captar a força e severidade das velhas edificações, o que corresponderia, no plano da história, ao poder exacerbado do senhor de engenho.
Bandeira ainda nos fala do “caráter” e da “tranquila dignidade” da construção colonial. Caráter, certamente por ela ser, segundo Freyre (op. cit.: xl), “honesta e autêntica. Brasileirinha da silva”. Quanto à dignidade, esta corresponderia, sem dúvida, à autoridade moral e respeitabilidade infundidas pelo patriarca tropical, que as emprestaria às severas e gordas paredes da casa-grande ou do sobrado mineiro. Se, em síntese, o estilo arquitetônico do passado é visto pelo poeta como uma questão basicamente artística, em Freyre encontramos a projeção desse estilo no plano da história e da sociedade. Há uma complementação, portanto: na arquitetura (como de resto nas outras artes), a dinâmica estética costuma transparecer a dinâmica social.
A DANÇA MESTIÇA DA RAÇA
Além dos aspectos arquitetônicos, outro fator importantíssimo na formação da brasilidade encontra-se no próprio sangue do povo: a miscigenação racial.Gilberto Freyre dedica praticamente toda a sua obra ao tema. Complexo, por definição. Entretanto, tornado claro — pelo estilo, documentação e exposição — ao levantar as contribuições culturais do português colonizador, do negro escravizado e do indígena domesticado, bem como o legado comportamental, espiritual e sentimental dessa gente, que soube interagir, se fundir, para criar nos trópicos uma como que nova raça. Brasileira. Misturada. Se não na pele, na alma.
Evidentemente não posso, neste ensaio, dar conta de matéria tão fascinante quanto intricada. Procurarei tocar nos pontos básicos do tema da mestiçagem nos poemas de Bandeira e no ensaio de Freyre. Sem pretender, é claro, esgotar o assunto.
O tema aparece pela primeira vez na obra do pernambucano no poema “Não sei dançar”, que inicia o livro Libertinagem (1930). O poeta, depois de listar uma série de perdas (do pai, da mãe, dos irmãos e da saúde), assiste a um baile carnavalesco de terça-feira gorda, sentindo paradoxalmente o ritmo do jazz-band “como ninguém”. Ali, no salão, descobre de repente uma
Mistura muito excelente de chás...
Esta foi açafata...
— Não, foi arrumadeira.
E está dançando com o ex-prefeito municipal:
Tão Brasil!
De fato este salão de sangues misturados parece o Brasil...
Há até a fração incipiente amarela
Na figura de um japonês.
O japonês também dança maxixe:
Acugêlê banzai!
A filha do usineiro de Campos
Olha com repugnância
Para a crioula imoral.
No entanto o que faz a indecência da outra
É dengue nos olhos maravilhosos da moça.
E aquele cair nos ombros...
Mas ela não sabe...
Tão Brasil! (Op. cit.: 203)
O poema, prenunciando as análises de Freyre, estabelecerá com sua obra vários pontos de contato. Destaquemos, na ordem em que aparecem, os seguintes: a) a mistura de classes sociais; b) a mistura de sangue; c) a “imoralidade”; e d) a rivalidade sexual.
Há que se falar também no espírito da festa, festa de Carnaval, onde tudo é possível, inclusive a embriaguez desenfreada (“Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria!”). E a festa, desde os tempos mais antigos, presta-se exatamente a ser um tempo de celebração de utopias, de fantasias e liberdades; tempo no qual se afrouxam os costumes, as diferenças de classe, os códigos coercitivos, para dar lugar à imaginação, à alegria e aos jogos de sedução entre diversos grupos e indivíduos, circulando de alto a baixo na sociedade, embalados pela música e pelo ritmo dos instrumentos.
Entretanto, Manuel Bandeira parece querer nos falar não somente de uma festa qualquer, mas de uma festa brasileira. Especificamente brasileira. A mistura, por exemplo, entre nós, seria maior — social, tanto quanto racial.
Examinemos o primeiro tópico. No poema, Bandeira refere-se a dois tipos de trabalhadoras: a açafata e a arrumadeira; quanto ao homem, ele é “o ex-prefeito municipal”. Todos são vistos em sua condição pretérita. Em relação à mulher, não se sabe se foi açafata ou arrumadeira. Sugere assim épocas e estruturas sociais diversas: no século XIX, ligada à corte imperial (açafata); no século passado, ao ambiente doméstico burguês ou pequeno burguês (empregada). Nos dois casos, encontra-se em situação de subserviência.
Não importa, porém, o que ela foi: está dançando agora com o ex-prefeito, uma figura representativa do poder local. Os dois juntos compartilham o mesmo ritmo, operam em um mesmo tempo — social e musical. Formam um par. Pelo menos enquanto durar a música. Sugere o poeta que no país essa situação — a aproximação rítmica de sujeitos situados nos extremos da hierarquia social — não só é possível, mas natural: “Tão Brasil!”.
Freyre explica-nos porque ocorre frequentemente, até hoje, entre nós, essa aproximação entre elementos do sexo oposto pertencentes a estratos sociais distintos. Depois de vencido militar e tecnicamente o indígena e conseguido o domínio quase absoluto sobre o negro escravizado, o colonizador europeu e seus descendentes verificaram que não havia mulheres brancas disponíveis na colônia — tiveram que se valer de índias e negras. “A miscigenação que largamente se praticou aqui” — observa o sociólogo —
corrigiu a distância social que doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala (...). A índia e a negra-mina a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de democratização social no Brasil. (Op. cit.: xxviii)
Entendemos, assim, porque o ex-prefeito se deu tão bem com a arrumadeira, decerto mestiça, no “salão de sangues misturados”. Até o incipiente amarelo japonês entra na dança do maxixe e da miscigenação cultural. Não por acaso o maxixe, criação nacional do século XIX, resultou também de uma mistura: da habanera, da polca e do ritmo sincopado africano, para ser o antecessor do brasileiríssimo samba do século XX.
Se as misturas social e racial expressas no poema como reflexo da própria realidade histórica e etnográfica do país ganham sentido harmônico de confraternização e amorosidade, a reação da filha do usineiro de Campos — uma sinhazinha moderna, sucedânea da senhora de engenho —, traduz sentimento oposto, típico da sua classe em relação à negra sensual: sentimento na verdade de despeito, de raiva, oriundo da rivalidade sexual, mal disfarçada em “repugnância”, ao acreditar que a outra é “imoral”, eroticamente depravada.
Qual o quê. Até recentemente acreditava-se que a crioula possuiria furor uterino irresistível, responsável pela corrupção da moral e bons costumes da macharada esbranquiçada. Nina Rodrigues, por exemplo, considerava “a mulata um tipo anormal de superexcitada sexual” e até José Veríssimo achava que a mestiça brasileira era “dissolvente de nossa virilidade física e moral” (apud Freyre, op. cit.: 403). O sociólogo tentará mostrar, porém, que parte do erotismo da nossa crioula decorreria do fato de que muito cedo foi ela assediada pelo senhor e o filho ioiô; este, por sinal, tinha precocemente a primeira sensação de homem entre os braços e as pernas das jovens negras.
Não se pode negar a preferência, desde os tempos coloniais, do homem (branco) brasileiro pela crioula, mestiça ou mulata. Talvez até mesmo antes do nosso processo de formação social. O português já tinha adquirido o gosto pela mulher morena através do longo contato com os mouros na Península ou com outras raças de cor vizinhas ao território lusitano. E dos maometanos trouxe a idealização da mulher na figura da “moura-encantada”: delícia de moça morena de olhos pretos, sempre de encarnado, banhando-se à beira dos rios e fontes ou penteando os cabelos (cf. Freyre, op. cit.: 11).
Aqui chegando, depararam logo os portugueses com as índias, que também gostavam de banhos e “por qualquer bugiganga ou caco de espelho estavam se entregando, de pernas abertas, aos caraíbas gulosos de mulher”. Talvez haja exagero algo bucólico nessa afirmativa de Freyre. Seria, entretanto, com a vinda das africanas, multiplicando-se depois em mestiças, que se teria materializado, nos trópicos, a “moura-encantada” — passando a ser a morena encantadora.
Para o escritor pernambucano, “a mulher morena tem sido a preferida dos portugueses para o amor, pelo menos para o amor físico” (op. cit.: 11-12). Com relação ao Brasil, lembra ele o ditado: “Branca para casar, mulata para foder, negra para trabalhar”. Ditado em que se sente, ao lado do convencionalismo social da superioridade da mulher branca e da inferioridade da mulher negra a preferência sexual pela mulata. Aliás, o nosso lirismo amoroso, na poesia e no cancioneiro popular, não revela outra coisa senão a glorificação da mulata, da cabocla, da morena celebrada pela beleza dos olhos, pela alvura dos dentes, pelos dengues, quindins e embelegos, muito mais do que “as virgens pálidas” e “as louras donzelas”.
Deste modo, compreendemos bem o sentimento de despeito, travestido de repugnância, da filha — com certeza virgem e pálida — do usineiro de Campos em relação à crioula “imoral” do poema: vai perder a parada. Não tem jeito. Quem há de resistir ao “dengue nos olhos maravilhosos” da mulata, com “aquele cair de ombros...”?
A ESPIRITUALIZAÇÃO DA COR
Se no texto de Manuel Bandeira buscamos ressaltar, com Gilberto Freyre, a miscigenação racial como amaciador das relações sociais e, de modo especial, a sensualidade da mulher negra e da mestiça brasileira, com a possível materialização, entre nós, do mito da “moura-encantada”, o bardo pernambucano parece, entretanto, apontar, em dois poemas, para certa espiritualização e valorização do elemento moreno e negro. São eles: “O anjo da guarda” e “Irene no céu”, pertencentes, ainda, ao livro Libertinagem. O primeiro diz:
Quando minha irmã morreu
(Devia ter sido assim)
Um anjo moreno, violento e bom,
— brasileiro
Veio ficar ao pé de mim.
O meu anjo da guarda sorriu
E voltou para junto do Senhor. (Op. cit.: 204)
O texto é de base autobiográfica: a irmã do poeta, Maria Cândida, morre em 1918. Cuidara dele, acometido de tuberculose, desde 1904. Foi sua enfermeira. Daí a imagem de anjo protetor. Mesmo morta, Bandeira sente que continua sendo amparado por ela, pois o anjo da guarda da irmã, sendo “moreno, violento e bom, — brasileiro”, como que assume o lugar do anjo da guarda do próprio poeta, o qual, sorrindo, aquiesce e retorna ao Senhor.
O que queremos ressaltar aqui é a maneira como o escritor qualifica o anjo da guarda da irmã. Embora entidade espiritual, o primeiro adjetivo que lhe cai é o de ser “moreno”. Depois, o poeta adiciona-lhe mais dois, antagônicos: “violento e bom”, estabelecendo contradição aparentemente insolúvel. Para sair do impasse, resta-lhe afirmar: “brasileiro”. Esse anjo passa então a ter existência plausível. Espiritualmente concreta. Como um brasileiro típico: moreno, violento e bom.
Se a formação da sociedade nacional tem sido um processo de antagonismos, como afirma Gilberto Freyre (cf. op. cit.: 58), sendo o mais geral e o mais profundo deles o proveniente da condição de senhor e escravo, podemos imaginar que o anjo da guarda do autor resultaria, também, em um ser equilibradamente antagônico: por um lado, de face senhoril, autoritária, “violenta”; por outro, de face escrava, dedicada, “boa”. Trata-se, assim, de um anjo legitimamente “brasileiro”. De pele morena. Como a irmã. Agora, fazendo parte inseparável da alma do poeta.
Já o segundo poema, “Irene no céu”, Bandeira espiritualiza a negra Irene, ao narrar a sua chegada ao condomínio dirigido por São Pedro:
Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor.
Imagino Irene entrando no céu:
— Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
— Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. (Op. cit.: 220)
Feito o anjo da guarda da irmã, que era moreno, o primeiro atributo que o poeta ressalta em Irene é o de ser “preta”; depois, o de ser “boa”; por último, o de se encontrar “sempre de bom humor”. Não há, desta vez, contradição, mas uma combinação de termos positivos ligados à condição de ex-escrava doméstica. Percebe-se até que o autor evita a palavra “negra”, de possível conotação erótica. Trata-se, agora, de uma preta velha alçada da senzala à casa-grande. Morta, seria alçada ao céu pelo poeta.
Irene representa bem aquele tipo de escrava seleta e prestativa, descrito por Freyre. Observa o sociólogo que a relação dos senhores com as escravas domésticas não teria sido pautada apenas pela exploração violenta do braço ou do ventre: foi balanceada também pela doçura, talvez maior no Brasil do que em qualquer outra parte da América. A escrava doméstica adquiria um lugar de honra no seio da família patriarcal; era respeitada; os meninos tomavam-lhe a bênção; os escravos tratavam-na de senhora; a ela se faziam todas as vontades. Era a mãe-preta. Escolhida entre as mais limpas, mais fortes e “ladinas” — isto é, abrasileiradas e cristianizadas — para “dar de mamar a nhonhô, para niná-lo, preparar-lhe a comida e o banho morno, cuidar-lhe da roupa, contar-lhe histórias, às vezes para substituir-lhe a própria mãe” (op. cit.: 377). Daí porque a ligação afetiva entre os dois tornava-se não raro profunda.
A intimidade respeitosa que Irene se dirige a São Pedro (“— Licença, meu branco”), ao chegar ao céu, revela, no poema, a extrema devoção a um só tempo social e religiosa. Ela encarnaria um tipo de “cristianismo doméstico, lírico e festivo, de santos compadres, de santas comadres dos homens, de Nossas Senhoras madrinhas dos meninos”, criando “nos negros as primeiras ligações espirituais, morais e estéticas com a família e com a cultura brasileira”, conclui Freyre (idem, ibidem).
Diante da vida levada pela mãe-preta, a resposta de São Pedro — sintetizada pelo poeta — não poderia ser outra: “— Entra, Irene. Você não precisa pedir licença”.
É certo que Bandeira aqui reduplica involuntariamente a visão ideológica do estrato social dominante em relação à preta domesticada, marcada pela escravidão: haveria ela de ser doce e submissa, dedicada e amorosa. Tanto na terra, junto à família do poeta, quanto no céu, ao lado de São Pedro.
Contudo, essa reduplicação ideológica de fundo não compromete de modo algum no poema o resultado estético oriundo do contraste entre a vida terrena de Irene, como mãe-preta e ex-escrava, e o seu ingresso agora sem restrições no céu. O poeta parece com isso nos sugerir que no paraíso cristão as diferenças sociais e de cor inexistem: só contaria mesmo, para nele ingressar, a dimensão espiritual, amorosa e devota de cada um.
A DOMESTICAÇÃO INDÍGENA
Em Libertinagem, há um poema, intitulado “Cunhantã”, que nos fala da presença do índio, ou melhor, de uma indiazinha:
Vinha do Pará
Chamava Siquê
Quatro anos. Escurinha. O riso gutural da raça.
Piá branca nenhuma corria mais do que ela.
Tinha uma cicatriz no meio da testa:
— Que foi isto, Siquê?
Com voz de detrás da garganta, a boquinha tuíra:
— Minha mãe (a madrasta) estava costurando
Disse vai ver se tem fogo
Eu soprei eu soprei eu soprei não vi fogo
Aí ela se levantou e esfregou com a minha cabeça na brasa
Riu, riu, riu
Uêrêquitáua
O ventilador era a coisa que roda.
Quando se machucava, dizia: Ai Zisus! (Op. cit.: 216)
O texto de Bandeira está repleto de simpatia pelo personagem; talvez mais que simpatia: ternura, compaixão. Não obstante, parece denunciar sutilmente a extrema violência que representou o processo de aculturação e cristianização da gente indígena — o servilismo forçado a que se viu submetida.
Desde Pero Vaz de Caminha sabe-se que “a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior” (Caminha, 1982: 23). Como lembra Gilberto Freyre (op., cit.: 100), “a colonização vem surpreender nesta parte da América quase que bandos de crianças grandes”. Bandeira, ao descrever, no poema, uma cunhantã (índia jovem, pequena), parece reforçar a dose da sua inocência. A primeira estrofe funciona como apresentação: ali está a origem da indiazinha (“vinha do Pará”), o nome, a idade, a cor da pele (“escurinha”), um traço da raça (“o riso gutural”) e um atributo de destreza física (“Piá branca nenhuma corria mais do que ela”).
O primeiro verso da segunda estrofe quebra, entretanto, a formosura do retrato da cunhantã: “Tinha uma cicatriz no meio da testa”. Espantado, o poeta indagaria (supõe-se) à própria Siquê o que lhe teria acontecido. A resposta da indiazinha surge-nos com um misto de inocência e crueldade, ao relatar o que a sua mãe (madrasta) lhe fizera: “esfregou com minha cabeça na brasa”. Diz isso rindo muito, o que nos surpreende. No verso final, ao transcrever a interjeição da indiazinha ao se machucar (“Ai Zizus!”), o poeta nos faz lembrar — não sem certa graça irônica, trazida pela corruptela da expressão — o processo de cristianização da sua (dela) raça.
Além da catequese cristã do ameríndio, vale lembrar no poema o processo de domesticação do selvagem: Siquê está ali para servir à madrasta (“vai ver se tem fogo”). Outra coisa: ao falar da criança indígena — cunhantã —, o escritor relembra o fato de que o empenho catequético dos jesuítas se voltou notadamente para os “culumins” e as “piás”, isto é, para os meninos e meninas.
Tanto a catequese quanto a domesticação do aborígene se valeram de um recurso comum para dobrá-lo: a violência. O castigo. A mutilação. Algumas vezes até a eliminação sob tortura. Gilberto Freyre (op. cit.: 169), ao se referir à guerra de repressão ou de castigo conduzida pelos colonos contra os índios, lembra que os primeiros exibiam seu triunfo, “mandando amarrá-los à boca de peças de artilharia que, disparando, semeavam a grandes distâncias os membros separados; ou infligindo-lhes suplícios adaptados dos clássicos às condições agrestes da América”. A maldade, portanto, que a madrasta aplica à pobre Siquê inscreve-se em uma longa cadeia, que se inicia junto com o próprio processo de colonização.
Sabe-se que os culumins por mais que fizessem, não chegavam a ser punidos pelas danações. Fato, aliás, que se observa até hoje, entre as tribos remanescentes. Gabriel Soares (apud Freyre, op. cit.: 8-9) afirma que “não dão os tupinambás a seus filhos nenhum castigo nem os doutrinam, nem os repreendem por coisa que façam”. A prática punitiva seria inaugurada, entretanto, com a chegada dos santos padres jesuítas. Justamente um dos mais devotos à causa missionária — o padre Manuel da Nóbrega (1982: 103) — dirá, conselheiro e sábio, que “para este gênero de gente não há melhor pregação do que espada e vara de ferro”.
Já falamos que a cristianização dos indígenas voltou-se particularmente para a criança. Segundo Freyre (op. cit.: 161),
o padre ia arrancá-lo verde à vida selvagem: com dentes apenas de leite para morder a mão intrusa do civilizador; ainda indefinido na moral e vago nas tendências. Foi, pode-se dizer, o eixo da atividade missionária: dele o jesuíta fez o homem artificial que quis.
E assim o fez, impondo-lhe disciplina, modos e vestuário (camisolões brancos de dormir). Procurando afastá-lo das crenças, valores e hábitos da sua gente. Querendo vê-lo prostrado aos pés da Virgem, temeroso a Deus e domesticado para Jesus. Tomando a bênção aos padres. Entoando ladainhas nas procissões, cantando rezas e gritando vivas a Jesus Cristo. Nas cerimônias, brincadeiras e aflições.
A indiazinha Siquê, ao exclamar “Ai Zizus!”, no poema de Bandeira, nos faz rememorar todo esse processo de cristianização a que seus irmãozinhos, desde a época da colonização, foram submetidos. A cicatriz que exibe na testa parece simbolizar — no plano físico e cultural — a violência, a mutilação que sua gente sofreu e — ao que consta, infelizmente —, continua sofrendo.
VOVÔ DE PELE BRANCA E TRIGUEIRA
Ao se referir à presença do indígena na nossa formação étnica e cultural, Manuel Bandeira se detém, como vimos, na figura “escurinha” da cunhantã de 4 anos. E à do negro, na figura da preta Irene. Em contraste, ao falar agora do elemento europeu, volta-se para um velho: o velho colonizador, de “pele branca e trigueira”, no poema “Portugal, meu avozinho”:
Como foi que temperaste,
Portugal, meu avozinho,
Esse gosto misturado
De saudade e de carinho?
Esse gosto misturado
De pele branca e trigueira,
— Gosto de África e de Europa,
Que é o da gente brasileira.
Gosto de samba e de fado,
Portugal, meu avozinho,
Ai, Portugal, que ensinaste
Ao Brasil o teu carinho!
Tu de um lado, e do outro lado
Nós... No meio o mar profundo...
Mas, por mais fundo que seja,
Somos os dois um só mundo.
Grande mundo de ternura,
Feito de três continentes...
Ai, mundo de Portugal,
Gente mãe de tantas gentes!
Ai, Portugal, de Camões,
Do bom trigo e do bom vinho,
Que nos deste, ai avozinho,
Este gosto misturado,
Que é saudade e que é carinho! (Op. cit.: 419)
O poema parece de início uma letra de fado, cheio de sentimentos ternos, de ais pungentes, perpassado de funda saudade. Atente-se, igualmente, para a sua forma, constituído de quadras (com exceção da quintilha final) compostas de versos heptassilábicos, com rimas alternadas e emparelhadas (vinho/avozinho). O poema como que pede acompanhamento musical, com seu “gosto de samba e fado”, isto é, com o ritmo das duas culturas entrelaçadas, a brasileira e a portuguesa.
O título do poema resulta da apropriação de um livro homônimo de David Nasser, publicado em 1965 (saído, porém, no ano anterior, sob a forma de crônicas semanais, na revista O Cruzeiro), no qual o jornalista — filho de emigrantes libaneses — narra suas viagens pelas terras de Portugal, encontrando por lá raízes moçárabes.
Manuel Bandeira busca reproduzir esse mesmo sentimento evocativo. Feito menino curioso, na primeira estrofe, indaga logo ao “avozinho” como este conseguira “temperar” o gosto português, misturado de saudade e carinho. A resposta encontrar-se-ia na própria formação do povo lusitano.
A saudade — sentimento de origem ibérica — teria surgido em decorrência da intensa capacidade de deslocamento do povo português, das viagens constantes que empreendeu, a partir sobretudo do Renascimento: povoou a África, a América, a Ásia. Portugal foi uma pátria de viajantes (hoje, de emigrantes). A partida continuada de homens gerou decerto nos familiares o desejo de tê-los por perto, de reviver momentos passados, brotando daí a saudade. Ainda se verifica, em certas aldeias do norte de Portugal, mulheres que se vestem de negro e vão à praia chorar pelos maridos, noivos, namorados ou filhos, que se lançaram em viagens d’além-mar. Esse fato talvez tenha encontrado expressão mais completa nos famosos versos de Fernando Pessoa: “Ó mar salgado, quanto do teu sal/ São lágrimas de Portugal!”
A saudade, portanto, já faz parte do caráter do homem português; caráter, por sinal, feito de contrastes, indo de um extremo a outro, qual “rio que vai correndo muito calmo e de repente se precipita em quedas de água”, na comparação de Aubrey Bell, citado por Freyre (op. cit.: 8-9). Este afirma, ainda, que se trata de um “caráter todo de arrojos súbitos que entre um ímpeto e outro se compraz em certa indolência voluptuosa muito oriental, na saudade, no fado, no lausperene”.
Contrapondo-se ao carinho e à ternura, Bell nos fala dos ímpetos de arrogância e crueldade dos portugueses. Os primeiros decorrentes talvez da influência moura, fazendo com que tivessem “doçura no tratamento dos escravos que, na verdade, foram entre os brasileiros, tanto quanto entre os mouros, mais gente de casa do que besta de trabalho”, diz Freyre (op. cit.: 242). Mas não deixaram os colonizadores de demonstrar também arrogância e crueldade, em muitas ocasiões, no trato desses mesmos escravos. [...]![]()
ADRIANO ESPÍNOLA é autor de livros de poesia, contos, crítica e ensaios literários. Professor de literatura, ensinou na Universidade Federal do Ceará, na Université Stendhal Grenoble III e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicou, entre outros, Escritos ao Sol (2015), As artes de enganar (Topbooks, 2000) e Os melhores poemas de Sousândrade (Global, 2008).






