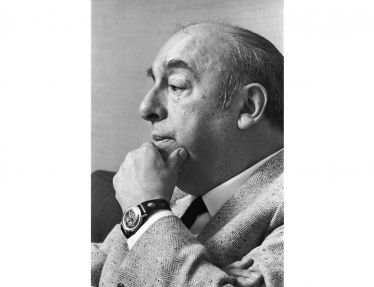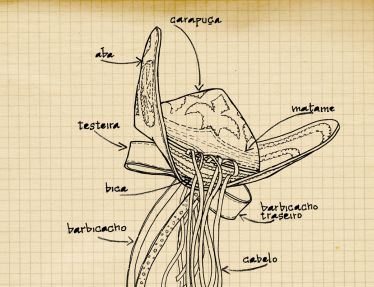
“Brumadinho é um desastre ainda em curso”
Daniela Arbex fala sobre seu novo livro-reportagem, processos de apuração e salienta a importância de registros jornalísticos para preservação da memória e mudança de atitudes políticas no país
TEXTO Erika Muniz
02 de Maio de 2022

A jornalista e escritora mineira Daniela Arbex
FOTO Carmelita Lavorato/ Divulgação
[conteúdo na íntegra | ed. 257 | maio de 2022]
Dentre as capacidades transformadoras que o jornalismo apreende, as de contribuir na construção da memória coletiva e individual e na ampliação da pluralidade de narrativas, modificando as realidades nas quais estamos inseridos, possivelmente, são algumas das funções sociais desse campo que mais se fazem urgentes nos últimos tempos. Se coberturas e grandes reportagens foram – e continuam sendo – decisivas na denúncia de crimes contra os direitos humanos e nas reivindicações de políticas públicas destinadas à qualidade de vida dos que habitam este planeta, trabalhos jornalísticos com profundidade têm cada vez mais sido relevantes para o fortalecimento democrático.
Embora a profissão venha acumulando desafios, sobretudo nas últimas décadas, a exemplo do recrudescimento da violência direcionada a repórteres, da fragilização do debate democrático e da dificuldade no acesso a dados por conta da pandemia – fatores apontados no especial O jornalismo no Brasil 2022, divulgado em dezembro de 2021, realizado em uma parceria entre a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e o Farol Jornalismo –, vários são os profissionais que vêm produzindo trabalhos consistentes com impactos positivos em níveis nacional e internacional, dando visibilidade a histórias por trás dos números oficiais. Um desses trabalhos é Arrastados: os bastidores da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil (2022), da jornalista e escritora mineira Daniela Arbex. Publicado recentemente, o livro é daqueles documentos históricos que nos convidam a pensar sobre o lugar da vida humana em uma sociedade capitalista e a refletir sobre quais os impactos que uma tragédia dessa dimensão traz ao meio ambiente. Em Arrastados, a escritora nos permite conhecer mais sobre a vida de algumas das vítimas desse superlativo desastre que, no dia 25 de janeiro de 2019, atingiu lares, famílias e ecossistemas na cidade mineira.
Uma das jornalistas mais premiadas do país, Daniela Arbex tem cinco livros publicados, entre eles, Os dois mundos de Isabel (2020), no qual envereda pelo gênero biografia, ao contar a trajetória de Isabel Salomão de Campos, mineira que lutou contra o machismo, o preconceito religioso e desenvolveu trabalhos sociais, e Holocausto brasileiro (2013), que narra a barbárie vivenciada por milhares de pessoas no Hospital Colônia, localizado na cidade de Barbacena, onde mais de 60 mil mortes foram contabilizadas. Através de uma pesquisa detalhada, a jornalista mineira traz relatos dos encontros com sobreviventes desse genocídio e evidencia a omissão do Estado brasileiro e de vários civis diante desse triste acontecimento da história do país.
Em uma conversa por vídeo, Daniela Arbex falou com a Continente sobre seu mais novo livro, dando detalhes de como foi sua chegada e o processo de apuração em Brumadinho, comenta também outras de suas obras, como o Holocausto brasileiro – que já tem mais de 150 mil exemplares vendidos –, por que defende a importância de se documentar a memória coletiva de nosso país, além de revelar suas influências literárias e do que acredita ser feita uma grande história, como as que ela escreve.
CONTINENTE Você tem cinco livros publicados. Cada um conta uma narrativa bem diferente da outra. A maior parte delas se passa em Minas Gerais, tirando a de Todo dia a mesma noite (2018), que narra o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Todas são histórias difíceis, atravessadas por muitas vidas e, em sua maioria, de tragédias e traumas coletivos, que, através de sua escrita, contribuem para humanizar os números superlativos que elas trazem. Como é que você decide que se dedicará a um tema nos seus trabalhos de reportagem?
DANIELA ARBEX Costumo dizer que nem sempre é o jornalista que escolhe a história que ele vai contar. Muitas das vezes, ele é escolhido pela história. Me sinto assim em todos os cinco livros. Não foi “vou falar disso”. As coisas aconteceram. Para mim, tem que ser assim, tem que ter um motivo, um significado. Não é só porque é uma tragédia. “Ah, você é uma autora que fala de tragédias. Vai contar todas as tragédias do Brasil”. Não, não funciona assim. Preciso sentir que o jornalismo que faço pode ser útil para aquela causa. Para mim, é muito importante. No Holocausto brasileiro (2013), o desejo de contar essa história surgiu a partir das imagens que foram feitas dentro do Colônia, em 1961, por um fotógrafo chamado Luiz Alfredo. Tive acesso a essas fotos quase 50 anos depois. A primeira coisa que eu quis não foi nem escrever um livro, queria encontrar sobreviventes daquelas pessoas que tinham sido fotografadas. Assim começou essa história. O Cova 312 (2015) também surgiu assim na minha vida. Quando a Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura (CEIVT), de Minas Gerais, anunciou que estava abrindo o prazo para requerimento de pessoas que foram vítimas da ditadura naquele período, fiquei muito impactada com aquela história e resolvi entender quem eram aquelas pessoas que estavam entrando com requerimento. Nessa busca, acabei chegando ao Presídio de Linhares, que foi um dos principais presídios políticos do país. Inclusive, descobrindo que lá tinha morrido um guerrilheiro da Guerrilha do Caparaó, militante, e que o corpo dele nunca tinha sido encontrado. Pronto, a história nasceu assim.
 Edições da Intríseca dos cinco livros-reportagem escritos pela jornalista. Imagens: Reprodução
Edições da Intríseca dos cinco livros-reportagem escritos pela jornalista. Imagens: Reprodução
Depois, Todo dia a mesma noite (2018), de fato, é a única história que conto fora de Minas Gerais, meu Estado. Eu era uma jornalista estrangeira no Rio Grande do Sul, mas quem me colocou uma pulguinha atrás da orelha foi um colega de redação que tinha conhecido uma enfermeira de Santa Maria nas redes sociais. Ele veio dizer que eu precisava contar essa história. Foi muito interessante, porque eu disse para ele, em um primeiro momento: “Todo mundo já contou; Santa Maria fica do outro lado do mundo”. Mas ele insistiu. Então, fiquei pensando por que ele estava falando aquilo. Até que cheguei àquela história. Quando vi, já estava no Rio Grande do Sul, sem saber ao certo do que poderia falar. Quando fiz a primeira entrevista, entendi que tinham histórias não contadas e que precisavam ser conhecidas. Os dois mundos de Isabel (2020) era um desejo antigo meu, pela minha proximidade com a protagonista. Mas eu tinha receio de falar de alguém tão próximo a mim, de não ter isenção o suficiente para contar essa história. Numa conversa com a Dona Isabel, disse para ela, até conto isso no posfácio: “Queria contar a sua história, Dona Isabel, mas nós somos amigas”. E ela pergunta (risos): “Ué, tem que ser minha inimiga para contar minha história?”. Aí, falo: “Ela está certa, né?”.
Arrastados (2022) também foi assim. Esse livro nasce para mim quando a família de uma engenheira da Vale, chamada Isabela Barroso Câmara Pinto, me manda uma mensagem nas redes sociais pedindo ajuda para localizá-la. Naquele momento, não tinha nada que eu pudesse fazer para localizar a Isabela. Isso me deixou muito mal, eu me senti impotente e prometi para mim mesma que se um dia fosse contar essa história, seria a primeira família que eu ia procurar. E o que me tocou profundamente na história da Isabela? Que a foto que me mandaram dela era de uma menina vestida de noiva. Falei: “Meu Deus! Quem é essa moça linda? Qual a história por trás dessa imagem?”. E foi isso que fiz. Então, Arrastados surgiu para mim nesse contexto.
CONTINENTE Em 25 de janeiro deste ano, a tragédia de Brumadinho completou três anos. Você acompanhou algumas das famílias impactadas e sobreviventes desse desastre humanitário. Isso diz muito da sua forma de trabalhar. Você conta essas histórias a partir das vidas e não das tragédias. Tudo está minuciosamente trazido e documentado no seu livro Arrastados (2022). Conta como foi para você receber a notícia do que havia acontecido em Brumadinho e o que encontrou ao chegar na cidade.
DANIELA ARBEX Você falou uma coisa que é muito importante no meu trabalho. Apesar de tratar de mortes, trato essas mortes sob a perspectiva da vida. Sempre. Resgatar a memória coletiva e a memória individual é trazer de volta essas pessoas, esses projetos, esses sonhos, é criar empatia. Como te disse, no dia 25 de janeiro de 2019, eu estava dentro do ônibus que me levaria do Aeroporto de Porto Alegre para a cidade de Santa Maria, porque combinei com as famílias que perderam filhos na Boate Kiss, que passaria com eles (a data) dos seis anos que marcariam a tragédia. Então, eu estava dentro desse ônibus quando li a primeira notícia do rompimento da barragem. Fiquei angustiadíssima, porque estava muito longe de Minas Gerais, com o compromisso assumido com as famílias que eu tinha que cumprir. Sentia aquela angústia de estar longe, como jornalista, como brasileira, como mineira.
Quando voltei do Rio Grande do Sul, em fevereiro, fui para Brumadinho, porque eu precisava ver aquele lugar. Cheguei e encontrei uma cidade completamente destruída, com pessoas que ainda não tinham dado conta de digerir todo aquele drama no qual estavam inseridas. Era um trauma coletivo, mesmo. As pessoas estavam em choque e o que percebi de mais dramático era o medo que elas tinham de falar. Porque, do dia para a noite, essas pessoas passaram a depender da Vale para morar e para comer, porque muitas perderam moradia, saíram de casa com a roupa do corpo. Elas tinham medo de falar alguma coisa que desagradasse a mineradora. Isso eu percebi logo nas primeiras entrevistas. Então, o que percebi, ali? Que elas não estavam prontas para falar. Era muito cedo, ainda. Fiz uma cobertura para o jornal diário em que eu trabalhava, mas entendi que, para contar essa história com a profundidade que ela merecia, precisaria de tempo. Foi isso que eu fiz. Dei tempo para essas pessoas e voltei. Voltei com o tempo suficiente para oferecer a escuta que elas precisavam, porque, naquele momento quando fui, elas não tinham iniciado nem o processo do luto.
Foi muito impressionante perceber o tamanho da devastação e, mais ainda, perceber que Brumadinho é um desastre ainda em curso. Porque, quando você fala do que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, está falando de consequências que vão ser experimentadas por gerações. Não só as consequências ambientais, pois o reflorestamento de toda aquela área atingida vai levar décadas - vegetação, fauna, flora, tudo foi duramente afetado -, mas a questão da saúde mental e física daquelas pessoas. Elas terão que ser acompanhadas durante muito tempo, para que se possa avaliar se o contato com a lama tóxica causa algum efeito para a saúde humana. Em relação à saúde mental, os efeitos já podem ser sentidos. Já temos uma cidade com um consumo altíssimo de medicamentos controlados, isso explodiu após o rompimento. Uma cidade cujas taxas de tentativas de homicídios praticamente dobraram no pós-rompimento. Muita coisa acontecendo. Há mais de 100 órfãos, na maioria deles, crianças que ainda não entenderam a dimensão de serem privadas do direito de construir memória. Elas vão precisar levar uma vida inteira, ainda, para entender, por isso que falo que é um desastre ainda em curso.
CONTINENTE Conta quando você escolheu o jornalismo e em quais momentos essa profissão mais lhe encantou na vida.
DANIELA ARBEX Olha, fico emocionada. Agora você mexeu comigo. Decidi que queria ser jornalista na minha adolescência. Eu era bem jovem, tinha 14 anos de idade. Sempre gostei muito de escrever. Uma coisa interessante, quando tinha oito anos, escrevi meu primeiro livro. Queria publicar de qualquer jeito e me jogaram um banho de água fria naquele momento. Desde muito pequenininha, por exemplo, meu primeiro concurso de redação ganhei aos oito anos de idade; e mesmo sem ter noção da potência da palavra, percebi que meu texto exercia alguma influência. Claro que naquela época eu não percebia, hoje percebo. Me encantava ver como o meu texto mexia com as pessoas, com os meus coleguinhas de classe e com os professores. Sempre tive uma relação muito forte com a questão da palavra, principalmente com a da escrita e, ao longo do tempo, fui percebendo isso.
Gostava muito de ler, de escrever e entrei para a faculdade cheia de sonhos, como todo mundo entra. E lembro que, nos primeiros dias da faculdade, um professor disse assim: “Ah, o mercado de trabalho está saturado”. Um discurso horrível, detesto esse tipo de discurso. Derrotismo. “Então, o que ele está fazendo aqui?”. Lembro que, na faculdade, quando entrei para o jornal-laboratório, a primeira matéria que fiz foi uma denúncia que mexeu literalmente com o próprio curso de Comunicação, porque denunciei um professor da faculdade de Direito, em um momento que a nossa faculdade funcionava de favor dentro do prédio da faculdade de Direito. Foi a primeira vez que os professores do curso de Comunicação se reuniram para saber se eles publicariam ou não uma matéria no jornal-laboratório. Um professor meu, depois que passaram muitos anos, disse: “Dani, quando você chegou, o jornal-laboratório era um chá da tarde. Você chegou e revolucionou isso tudo, colocou a gente na saia justa, e a gente publica a matéria”.
Acho que sempre tive essa veia ligada às questões sociais, uma indignação que entendi que precisava transformar em ação. Naquela primeira matéria, vi o rebu que foi, vi os professores preocupados, vi que todo mundo saiu do seu lugar, falei: “Nossa, isso é muito poderoso. É isso que quero fazer”. Quando entrei para o jornal, ganhei a melhor matéria do ano em um concurso com três meses no jornal. E qual foi a melhor matéria do jornal? Hoje fui levar meu filho ao dentista e, antes de a gente se encontrar, passei por uma das unidades de saúde do SUS na qual já dormi na fila para mostrar que as pessoas estavam vendendo lugar na fila para terem acesso à saúde. Passei (por esse lugar) e contei para o meu filho, coincidentemente. Acho que sempre procurei exercitar o que a gente tem de melhor, a nossa empatia, se colocar no lugar do outro e ver as coisas no lugar do outro, não pelo nosso olhar. Assim, se faz a diferença, porque quando a gente muda o ângulo, talvez isso nos ajude a enxergar melhor.
CONTINENTE Quem são seus autores e autoras preferidos e que influenciaram na construção da escritora que você se tornou?
DANIELA ARBEX A gente tem os nossos grandes escritores brasileiros. Guimarães Rosa, para mim, é uma grande referência. Principalmente pela relação que ele teve com a questão da loucura. Eu já tinha uma proximidade com a obra dele e isso ficou muito mais forte com o Colônia. A gente tem Machado de Assis, nossas grandes referências literárias, mas temos autores mais contemporâneos que marcaram muito a minha trajetória, também. Audálio Dantas, um jornalista que é referência, que divulgou o trabalho da escritora Carolina de Jesus, que fez o livro As duas guerras de Vlado Herzog (2012), do Vladmir Herzog. Tem a Eliane Brum como uma grande referência nacional e literária; José Hamilton Ribeiro. Temos esses grandes jornalistas que escreveram livros-reportagem no Brasil, que são referências.
Há uma geração mais nova, Mauri König, Fabiana Moraes, Ivan Mizanzuk, Chico Felitti, que está chegando com tudo. A Fabiana já é da minha época. Ela é uma grande referência de jornalista, de resistência e de mulher, também. Tem muita gente boa contando histórias. Autores internacionais, que, para mim, são referências. John Hershey é uma referência de jornalismo literário com Hiroshima (1946). Aliás, quase que ele inaugura um estilo no jornalismo literário, quando vai contar sobre a bomba que os Estados Unidos jogaram em cima de Hiroshima, na Segunda Guerra. Pela primeira vez, alguém conta uma história pelo olhar de quem presenciou a bomba. Hiroshima é um clássico. Tem Gay Talese, além de grandes nomes da literatura fazendo isso, que são referência. Agora, para nós, porque eu não conhecia o trabalho dela, mas a nossa grande Nobel de Literatura, que é Svetlana Aleksiévitch, com Vozes de Tchernóbil (1997), A guerra não tem rosto de mulher (1985), fazendo o que acredito, que é construir a memória coletiva através do jornalismo.
Ação dos bombeiros na área impactada pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
CONTINENTE Por que é tão importante construir a memória coletiva e documentá-la?
DANIELA ARBEX Porque, se a gente esquece; esquecer é negar a história. Estamos falando de um país que não tem na sua cultura a tradição de construir memória. Quando se fala: “Ah, o brasileiro não tem memória”. Não se pode ter memória daquilo que não foi construído. A gente precisa criar e cuidar dessa memória como a Europa fez da Segunda Guerra Mundial, que cuidou da memória do Holocausto e, apesar de ser doloroso, olhou para aquilo de frente. A gente tem que aprender a olhar para as nossas dores de frente. Para a gente poder não só não esquecer, mas não repetir.
Se a gente não sabe o que aconteceu dentro da Mina do Córrego do Feijão, a gente vai achar não natural, mas não vai se surpreender se tiver um outro rompimento de barragem. Hoje, depois que a pessoa lê Arrastados, é difícil não se envolver com essa questão e entender que a mineração, da forma como ela atua hoje no Brasil, é uma mineração predatória. Esse modelo de negócio precisa ser humanizado. Tem uma questão econômica, mas tem uma questão humana, também. Nesse caso, a balança está desigual. A questão econômica está aqui (Daniela faz um sinal para o alto), a humana não é nem levada em conta. Não está pesando em nada na balança. A gente precisa colocar isso, sim. Nos últimos anos, o meu trabalho, que dentro do jornalismo sempre foi de denúncia das violações de direitos, todos os tipos de violações, contra a mulher, contra as minorias, meu olhar sempre foi voltado para esses invisíveis. Mas, na última década, fortaleci meu trabalho nessa construção de memória para dar visibilidade a temas que são marginais e que são superimportantes e que a gente precisa falar deles.
O bonito de ver o papel da literatura nisso é, por exemplo, que um tema árido como a questão da saúde mental no Brasil, ser consumido, compreendido e criar um novo olhar com o Holocausto brasileiro. Você vê, por exemplo, o Todo dia a mesma noite interferindo no julgamento dos réus, sendo anexado ao processo como documento histórico. Foi muito importante como prova, sendo citado na hora da sentença. É um jornalismo documental. Acho que é um pouco do que o (Pedro) Bial fala no prefácio de Arrastados, que talvez seja o maior documento dessa história no Brasil. Esse é o nosso papel. O jornalismo constrói pontes, mas por que a gente vai construir pontes? Só para aproximar os mundos? Não, para mudar os mundos. Acho que é isso.
CONTINENTE Neste ano, temos eleições para o governo e para a presidência. A seu ver, quais os principais desafios de quem se eleger em Minas Gerais e na presidência para evitar que tragédias de grandes impactos aconteçam no seu estado?
DANIELA ARBEX Acho que os desafios são os mesmos, tanto para Minas Gerais quanto para o país. Acho que a gente precisa focar na educação, na prevenção, na saúde, no cuidado com as pessoas. E principalmente nós, que somos um estado minério-dependente – Minas Gerais é completamente dependente da mineração –, precisamos melhorar não só as formas de fiscalização. A questão não é só essa, porque a lei fala, por exemplo, que as barragens têm que apresentar declarações de estabilidade. A B1 tinha declaração de estabilidade, que dava aval, mas era uma declaração falsa. Quer dizer, então, o quê? Que o papel aceita qualquer coisa. Então, criar mecanismos de regulação, marcos regulatórios, que até foram criados, a partir da Lei Mar de Lama Nunca Mais, mas que acabaram sendo flexibilizadas. Primeiro, logo após o rompimento, a lei determinava mudanças importantes no setor. Exigia, cobrava mais. Com o tempo, os prazos foram se dilatando. Então, acho que é isso, é olhar para as coisas com o peso que elas têm e cuidar melhor das pessoas. Principalmente, das pessoas que moram em torno desses empreendimentos. Porque são comunidades que vivem diariamente o medo, que vivem também em uma minério-dependência, porque toda a vida dessa cidade fica em torno da mineração, e que não sabem os riscos reais a que essas comunidades estão submetidas. É o cuidado, é a vontade de cuidar das pessoas, realmente.
CONTINENTE Sempre que leio o seu livro Holocausto brasileiro uma pergunta que vem é como o estado brasileiro e parte da população civil se omitiram tanto, a ponto de chegarmos a tamanha desumanidade?
DANIELA ARBEX Foi uma banalização do mal, porque a gente tinha uma cultura – e acho que ainda tem – alimentada por esse higienismo, pela ideia de “limpeza social”. Isso sustentou este modelo que foi o Colônia, em uma sociedade muito preconceituosa, intolerante, incapaz de conviver com as diferenças. Em uma época que, para se livrar das diferenças, bastava ter mais poder e mandar alguém para o lugar mais longe que existisse. Não se tinha nenhum tipo de critério médico para internação. Então, quem tivesse mais poder, decidia sobre a vida do outro, até mesmo internar alguém que não tivesse doença mental. Esse modelo foi alimentado pela cultura de higiene social, de “vamos ‘limpar’ nossa sociedade”. Quem não é “útil”, não serve para aquela sociedade. Então, se coloca para debaixo do tapete. As pessoas, para conviverem com um modelo daquele que produziu tantas mortes e tanta barbárie, se desumanizavam porque, senão, você não toleraria, por exemplo, trabalhar ali. Começava a fingir que não estava vendo, se normalizava o que nunca foi normal. Acho que, infelizmente, é uma cultura que existe e se arrasta até hoje. Uma cultura que banaliza todo o mal e continua excluindo minorias, que na verdade não são minorias, mas é maioria que é excluída. Uma cultura que continua intolerante em relação aos negros, aos pobres, às pessoas em sofrimento mental. É esse tipo de sociedade nossa, de hoje, que permitiu que o Colônia funcionasse por tanto tempo. Houve avanços importantes, uma luta antimanicomial muito importante também, que permitiu que nós tivéssemos avanços, mas a mesma sociedade que sustentou esse modelo está aqui. Isso não precisa ter dúvidas, é só a gente ver quantos homofóbicos saindo do armário, quantos racistas saindo do armário. Nossa sociedade está repleta desse tipo de pessoa que permitiu que o Colônia funcionasse e que, talvez, se esse modelo pudesse voltar a vigorar, estaria batendo palmas.
CONTINENTE Para finalizar, a seu ver, do que é feita uma grande história? O que você deseja quando publica seus livros?
DANIELA ARBEX Uma grande história é feita de pessoas. Todas as histórias são extraordinárias. O que faz a diferença em uma história é a forma de contar. Quando penso em publicar um livro, quando quero contar uma história, meu maior desejo é que essa história não só construa a memória coletiva de um país, mas ajude a mudá-lo. Alguém me perguntou se eu tinha esperança de que o Arrastados mudasse alguma coisa. Falei: “Claro que tenho esperança, senão eu não passaria dois anos envolvida com um projeto dessa dimensão”. Batendo de frente com uma empresa muito poderosa de todas as formas, financeiramente, com muitos privilégios e poderes. É claro que tenho esperança de mudarmos o olhar da sociedade sobre essa questão da mineração, de exigirmos realmente os nossos direitos e de sermos mais humanos, não falar que é mais uma tragédia. São 272 vidas perdidas. Mas não, não são 272 vidas perdidas. São as vidas da Izabela, do Lorenzo, que não teve direito de nascer, que estava na barriga da Fernanda quando foram alcançados pela lama. É a vida da Maria Elisa, outra bebê que não teve direito de nascer quando estava na barriga da Eliane. Estamos falando de pessoas e nós somos pessoas. A gente precisa exercer essa humanidade de maneira permanente. Acho que meus livros fazem isso, nos convocam para uma mudança na nossa postura em relação à sociedade que vivemos. Não só para uma reflexão, mas para uma mudança. Vou voltar lá atrás, na minha primeira matéria do jornal-laboratório, que é exatamente isso, uma matéria que provocou mudanças. Acho que sou uma eterna provocadora.![]()
ERIKA MUNIZ, jornalista com formação também em Letras.