
Memória das coisas, memória dos outros
Como as permanências do passado influenciam o presente e as noções de porvir na criação literária
TEXTO Kelvin Falcão Klein
01 de Fevereiro de 2022
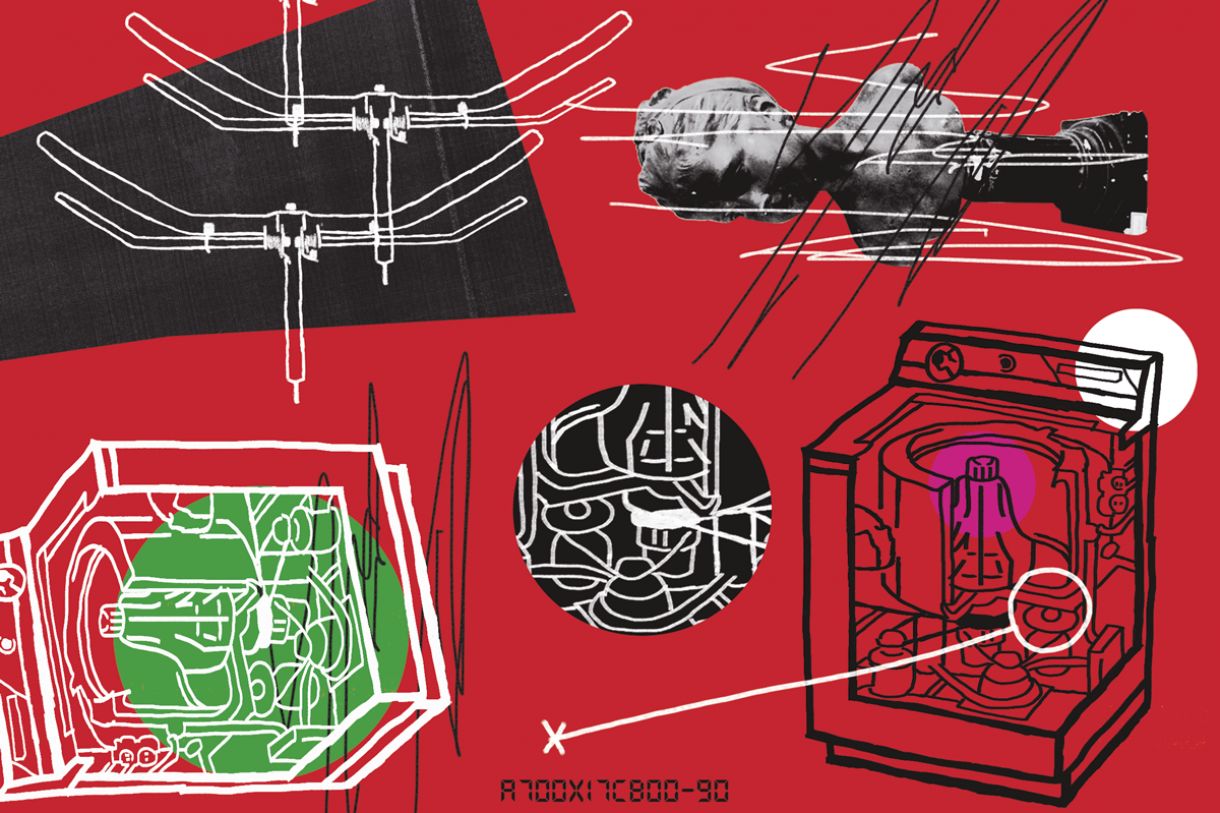
Ilustração Rafael Olinto
[conteúdo na íntegra | ed. 254 | fevereiro de 2022]
Assine a Continente
Em seu livro Arqueologias do futuro, publicado pela Autêntica na tradução de Carlos Pissardo, Fredric Jameson analisa nossas complexas estratégias de projeção do futuro, falando do “desejo chamado utopia” e de como toda construção do “amanhã” passa por um cultivo do “ontem”. O futuro, escreve Jameson, é uma “perturbação” que deve ser modulada a partir do confronto com fragmentos familiares do passado, evocações de objetos e indivíduos conhecidos, que auxiliam na progressiva imersão no desconhecido que se anuncia à frente. Vivemos nosso presente ameaçados por um “futuro preparado pela eliminação da historicidade”, uma “neutralização por meio do progresso e da evolução tecnológica”: é o “futuro da globalização, em que nada resta em sua particularidade e tudo agora é uma jogada visando a lucros e à introdução do sistema de trabalho assalariado”. Se ainda existe um domínio da vida dedicado à manutenção das “particularidades”, sem dúvida é o domínio da arte e da literatura.
Em seu breve e poderoso livro O lugar (Fósforo, 2021, tradução de Marília Garcia), Annie Ernaux se dedica à investigação da figura de seu pai, homem de pouca instrução formal e assombrado ao longo da vida por uma origem de pobreza. A rememoração dos artefatos do passado se mescla à memória afetiva dos laços de parentesco, das lições que eram dadas sem que houvesse consciência de que eram “lições”. Uma piada “divertia muito”, escreve Ernaux, representativa desse choque de gerações mediado pela memória das coisas: um camponês “vai visitar o filho na cidade” e senta diante da máquina de lavar, grande novidade. O pai fica diante da máquina girando, “absorto, olhando fixamente a roupa que roda detrás da janelinha”. No fim, ele se levanta, balança a cabeça e diz à nora: “Podem falar o que quiserem, mas ainda falta muito para a televisão chegar lá”. A incapacidade de diferenciar os objetos se torna, na narrativa de Ernaux, um elemento para refletir sobre a sobrevivência do passado e a tensão entre as gerações dentro de uma mesma família.
Lembrar do pai é lembrar também de sua “obrigação de sacralizar as coisas”: trata-se de um mundo “em que tudo custa caro”, gerando um “sentimento de falta constante, sem fim”. A narradora evoca a ocasião em que seu vestido se prendeu pelo bolso no guidom da bicicleta. O tecido rasga e se instaura um drama, uma gritaria – “essa menina não sabe o valor das coisas!”. Em paralelo a isso, existe o desconhecimento da “ideia de que as pessoas escolhem objetos para ter em casa”, como enfeites sem “utilidade”. O quarto dos pais é relembrado pela narradora sem decoração, “apenas fotos enquadradas, paninhos feitos para o dia das mães e, em cima da lareira, um grande busto de criança em cerâmica, que o vendedor de móveis tinha dado de brinde pela compra de um sofá de canto”. É fundamental perceber como a reivindicação e descrição das particularidades (nos objetos e nas relações, no passado e no presente) é um dos principais eixos de sustentação do efeito estético do relato de Ernaux – como esse “busto de criança”, que chega à casa como “brinde”, ou seja, pela intervenção externa de um vendedor desconhecido.
Ernaux fez escola com sua mescla peculiar de relato pessoal, estudo sociológico e ensaio histórico que oscila entre o coletivo e o familiar. Géraldine Schwarz, autora do recente Os amnésicos: história de uma família europeia (Âyiné, 2021, tradução de Ana Martini), segue essa vertente da literatura contemporânea em uma investigação que toma como ponto de partida seu próprio avô, que “se deixou levar pela corrente” durante o período nazista. “Eu não estava especialmente predestinada a me interessar pelos nazistas”, escreve a autora já na primeira frase do livro: “os pais do meu pai não estiveram nem do lado das vítimas nem do lado dos carrascos”, não se “distinguiram por atos de bravura, mas também não pecaram por excesso de zelo”. É nessa zona de indistinção, sem altos ou baixos, que o relato se movimenta, acompanhando três gerações de sua família, descrevendo os vários “trabalhos de memória” diante do passado fascista não apenas na Alemanha, mas em vários países da Europa.
Aquilo que o livro de Ernaux tem de breve e contido, o livro de Schwarz tem de denso, detalhista e profundo. Um traço, porém, os aproxima – a constante articulação entre as memórias das coisas e as memórias dos outros, a evocação dos artefatos do passado como mecanismo para salientar as particularidades das vidas. Um dos grandes momentos de Os amnésicos surge quando a narradora absorve momentaneamente o ponto de vista de seu pai, Volker, voltando à casa dos pais depois de anos de estudo no exterior. Ele começa “a observar a sala de jantar de seus pais sob uma nova perspectiva depois de ver em fotos como o apartamento era antes da guerra”. Os móveis eram muito diferentes, continua ela, mais rústicos, até serem transformados com a guerra: “de repente apareceram belos móveis art déco, como uma estante de livros, uma grande escrivaninha e uma mesa”, algo que não correspondia “à classe social” dos pais naquela época. De onde vieram esses móveis? Essa é a pergunta que Volker se faz, transmitindo à filha não apenas a resposta, mas especialmente o desconforto diante daquilo que retorna do passado: o mobiliário muito provavelmente vinha das casas dos vizinhos judeus, obrigados a vender “a preço de banana”, seja por conta das leis raciais, seja por conta do exílio forçado.
A pilhagem, a perseguição e a deportação de judeus foram o aspecto do trabalho de memória “mais difícil de ser enfrentado pelo povo alemão”, escreve Schwarz. Se era fácil encontrar desculpas para ter caído sob o encanto do “suposto magnetismo de Hitler” e saudado suas reformas sociais e econômicas, “que de imediato trouxeram um conforto muito bem-vindo após anos de escassez de alimentos”, era bem mais difícil justificar a cumplicidade passiva de milhões de cidadãos “diante da perseguição aos judeus da Alemanha”. Esse contexto geral é particularizado no momento em que Volker retorna à casa dos pais e vê, nos objetos, a corporificação da amnésia e da violência do passado. A mobília da casa carrega consigo uma carga possível de rememoração que, no entanto, não está imediatamente acessível: é preciso reinscrever os objetos dentro de uma nova história, uma nova narrativa, informada pela pesquisa, pela crítica e pela reflexão ética do presente.
Como escreveu William Faulkner em seu Requiem for a Nun: “O passado nunca morre. Não é sequer passado”. Toda atuação no presente pressupõe um uso do passado, um rearranjo de suas energias ainda atuantes. Em seu último livro, Vivos na memória (Companhia das Letras, 2021), Leyla Perrone-Moisés aprofunda essa reflexão a partir de vários relatos-retratos: evocações de colegas, amigos e mestres, de Antonio Candido a Haroldo de Campos, passando por Tzvetan Todorov, Julio Cortázar e Osman Lins.
“Os capítulos deste livro são tombeaux, gênero musical e literário de homenagem póstuma”, escreve a autora, “biografemas” de “indivíduos extraordinários no cotidiano”, pessoas que “continuam vivas não só em minha memória, mas na memória coletiva”. As memórias de Perrone-Moisés transformam as “referências bibliográficas” em personagens próximos, quase acessíveis – algo que só é possível pela reivindicação das particularidades no relato (ela escreve na introdução que pretende lembrar “momentos particulares que compartilhamos”).
Quando escreve sobre Cortázar, por exemplo, a autora relembra o momento em que caminhava com o autor pelas ruas de São Paulo, em 1975 (viagem secreta, para encontrar a mãe e a irmã, já que ele não podia ir a Buenos Aires por conta da ditadura militar). Passando por uma agência de viagens, “Julio pegou-me pelo braço e me mostrou, na vitrine, uma miniatura de transatlântico”, escreve Perrone-Moisés. Diante do objeto aparentemente banal – entre o brinquedo e o brinde, entre o lúdico e a propaganda –, Cortázar diz: “Imagine que lindo seria espalhar açúcar nesses tombadilhos e soltar neles um bando de formigas. Elas se agitariam para todo lado, como passageiros malucos”. A história não está nos livros de Cortázar, mas poderia tranquilamente ser um conto seu, talvez um fragmento de Histórias de cronópios e de famas. “Ideia típica de Julio”, comenta a autora, “que sempre adorou os navios e via tudo com os olhos da imaginação”.
Não é possível contar a história de uma vida sem recorrer a outras vidas, outros percursos – A vida dos outros e a minha, como coloca Claudia Cavalcanti em seu relato híbrido, mescla de ensaio e autobiografia (Cultura e Barbárie, 2021). Trata-se de um “autoensaio”, como registra a autora na abertura do texto, reinventado quase às portas de seu término depois da leitura de Austerlitz, de W. G. Sebald. A referência é decisiva, especialmente pelo fato de Cavalcanti utilizar uma série de fotografias para explorar essa “vida dos outros” e como se multiplicam em uma vida “minha” que está tanto no passado quanto no presente. A memorialista se confunde com a tradutora, que por sua vez se confunde com a brasileira que viaja à Alemanha para dominar uma língua alheia. A autora traduz Paul Celan e Ingeborg Bachmann, encontrando palavras próprias nas palavras dos outros, até descobrir, “numa das últimas tardes do verão de 2008”, em Zurique, “a correspondência entre Celan e Bachmann, Herzzeit (Tempo do coração)”, o que contribui para uma espécie de condensação de motivos na narrativa, como um cristal de memória.

Obras literárias que suscitam a reflexão deste ensaio. Imagens: Reprodução
O mote do livro, contudo, é o resgate da vida da autora em Leipzig, entre 1984 e 1989, quando foi estudante na universidade. Mais do que isso, um resgate que visa obter informações acerca de uma possível espionagem da Stasi – a antiga polícia secreta da Alemanha Oriental –, que mobilizou uma enorme rede de informantes ao longo de décadas, causando a prisão por motivos políticos de mais de 250 mil pessoas. Os documentos aparecem – são enviados do outro lado do oceano –, trazendo memórias de uma vida que é “minha”, mas também “dos outros”: os relatórios de espionagem mostram uma vida conhecida (a estudante brasileira na Alemanha), mas que é estranhada completamente através da ótica policialesca e paranoica do Estado. O passado, contudo, retorna tanto na linguagem dura da burocracia quanto no idioma instigante da poesia, que está sempre recomeçando: “11 anos depois de reeditar Celan e quase um ano depois de publicar Bachmann, vejo-me traduzindo a alemã Nelly Sachs”, pois “traduzir poemas é interpretar um passado presumido, sem expectativas, mas apostas”.
***
Os livros por vezes funcionam como objetos que ativam uma parte da memória até o momento soterrada, articulando afetos, imagens, palavras. No seu Encaixotando minha biblioteca (Companhia das Letras, 2021), Alberto Manguel retoma, em chave invertida, o célebre ensaio breve de Walter Benjamin, Desempacotando minha biblioteca, de 1931. O disparador do relato é uma cena de angústia: depois de criticar medidas de Nicolas Sarkozy, Manguel passa a enfrentar uma série de implicâncias burocráticas do governo (que chega a exigir a apresentação da nota fiscal de aquisição de cada livro em sua biblioteca de 35 mil volumes), o que culmina com sua decisão de deixar a França e sua casa medieval no Loire. Mais uma vez o destino individual cruza os caminhos largos da comunidade e da sociedade; mais uma vez os objetos absorvem as memórias das tensões entre os indivíduos e as instituições. Encaixotar “é um exercício de esquecimento”, escreve Manguel, “é como rodar um filme de trás para a frente, enviando narrativas visíveis e uma realidade metódica para as regiões do distante e do não visto, um ato de olvidar voluntário”.
Cada livro que desce da estante em direção às caixas convida à rememoração, à evocação do dia em que foi comprado, da pessoa que o presenteou, da livraria que o guardou até o momento da compra, da cidade na qual estava a livraria, o livro e assim por diante, em um carrossel infindável de associações. “Os objetos consoladores em minha mesinha de cabeceira são (sempre foram) livros”, continua o autor, “e minha biblioteca era, ela própria, um local tranquilo de consolo e reconforto. Pode ser que os livros tenham essa qualidade calmante porque na verdade não os possuímos: os livros nos possuem”. Ou ainda, nos insuperáveis versos de Emily Dickinson: “Não há Fragata como um livro/ Para levar-nos Terra afora/ Nem há Corcel como uma Página/ De volteante Poesia” (tradução de Ana Luísa Amaral).
Ainda que o tom geral seja melancólico, o relato de Manguel insiste que é só no contato com os livros (e com as bibliotecas, as escolas, as universidades…) que o ser humano pode esquecer, mesmo que brevemente, sua mortalidade.
É com esse pensamento que gostaria de encerrar este ensaio com uma homenagem a Tamara Kamenszain, poeta argentina falecida em 28 de julho de 2021. Sua produção literária sempre foi marcada pelo atravessamento entre poesia, autobiografia e ensaio (neste último gênero é possível destacar La edad de la poesía, de 1996, e Una intimidad inofensiva, de 2016). Em seu romance El libro de Tamar, de 2018, analisa (autobiograficamente) sua relação com Héctor Libertella, também ele escritor, enxertando no relato comentários sobre livros e interpretações de alguns de seus poemas (além de relacionar o par Kamenszain-Libertella com outros pares “literários”, como Ludmer-Piglia, Kristeva-Sollers, Plath-Hughes).
A vida dos outros mais uma vez repercute na vida própria, próxima, íntima. O livro é composto a partir do breve poema que Libertella lhe passa por baixo da porta, depois do divórcio, um poema que joga com variações possíveis do nome da autora. El libro de Tamar é um ensaio sobre as possibilidades da autoanálise, do autoestranhamento de si, caso isso seja possível (e Kamenszain mostra que é); é também uma narrativa sobre a crítica e sobre a poesia, costurando a linguagem da análise com o vocabulário do afeto doméstico em suas variadas formas.
Em Livros pequenos, lançado no Brasil com tradução de Paloma Vidal (Papéis Selvagens, 2021), Kamenszain reconfigura o percurso da própria vida através da evocação de uma série de livros, de variados gêneros e proveniências, que carregam vozes e presenças de outros tempos. O livro-objeto funciona como dispositivo de expansão da memória, e cada obra mencionada é ecoada em diferentes momentos, relida à luz das anedotas, à luz da repetição de algumas frases e versos. Os livros são “pequenos” porque se encaixam em inúmeros espaços da vida do presente e do passado, permitindo a Kamenszain a evocação de suas experiências como professora, jornalista, poeta, leitora e avó – os netos aparecem como figuras de condensação dos contrários: a vida está no texto assim como o passado está no presente e a morte, na vida. Todo livro é um convite ao recomeço, à insistência teimosa em percorrer esse caminho tortuoso a que chamamos “existência”.
KELVIN FALCÃO KLEIN, professor de Literatura Comparada na Unirio, autor de Wilcock, ficção e arquivo (2018).






