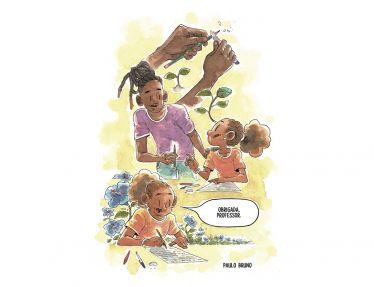Sigam-me os piores!
Caquistocracia, termo do século XVII, mostra-se bem atual ao descrever períodos em que o poder é tomado pelo mal
TEXTO AUGUSTO TENÓRIO
ILUSTRAÇÃO RAFAEL OLINTO
01 de Setembro de 2021

A amálgama é derivada do grego 'kakistos' (mau) e 'kratos' (estado ou poder)
Ilustração Rafael Olinto
[conteúdo na íntegra | ed. 249 | setembro de 2021]
Despedimo-nos de 2020 engasgados com quase 200 mil brasileiros mortos por Covid-19. As expectativas para 2021 não eram boas, mas a chegada da marca de 500 mil mortos mostrou o quão surreal e macabra é a realidade brasileira nesta tragédia iniciada no ano passado – ou no retrasado, a depender da ótica. Enquanto tentamos entender como fomos acometidos por tamanho mal, vale o alerta: talvez sejamos as testemunhas da primeira caquistocracia funcional do planeta.
Caquistocracia é um conceito resgatado do século XVII. É uma amálgama, derivada do grego kakistos (mau) e kratos (estado ou poder), apresentada em A sermon preached at the publique fast the ninth day of Aug (Paul Gosnold, 1644) para definir a tomada de poder pelo que há de pior em uma sociedade, tanto em questão de desqualificação como falta de escrúpulos. O teatral sermão foi apresentado ao King’s Parliament, reunido em Oxford, para apoiar a causa monarquista durante a guerra civil inglesa.
Talvez o leitor logo associe a palavra ao fascismo, mas note-se que não falamos aqui da “maldade” pura e maquiavélica, pois a ele são adicionados os elementos do ridículo, do “tosco” ou burlesco. Podemos interpretá-lo como uma aristocracia (usando aqui a definição original da palavra, ou seja, o governo dos mais excelentes em conhecimento e virtude) às avessas.
Na arte, tivemos uma real representação de um “líder caquistocrata”. Lembremos, por exemplo, de Adenoid Hynkel, sátira de Adolf Hitler interpretada e dirigida por Charles Chaplin em O grande ditador (1940). Para o personagem, não bastava tomar o poder absoluto perseguindo o bode expiatório da vez (na ocasião, os judeus): ele tinha a capacidade de fazer tudo errado, arranjar brigas mesquinhas com o aliado Benzino Napoleone, ditador de um país vizinho inspirado em Benitto Mussolini, e outras lambanças. Apesar das boas risadas proporcionadas ao público, não se deve passar batido o fato de que ele conseguiria seus objetivos, não fosse a troca acidental de personagens ao final do filme.
Outro exemplo, na sétima arte, são os líderes representados no longa Dr. Strangelove (1964). No filme de Stanley Kubrick, o riso caminha junto com o espanto, ao se imaginar o ménage à trois da incapacidade com a maldade e a loucura, numa relação construída no cenário da Guerra Fria. Apesar disso, por mais que paralelos possam ser feitos entre a ficção e a realidade, a princípio, o conceito estaria mais para uma elucubração que para a interpretação fiel de algum período.
A estreia da caquistocracia no vocabulário brasileiro deu-se no segundo ano de mandato de Jair Bolsonaro, numa espécie de importação linguística pelo Brasil dos EUA. Lá, a palavra foi ressuscitada como kakistocracy nos anos 1980, durante o governo Reagan, mas viralizou em 2018, após um tweet feito pelo ex-diretor da CIA, John O. Brennan. Ele respondeu à publicação de Donald Trump afirmando: “sua caquistocracia está afundando”.
Até então, o termo mal constava em dicionários estadunidenses. Nessa época, já estava claro o total desconhecimento de Donald Trump de como gerir a máquina pública e explodiram denúncias de que o círculo próximo ao presidente teria cometido crimes federais. Lá, assim como cá, o chefe do executivo parecia descobrir quais eram suas funções enquanto governava. Mas qualquer esperança de mudança de rumos caiu quando ele dobrou a aposta de liderar de acordo com os moldes do lema “quanto pior, melhor”, como vimos na sua fracassada campanha de reeleição. A palavra também foi usada para descrever a era Yeltsin, na Rússia.
Analisando o termo no Google Trends, percebe-se que os brasileiros só se interessaram significativamente pela palavra caquistocracia a partir de março de 2019, com procura acentuada em março de 2020 (quando entramos em estado de calamidade e vimos a briga generalizada do presidente Jair Bolsonaro com governadores que pretendiam realizar quarentena contra a disseminação do coronavírus nos estados que geriam) e no mesmo mês de 2021 (quando atingimos o pico de mortes na pandemia).
Nós, a imprensa brasileira, chamamos as iniciais confusões administrativas de Jair Bolsonaro e seu clã de “caneladas”, termo futebolístico que descreve a ação atrapalhada de alguém que, sem jeito, busca ganhar a bola. Mas se, no futebol, as maldades intencionais são punidas com a expulsão (cartão vermelho) e as caneladas são seguidas de advertências que visam encerrar as irregularidades, no mundo da política nacional, seguimos o jogo com quase nenhum contra-ataque ou defesa.
Chamadas de “caneladas”, “cortinas de fumaça” ou mesmo de “maldades”, as ações do executivo federal seguem um mistério: não sabemos bem se são uma jogada estratégica ou somente um bate-cabeça de um governo dividido, confuso e sem noção. A verdade é que nos aterrorizamos enquanto rimos do quão ridículas são as ações dessa caquistocracia que, com suas “caneladas” – agora, claro eufemismo para suas maldades e limitações intelectuais – caminha em busca da sonhada e absurdamente possível reeleição. Começamos 2019 com a promessa de uma tecnocracia e, dois anos depois, nos foi devolvido esse delírio funcional.
Do palco de Paul Gosnold, na Inglaterra, ao palco do Brasil contemporâneo, a caquistocracia viajou quase quatro séculos e cerca de oito mil quilômetros para dar forma a um espetáculo também com ares teatrais: a CPI da Covid. Não que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja uma tragédia, mas, sim a releitura capaz de sintetizar e esmiuçar o roteiro do cômico inferno pandêmico nas terras tupiniquins.
Diante dos questionamentos dos parlamentares que formam o chamado G7, mesmo com a reputação dúbia de alguns desses, integrantes e ex-integrantes do governo federal mostram o quão leais foram aos seus insanos papéis.
Ministros, assessores e demais personalidades demonstram que, para continuar na encenação da caquistocracia, devem ser fiéis aos seus personagens e suprimir qualquer gesto de racionalidade ou empatia. Quem rachar a figura de bastião da loucura deixa o palco. Há apenas um caso específico que foge ao costume: o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o general que assumiu desconhecer o SUS em coletiva, tão bom intérprete do seu papel, que se tornou caro demais para mantê-lo no roteiro.
Mandetta, quando deputado, fez campanha contra o Mais Médicos e se tornou ministro. Quando não defendeu a cloroquina, saiu. Ernesto Araújo tornou o Brasil um pária internacional, mas só foi exonerado por prejudicar o agronegócio. Guedes continua conduzindo a Economia reclamando de pobres na Disney e do aumento da expectativa de vida do brasileiro, além de sugerir a doação de obras dos restaurantes para alimentar os “desamparados”.
Como cereja do bolo, a comunicação informal do governo, leia-se, o “gabinete do ódio” , é comandada pelo vereador Carlos Bolsonaro, um sujeito conhecido como Tonho da Lua pelos ataques de raiva e dificuldades de conclusão de raciocínio. O nome faz referência ao personagem interpretado por Marcos Frota no remake de Mulheres de areia, exibido em 1993.
É ele quem escreve no Twitter coisas como esta: “Novos episódios das fakenews, PAPAGAIOS MUDOS, porcos, bonecos Gulliver com cuecão de couro, jogos olímpicos, she-ras falsificadas, socialismo e liberdade… Vendo os comentários, nota-se que el(x)s estão descontrolad(x)s! (emoji de risada). Impera o silêncio dos blogueiros de certa emissora de TV, grupinho do quarto escuro de SP, iron, amantes, vampiros, ratos, montanhas, alicates, bruxas e Potters (boneco chucky)”.
O riso some do rosto quando lembramos que essas pessoas conseguiram executar políticas públicas. Ler o noticiário é como escutar os versos “o que dá pra rir dá pra chorar”, da canção Canto chorando. Seria a música um resumo do passado, presente e futuro do Brasil?
A CPI, responsável por passar esse roteiro a limpo, oscila de temperatura a depender do convidado, como uma espécie de reality show. Mesmo assim, o público não gosta do que vê e a popularidade do governo cai. Como um desastre prolongado não faz bem para os negócios, o centrão, outrora protetor de Jair Bolsonaro, agora cogita trocar a liderança da caquistocracia, na esperança de desfazê-la por dentro e viabilizar um outro candidato da direita para o próximo ano.
A despeito de as pesquisas mostrarem uma derrota de Jair Bolsonaro em quase todos os cenários eleitorais, os mesmos levantamentos apontam o piso da aprovação do mandatário na casa dos 23%. É a parcela da população que não abandonará o caquistocrata máximo da nação, não importa quantas vidas sejam perdidas, famílias destruídas, empregos fechados e escândalos denunciados.
Esqueceremos o acontecido? A tragédia dos 500 mil mortos por Covid ficará para trás após o avanço da vacinação? No próximo ano, pode haver Carnaval e haverá Copa do Mundo. A economia tende a melhorar, pois o patamar está baixo. O quão frescas na memória estarão as vidas ceifadas por esta caquistocracia na hora do público escolher ou não pela sua continuidade através das urnas?
Ainda falta mais de um ano para o pleito e várias perguntas seguem sem resposta.
Resta saber se o nosso fim será esperançoso como o do filme O grande ditador, com uma troca de personagens que dê vazão ao ódio e à insanidade mobilizados em volta do cargo, ou se tudo irá para o espaço sob o comando de um fascista, como em Dr. Strangelove. Sem uma mudança de rumos imediata, sangraremos sob o comando desses seres até 2022, na esperança de um basta das urnas e uma autorização verde-oliva para superação deste momento tenebroso.
Do outro lado, parte da oposição não assume, mas diminui o tom dos gritos de impeachment e não acha má ideia a permanência de Bolsonaro até o fim de seu mandato, ao melhor estilo let it bleed, provando que nada aprendeu e nada fará sobre as pretensões golpistas do líder caquistocrata. “O Brasil não é para principiantes”, disse certa vez Tom Jobim. Mas escolho, apesar de nutrir bons sentimentos apenas pelo músico, terminar este comentário adaptando uma frase do economista Roberto Campos: a loucura no Brasil tem passado glorioso e futuro promissor.![]()
AUGUSTO TENÓRIO, jornalista e, por vezes, cronista.
RAFAEL OLINTO, estudante de design, estagiário da Continente.