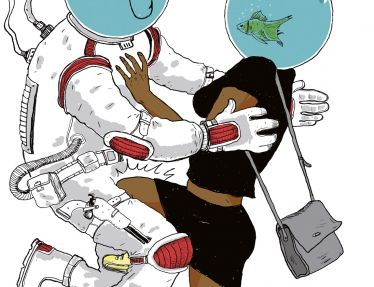
Narrativa de matriz autobiográfica
Leia trechos de ‘Bicho geográfico’, livro do jovem autor recifense publicado pela Cepe Editora
TEXTO Bernardo Brayner
01 de Março de 2021

Capa do livro
Imagem Acervo pessoal do autor/Divulgação
[conteúdo na íntegra | ed. 243 | março de 2021]
contribua com o jornalismo de qualidade
Li em algum lugar quando criança que é impossível ler em um sonho. Desde então tenho sonhado com livros que têm suas páginas passadas tão rapidamente, que fica impossível ler.
Essa noite sonhei que encontrava Wisława Szymborska e ela pedia que eu soletrasse o seu nome, o que eu fazia com orgulho. Ia pra casa sorrindo. No caminho refletia se havia acertado mesmo ou ela tinha dito que eu tinha acertado só para me agradar. Nessa parte do sonho eu era uma criança. Quando chegava em casa já era adolescente e pegava um grosso volume de obras completas de um autor brasileiro na estante e notava que as capas estavam intactas mas quase todo o interior havia sido devorado por cupins.
O tempo devorado. Os mundos passam, um depois do outro, todos em eclipse, eclipse é uma figura de linguagem, como a metonímia e a apóstrofe, e esses mundos passam a vida inteira com uma metade do rosto escurecida, uma metade que não sai na fotografia, todos esses mundos flutuam em sequência como um filme e agora param no momento que aquela que seria a minha avó repara em um senhor que traz uma faixa de luto no braço e decide que não irá consumar o casamento que os seus pais arranjaram e que casará com aquele viúvo distinto e com ele terá filhos e que cuidará dos quatro filhos que ele já tem como se fossem seus e que existirão os filhos dos seus filhos e seus livros numa biblioteca em um lugar chamado encruzilhada.
Em um dos meus primeiros aniversários — ou do meu irmão — a velinha do bolo caiu e incendiou a decoração da festa como um prenúncio do que estava por vir. A fúria com que a minha mãe bebia água sem que o batom desmanchasse. A velocidade com que se alastrou a minha paixão por amuletos como gibis, animais, figurinhas e, depois, livros.
O susto do telefone na madrugada. A gargalhada
que nunca estoura na foto tirada.
***
O jovem da foto tem vinte e quatro anos e está em 2000. A sobrancelha ainda grossa e a barba bem feita contrastam com as do homem de hoje. Seu autor preferido nessa época disse que o essencial é a memória, visto que a literatura é feita de sonhos e sonhos recombinam recordações. O homem de hoje tem uma obsessão por um homem que disse que a fotografia é a maior desgraça do século XX. Está com a sua mãe. A serenidade é a dos que não conhecem o futuro.
***
Antes que alguém desapareça: agora não me passa despercebido o relógio como um integrante da família — um adolescente com vergonha de tirar a foto com os pais que só se aproxima furtivamente, um papagaio de pirata que só é flagrado na foto depois de revelada. É de se supor que era primeira comunhão do meu irmão — quieto como a ruína de uma cidade. É de se supor, ainda, que, como não rimos, só eu e ele percebemos o intruso e como crianças com medo de fantasmas preferimos o silêncio. Contudo, posso ter cometido um erro de interpretação. É possível que estivéssemos olhando por cima dos ombros do fotógrafo, onde havia uma porta de vidro. No reflexo dessa porta de vidro poderíamos facilmente ter percebido o intruso e acompanhado atentamente a sua ação e até mesmo ter nutrido por ele algum carinho.
***
Depois que a minha mãe morreu comecei a vê-la dirigindo no centro da cidade, atravessando a pé a rua do lado, subindo no ônibus de um bairro distante, fazendo compras em um supermercado. Isso acontecia como num filme ruim. Imagino se um dia eu tivesse alcançado uma dessas mães e perguntado a ela: — A senhora vai me perdoar, madame, mas é a minha mãe. Faça o favor de não me ignorar que isso dói pra caralho. Convoco, agora, nesse momento, todas essas minhas mães que vi por aí. Venham, mães, venham me visitar. Superem o tempo, o espaço. Superem a ordem de me ignorar dada por algum Deus escroto. Apressem-se, por favor. Antes que o mundo me aborreça novamente com rostos desconhecidos.
***
Não mais por rebeldia ou por teimosia, muito menos por hábito ou por velhacaria, eu faria outra vez a troca de canal na televisão para que a minha mãe acordasse do seu sono na cadeira e reclamasse que estava assistindo à novela. Que estava vendo a novela dormindo ou naquele estado que precede o sono ou ainda numa espécie de transe. Que aquilo não era coisa que se fizesse. Que ela também tem direito porque trabalhou muito durante todo o dia. E assim eu soltaria um riso besta com minha irmã, sairíamos correndo e gritando que não se pode ver televisão nesta casa. Contaria, com minha irmã, histórias e brincaríamos dizendo que pegaríamos fogo se mais alguém em casa nos visse em flagrante. Brincaríamos ruidosamente. Afastaríamos os móveis com força.
O mais alto possível. Mas que ela acordasse.
Colocaria a água-de-colônia, retocaria o batom, calçaria o sapato por cima do band-aid que cobriria o calo do calcanhar, beberia um copo de água gelada sem que o batom desmanchasse e gritaria Já estou indo, estou só bebendo água, gritaria para o carro que ainda estaria do outro lado da rua e de vidros fechados, causaria o protesto dos filhos que perderiam a concentração na lição de biologia ou não escutariam uma fala importante no filme, teriam, de qualquer jeito, sua atenção roubada e tentariam muitos anos depois recuperar a atenção ao detalhe da água-de-colônia, do band-aid ou do batom, mas o tempo não passaria e essa história seria como as fábulas que se repetem três vezes e não como um post no Facebook e restaria mais na tela do computador e menos na memória, assim como o espelho da farmacinha do banheiro que ainda está quebrado mas se protege com a capa grossa do esquecimento.
Além da testa que beijei e que me lembrou a consistência e a temperatura de um bombom Sonho de Valsa guardado na geladeira, coisa que me envergonhou, houve a visita desse fantasma — se elevava do chão como o caixão de Chu Fu Tze, o negador de milagres — que atestava a morte da minha mãe e explicava sem muita paciência que eles, digo, os fantasmas, eram projeções do futuro e não emanações do passado, ou seja, de gente morta, e que por isso não me enganasse e que estaríamos fodidos do mesmo jeito. Disse isso e acrescentou que todos que chegam à eternidade recebem uma casa igual à que tiveram na terra e lembrou com coqueteria que leu isso em Swedenborg e desapareceu atravessando a porta sem usar a maçaneta. Só agora no meu presente e no passado de vocês pude entender aquelas palavras que me assediaram com seus pseudópodes e lembrar quem foi Swedenborg.
A verdade é que perdemos aquela casa como a lagartixa que perde o próprio rabo, para sobreviver. A verdade é que a linguagem naquela casa tinha mais de biológico do que em qualquer outro lugar que conhecíamos. E ali deixamos os nossos pedaços.
As expressões que eu e minhas irmãs tirávamos das aulas: Sabelídeos, Processo de emulsificação do quimo, Orifício nutridor do osso. Eram palavras que repetíamos aos risos na nossa casa em Piedade — só agora, com a distância, me parece estranho o nome Piedade. Somos uma colônia fúngica que se apegou ao mofo do lugar, que cresceu junto aos troncos de eucaliptos cortados. A orelha-de-pau surgia depois da chuva e ouvíamos uma última vez: Sabelídeos, sabelídeos. E agora deixamos aquela casa. E achamos que já ficou tarde para qualquer coisa, para tudo, talvez. Não criamos mais os animais (cães, gatos, peixes, pássaros, tartarugas, camarões, periquitos) que criamos ali com euforia, com a agitação de alevinos, com as certezas do bicho adivinhão ou aluvião, que depois troquei por livros que criei, aos montes, sem parar, para que preenchessem de alguma alegria outras casas.
Agora meu pai deliberava com um homem que vendia um cavalo. Esse homem não tinha três dos dedos na mão esquerda. Meu pai me explicava que tinha sido uma mordida daquele cavalo. Depois disse que eu o seguisse e me guiasse pela camisa azul que usava em direção ao peixe que sempre comprávamos: o espada-sangue. Passamos por porcos, coelhos, todos os tipos de pássaros com todo tipo de canto. Eu me guiava pela camisa azul. Passamos por bois. Passamos por araras. Passamos por animais que eu nunca tinha visto presos em gaiolas. Eu me guiava pela camisa. Passamos por corredores apertados de tanta gente que mais parecia que eram aquelas pessoas que estavam à venda. E eu me guiava. No meio desse corredor de gentes e gaiolas ele se virou como alguém que quer flagrar um perseguidor furtivo. Eu estava pasmo. Era como um duplo. Camisa com a mesma tonalidade de azul. Mesma altura. Mesmo corpo. Mas rosto completamente diferente. Como se usasse uma máscara para me assustar. Queria voltar ao meu verdadeiro pai e contar do impostor, dos truques que se fazem hoje em dia, das peças que nos pregam como mordidas, das ausências que nos assustam nos locais mais insuspeitos, dos animais estranhos que deixam soltos por aí.
Sempre preferi o voo de homem-bala do Stardust de Fletcher Hanks, que colava os braços estirados para trás ao corpo e juntava as pernas, ao voo do Capitão Marvel ou do Superman. Hanks sempre o retratava de costas, envolto numa aura de energia que mais parecia um cometa. Quase todos seus personagens tinham essa aura. Nada do punho cerrado à frente, nada da capa esvoaçante. Só aquela pequena nuvem de partículas à minha volta. Grandes, cristalinas, doces. Eu sou a minha nuvem de partículas. Partículas de memória atravessando o meu corpo. O mundo, o trabalho, o aluguel, os raios cósmicos, as explosões solares. O voo simétrico do Stardust, fechado em si, sem heroísmo que a própria sobrevivência, o voo que me protege da gravidade de planetas e palavras desconhecidas, mas que tende ao minúsculo, à falta de volume, à falta de anatomia.
Sempre preferi o voo de homem-bala do Stardust porque é um voo que elege a si mesmo e não um meio de chegar a algum lugar.
Hanks morreu dois meses depois do meu nascimento. Seu corpo foi encontrado congelado no banco de um parque de Manhattan. Era alcoólatra e sustentado pelo filho Fletcher Hanks Jr.

Foto: Acervo pessoal do autor/Divulgação
***
O menino sai de casa quando os pais não estão olhando, ou finge que vai comprar o pão, e fantasia com o quanto pode ir longe sem ser descoberto. Poder se perder é uma aventura que faz o coração palpitar, mas no fundo sabe que será achado antes da pracinha, antes de entrar no ônibus que o levará para outro bairro. Pois é assim que se chama: voltar para casa. O homem persegue essa lembrança e fantasia com o quanto pode ir longe sem ser descoberto. Poder se perder é uma aventura que faz o coração palpitar, mas no fundo sabe que será achado antes da pracinha, antes de entrar no ônibus que o levará para outro bairro. Eles se encontrariam. Imaginariam a mesma janela do ônibus, levariam a mesma história em quadrinhos na mochila e abririam o pacote de salgadinhos usando o mesmo método com os dentes — em movimento de serra — enquanto restaria o mesmo pequeno pedaço de plástico preso ao lábio e o mesmo dedo polegar buscando o plástico, uma digital que ficará até quando esse plástico existir. O encontro deles duraria só alguns segundos, pela manhã. Eles planejariam se reencontrar para almoçar, mas saberiam que isso não é possível, que esse encontro nunca mais se repetirá. Depois da fuga cada um seria achado por seus familiares em locais diferentes — perdidos, se relataria depois. Em silêncio pensariam que só estariam perdidos um do outro e o que restaria era ir para casa, a pé, devagar, com um pouco de sono, com a sensação de que pelo menos hoje o Náutico deverá ganhar.
Saber que se é um ator. Saber que o que você fez naquele dia vai se repetir indefinidamente na memória das pessoas. Você estará sempre fugindo de casa, sempre repetindo os mesmos gestos e as mesmas palavras. Por mais que você fuja de novo você estará preso àquele dia, perseguido. Por mais que o coração palpite, o gesto é sempre o mesmo. Por mais que se perca é assim que será chamado.
***
Dessa vez não nos separa aquela neblina: a primeira vez que minha cachorra viu o mar, as minhas sobrinhas gêmeas que se assustam quando ponho uma máscara, o silêncio no telefone antes de ouvir a notícia da morte do meu pai, a chuva que nos perseguia como uma cortina veloz atrás das nossas bicicletas. Dessa vez não nos separa aquela neblina porque utilizo uma máquina em formato de cone, uma máquina que não tem centro porque o centro está em todo lugar. O dia em que entrei num hospital para reconhecer um corpo, a primeira vez que vi um louva-a-deus, a assembleia dos pássaros, o macaquinho do restaurante chinês que usava roupinhas sob medida, a respiração do mar produzindo conchas coloridas, o livro que se acha por acaso numa livraria de Santiago. E outra vez nos separa a neblina das palavras e tudo o que eu disser poderá ter sido inventado e vocês terão que guardar o que já leram, sem sair por aí revelando o que essa máquina faz quando não está enchendo de neblina e fumaça os nossos pulmões.
***
Vamos, meu amigo, faça o seguinte: pegue um livro e o coloque em frente ao rosto. Um jornal também serve. Qualquer um, não importa, pois não é o livro ou o jornal que terá a sua atenção. Vamos, use este que você tem na mão. Eles serão só um disfarce. Este se presta ao disfarce. Agora, com o rabo do olho, espie o menino que contorce o rosto para chamar sua atenção. Ria da expressão rabo do olho que deixa seu olho pequeno parecendo um animalzinho acuado, escondido, mas com o rabo à mostra. Com grunhidos que julga ser de um espectro, monstro ou dinossauro o menino olha firmemente em sua direção e mostra os 33 dentes. Com a língua, meu velho, procure o dente que falta entre os seus 32. Ajeite o quepe e aperte os olhos como quem procura algum trecho específico no livro. Você pode ver ainda um carro e algumas plantas.
Os dentes do menino serão todos substituídos em breve. Suas memórias serão substituídas por outras. O carro será substituído por um mais amplo e veloz. As plantas morrerão. O cabelo do menino vai cair e suas roupas vão ser cada vez maiores e compradas com desleixo. A careta será substituída pelo seu rosto sério, meu amigo. Pelo seu rosto sério e seus lábios finos, quase inexistentes. Esse rosto transpassado de um espectro, monstro ou dinossauro você perdeu para sempre.

Foto: Acervo pessoal do autor/Divulgação
***
Todo o punho e o antebraço cobertos por aquela baba espessa e a textura do pelo — peito e luvas brancas, dorso castanho — de Jeco voltam para mim, na minha mão um osso. Mas não volta o porquê de Jeco se chamar Jeco, coisa que só sei ao digitar no Google. Jeco é como se costumam chamar os cães na região do Porto. Pode significar, também, dívida que não se tenciona pagar. Jeco, tenho uma dívida com você, meu velho. Devolva o meu braço. Eu te devolvo essa lembrança. Estamos quites.
***
Passo os olhos em um livro velho e leio a palavra animosidade enquanto imagino um ensaio sobre cachorros.
***
Animosidade: disposição ou determinação diante de obstáculos, perigos; audácia, coragem, ousadia, má vontade constante; aversão, rancor, ressentimento. A palavra que lembra algo animalesco me leva à infância e à Gangue do Inú. Do japonês ⽝ (cachorro). Cachorros que andavam pelo bairro procurando confusão, desenhando em muros um misterioso símbolo japonês.
***
A memória é um osso que se cava fundo.
***
Nesta altura seria necessário abrandar o ritmo da conversa, pois a bebida já fazia com que fala e pensamento trilhassem caminhos diferentes, e dizer como um forasteiro que eu de fato era naquela casa, naquela cidade, que ele, meu irmão, simulava a postura das criaturas de Borges e era como Homero, Kafka, Poe, Plinio e Confúcio unidos em uma mesma criatura, um livro.
Unido em uma mesma criatura também a figura do meu pai e do meu irmão. E eu fazia como quando se espera a pedra atirada -- todos têm uma pedra com seu nome prestes a ser atirada — ou faria ainda como Lineu, buscando o nome exato dos bichos, e encontraria apenas o nome do corrilário, a alma penada em figura de cão, e que, ao contrário dos lobisomens, pega atalhos e tem cabelos irrepetíveis. Como nas fábulas, o importante, disse eu, ainda, entre um gole e outro, não é a moral, mas é que os animais falam. Para acostumar um gato ao outro tu deves colocar a saliva de um no outro com o dedo.
A morte também passa de boca em boca.
***
Sirius é a maior estrela do céu noturno.
Os povos antigos associavam essa estrela ao calor.
Em grego Σείριος quer dizer escaldador. Quando ela era muito visível achavam que faria muito calor.
A constelação da qual Sirius faz parte é a Canis Major, ou Cão Maior. Sirius é uma estrela binária. Então na verdade são duas estrelas.
A estrela-companheira é a Sirius B, chamada também de Cachorrinho. A palavra Canícula (diminutivo de cão) é empregada para uma condição do tempo meteorológico associada às ondas de calor. É o Calor do Cão.
A palavra Canícula também aparece no idioma russo (каникула) e quer dizer Férias, que no hemisfério norte tem tudo a ver com calor no meio do ano. Quando alguém fala com amor de um poema ruim eu acho o poema bom.
***
Do material de que são feitas as histórias: o sonho, a memória, a morte, o amor. No entanto, apesar de tão pouca matéria, multiplicam-se e multiplicam- -se por aí com seus corpos translúcidos. Mas vamos supor que existisse algo diferente. Vamos supor que um homem acorde um dia. Não tem a companhia de nenhum desses fantasmas. Essa é a matéria: o homem acorda. Podemos imaginar esse homem e essa história. O estranhamento de tudo o que é novo. O homem não ama nada ou ninguém, não sonha, não tem memória e não teme a morte. Apesar disso poderia ser uma história feita de sonho, feita de memória, feita de morte ou feita de amor porque essas matérias não ligam para o nosso personagem e muito menos para o que eu escrevo agora e se metem onde nunca foram chamadas.
Poderia ser uma mistura de todas essas coisas, essas matérias, esses ectoplasmas, e se multiplicar por aí. Mas já toca a ambulância lá fora e está quebrado o encanto. Não há mais história ou sonho ou amor ou memória.
***
Agora continuo estranhando essas fantasias, em cima do cavalo que já perdeu o pescoço e a cabeça. O cavalo que perdeu até o músculo que treme fazendo de um cavalo um cavalo. Agora continuo estranhando que perdemos também os dois as rédeas, as ferraduras os estribos. É por isso que não se deve contar nada a ninguém: as histórias dão coices e desembestam.
***
E na última vez que falasse com esse amigo, sabendo que seria a última vez, que no dia seguinte ele estaria morto, falaria como se falasse a Funes, o memorioso, pensaria que cada uma das palavras perduraria em sua implacável memória de morto, ficaria imobilizado pelo medo de que cada gesto se multiplicasse indefinidamente e que cada palavra ressoasse em incontáveis mundos e nada diria, embora quisesse dizer muitas coisas, entre elas, que nada é eterno, que nada é para sempre, embora soubesse que a morte de fato possa ser, e não acreditaria e diria a esse amigo que não acreditasse em uma só palavra do que estaria dizendo e desviaria o olhar como quem não quer encarar, indeciso entre os insondáveis tempo verbais e sem saber dizer que, assim como Scheherazade ou o próprio Funes, manter-me vivo depende da narração que se multiplica e multiplica e multiplica, mas nem disso tenho mais certeza, da narrativa e da sobrevivência, e que me desculpasse por isso, mas cada momento daquele também se multiplicaria para mim e os seus pares estariam amanhã perdidos em jogo que um time só joga, lembraria, talvez, de Jean-François Sudre, mas não saberia cantar esse nome, o nome de Jean-François Sudre, criador do Solresol, que talvez querendo imitar o espírito santo teve a ideia de construir essa língua que tem apenas sete elementos: as sete notas internacionais da música — dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sílabas que recombinadas formam todas as palavras desse idioma e escrever ou enunciar os nomes das notas é o mesmo que cantá-las ou indicá-las com os dedos no ar através de sinais estenográficos ou substituí-las pelos sete primeiros números ou simbolizá-las pelas sete cores do arco-íris ou marcá-las, tocando com o indicador na mão direita os quatro dedos da mão esquerda e seus intervalos, representando uma pauta musical, curando assim o mundo das cicatrizes chamadas palavras.
***
No filme La mia madre, de Nanni Moretti, a personagem principal, que tem a mãe no leito de morte, se pergunta O que será desses livros?, olhando para a estante da mãe. Lembrei de um homem na universidade que vivia de vender a biblioteca do pai morto, lembrei dos García Márquez todos da minha mãe que ainda conservo, lembrei das dedicatórias todas que acho nos sebos e levo pra casa. Um pouco da memória de três desconhecidos: o autor, quem escreveu a dedicatória e o presenteado.
***
Um trecho das centenas de falas que colecionei durante décadas no meu caderninho de capa azul daquele conhecido por Rodrigo Rosa, mestre da oralidade da envergadura de um Joe Gould: “Contudo, a velhice não é apenas essa distância entre batimentos cardíacos, essa teimosia vulgar da inexperiência, essa turbulência do pensamento. Além dessa substância pré-existe o fato e a paragem da lembrança de uma rua no Fonseca. Havia uma escadaria e eu tinha 14 anos. Desci a escada do prédio. Era uma escada longa e atroz. Quando cheguei ao último degrau olhei pro primeiro e pensei Estou mais próximo da Morte aqui do que ali. Há dois mundos no homem: o mundo estúpido do funcionamento dos órgãos internos e o mundo estúpido do funcionamento dos órgãos externos, como o pensamento e a escada”.
***
Uma escada de lembranças:
Meu pai tinha medo que nos tornássemos preguiçosos. Por isso retirava as pilhas de todos os controles de TV. Tínhamos que levantar para mudar o canal. Até hoje não sei usar o controle remoto.
Não saíamos para o colégio sem assistir antes ao programa Mundo Animal. Na saída de casa assistíamos também à família de suíços adestrando os seus pastores-alemães na rua.
De modo que nos melhores dias a vida fora podia ser tão interessante quanto a televisão. Melhores que os pastores-alemães só os porcos de Fazenda Nova. Porcos enormes. Esferas infinitas onde o centro estava em toda parte.
Para o meu pai a imagem da televisão tinha de estar sempre perfeita, completamente nítida. Perdíamos toda a programação tentando achar a sintonia perfeita na antena. A imagem que imitaria com perfeição a vida real.
***
O livro de contos de Checkov com aquela capa linda que vi numa livraria que já fechou no Recife.
O livro de Bernhard que quase comprei numa livraria em Berlim, mas deixei na estante.
O livro de Borges que vi numa vitrine da Maipú e que não abri porque alguém me apressou para visitar um ponto turístico.
Esses livros — e não suas gélidas versões posteriores, que obtive e li — são os livros da minha vida.

Foto: Acervo pessoal do autor/Divulgação
***
Como minha testemunha há o tubarão de borracha que eu e meu irmão jogamos na mais leve marola da praia de Boa Viagem e que viaja com seu nado bêbado alguns metros e já nos deixa felizes.
O efeito de naturalidade serve para assustar uma ou duas senhoras — não tem nenhum respeito! Não imaginamos seus descendentes amputando e matando pessoas naquela mesma praia: um fêmur triturado, duas mãos de um surfista, o corpo de uma turista, o torso de um padre. Há também essa ideia de destino, do artificial e do real.
Como minha testemunha há o tubarão de borracha que eu e meu irmão jogamos e agora volta com a mais leve marola. As leis que presidem o mar e a memória foram escritas juntas. Não são de ordem espacial ou temporal, como muitos acreditam. Mas são as leis que regem os movimentos de uma respiração.
***
Não lembro antes mas tive um amuleto lá pelos seis anos. Um selo com a imagem de um cachorro da raça boxer. Eu acordava à noite e ia ver se ele ainda estava no lugar que eu havia deixado. Eu havia perdido o cachorro de verdade (um boxer chamado Jeco) morto envenenado mas ainda possuía um selo de cachorro e o resto não interessava. Às vezes esse selo do cachorro me visita. O boxer do selo ainda está vivo e respira no escuro e sussurra a palavra amuleto como se tivesse uma lagartixa de amuleto entre os dentes. O boxer do selo é um livro que ainda não tenho. Quanto aos cachorros, o bem pequeno que vai no colo da dona para o aeroporto como bebê ou boneco, o que parece um totem para assustar fantasmas, o que se pode enfiar o braço na garganta para retirar um brinquedo, o que se torna uma ligação seguida do choro de um amigo durante um almoço, o que morde a mão do dono,
o que é uma bola de pelos com uma língua azul.
De fato, lembram as oferendas divinas. Muito encantador também aquele olhar no seu olho causando um calafrio.
***
A Poem
Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, England.
Penguin Books, 40 West 23rd Street, New York, New York 10010, U.S.A.
Penguin Books, Australia, Ringwood, Victoria, Australia.
Penguin Books, 182-190, Wairau Road, Auckland 10, New Zealand.
Penguin Books, 360, Castro Alves Street, Recife, Pernambuco, Brazil.
Penguin Books, My Bed. My bed is like a little boat, 324-326, Castro Alves Street, Pernambuco, Brazil.
Penguin Books, 172, At night I go on board and say. Castro Alves Street, Recife, Pernambuco, Brazil.
Penguin Books, Brazil, Good-night to all my friends on shore, Castro Alves Street, 2017, Recife, Encruzilhada, Pernambuco. First published in one volume by New Directions Books, 1964. Published in Penguin Books, 1986.
***
Minha masmorra é a minha vida. Sonho, agora, uma mulher morta tocando um instrumento musical desconhecido. Talvez uma bandeira com a cauda de uma raposa ou de um canguru. Mas com alguma coisa de humano. Parece querer saltar em cima de mim. A mulher morta toca esse instrumento e pede que a filha leia um livro. O livro muda de idioma enquanto a filha o lê. Não sei como entrei nessa masmorra. Vista daqui parece muito pequena para meu corpo.
Ao final da minha vida talvez ainda lembre do sonho recorrente de infância. De um poro da minha pele saía um cupim, seguido de outro, outro e mais outro até as centenas, os milhares. Em todos os poros dos braços e pernas. E minha pele caía revelando a trama típica, os veios podres, os ossos quebradiços. Assim o final da minha vida seria o começo da minha vida. Os cupins fariam o seu trabalho e levariam os meus pedaços no voo nupcial.
***
Ela me disse que a memória é um vaga-lume num campo à noite, que está e não-está, eu disse que a memória é o campo escuro e o vaga-lume é a imaginação que tenta preencher tudo aquilo e, sabendo do fracasso da sua empreitada, desiste e volta a tentar a cada segundo e entre nós depois apenas uma conversa boba sobre civilizações antigas, notadamente o Império Aquemênida ou o Império Medo, e um ou outro escrito de Imhotep quando o vazio entre nós foi preenchido por formigas de asas provavelmente provenientes do Rio Moxotó e que se jogavam também nas lâmpadas e as faziam tilintar lembrando um silêncio que só os que têm ouvidos muito aguçados ouvem, lembrando também as paisagens e seus ciclos aquáticos, as marés que chamamos de tempo, seus territórios transitórios e pantanosos: a pirâmide de Sakkara, com seus seis enormes degraus que atingem, juntos, sessenta e dois metros de altura, o problema das sete pontes de Königsberg, seus grafos, incluindo o grafo trivial, a Choquequirao de Manco Yupanqui e sua montanha selvática, os corpos vertebrais alinhados com discos preservados para que a história não se repita, mas ela sempre se repete.

Foto: Acervo pessoal do autor/Divulgação
***
Um físico quântico isolou o exato momento em que duas pessoas deixam de se compreender.
O ponto de tempo está aberto a visitação em um museu de Berlim.
***
O meu pai assistia ao desenho do Pica-Pau com um fervor canino, de cachorro calado e que anda meio de lado. Muitas vezes o Pica-Pau era acordado por uma contenda entre outros dois personagens. Os brigões se uniam para matar o Pica-Pau e ele escapava, zombava dos tiros. O meu pai ria. Talvez aquela confusão toda lembrasse algo a ele, que naquele dia ele escaparia da morte. Penso que ele se achava todo dia acordado do seu sono por algo. Por alguma ideia. “Eu sou um diabo necessário”, falava o Pica-Pau na tela. E meu pai repetia. E ria.
***
Lembrei do dia que meus irmãos foram para casa na condução do colégio, desceram em casa e em casa ficaram. E só depois de um bom tempo meus irmãos e meus pais perceberam que eu não estava entre eles. Eu havia dormido no último assento do ônibus e estava perdido por aí.
O episódio serviu muito pra minha autocomiseração, para que eu imaginasse o meu dia a dia sem mim, uma espécie de vislumbre da minha própria morte. O mundo continuava. Eu olhava pela janela e uma fila de crianças fardadas, uma turma da tarde, entrava em outro colégio.
Como eles podiam continuar fazendo tudo igual, mesmo depois do meu desaparecimento?
As mesmas velhas árvores pintadas com cal, a mesma sirene que não se sabe se é de colégio ou de fábrica.
***
No ponto de ônibus uma menina cochicha algo para a outra enquanto um homem velho observa com as mãos nos bolsos. Zombam, talvez, do tempo que passou para alguém, talvez para você. Zombam das memórias que talvez você possa ter trazido até aqui, ao ponto de ônibus. As meninas talvez tragam um inseto nas mãos e o voo desse inseto se chame zombaria. Um inseto que voasse ao ouvido do homem velho, que dali o retiraria — como uma mágica pífia — e voltaria a colocar no bolso.
***
Aqui há um eu de quem eu já nem lembrava. Encontrei-o bastante chateado se escondendo atrás de uma pilastra para, talvez, ouvir a voz da mãe, que fingia indiferença. O abuso com uma nova brincadeira, com um amigo — que palavra estranha — ou consigo mesmo por não querer participar da brincadeira é apenas uma estratégia para, enfim, escutar a voz da mãe. Encontro-o nesse momento. Ele se recusa a me olhar, embora eu peça tantas vezes. Ele desvia a cabeça mais uma vez apesar de me ouvir pronunciar o nosso nome. Cheguei hoje do trabalho de onde fui demitido. Não pergunto o que ele está fazendo ali. Só peço atenção. Caminho silenciosamente em sua direção. Ele mal se move. Tento tocá-lo e ele me empurra. É espantoso vê-lo assim de tão perto. O cabelo era cheio e mais claro. Já se foram mais de trinta anos. Pouco a pouco a raiva vai passando. Só precisávamos de um pouco de paciência. Ele me olha, me reconhece e me abraça. Faço uma piada com o nome Jósio. Ele não entende. Pouco depois começa a chover. Não lembrávamos que chovia tanto no Recife. Eu digo “Vamos, entre. Vou te contar uma história”.![]()
BERNARDO BRAYNER nasceu no Recife em 1975. Publicou, em 2015, Um animal estranho (e-galáxia) e, em 2017, Nunca vi as margens do Rio Ybbs (Zazie Edições). Integra antologia de escritores latino-americanos da revista alemã Alba com Autobiographie. Seus livros Tudo é grande demais para a pobre medida da nossa pele e O livro dos tubarões estão no prelo.






