
Os pilares do pensamento Freyriano
Leia trecho de 'O Brasil de Gilberto Freyre', obra do ensaísta e escritor Mário Helio, relançada pela Cepe editora
TEXTO MARIO HELIO
ILUSTRAÇÕES JOSÉ CLÁUDIO
02 de Outubro de 2020
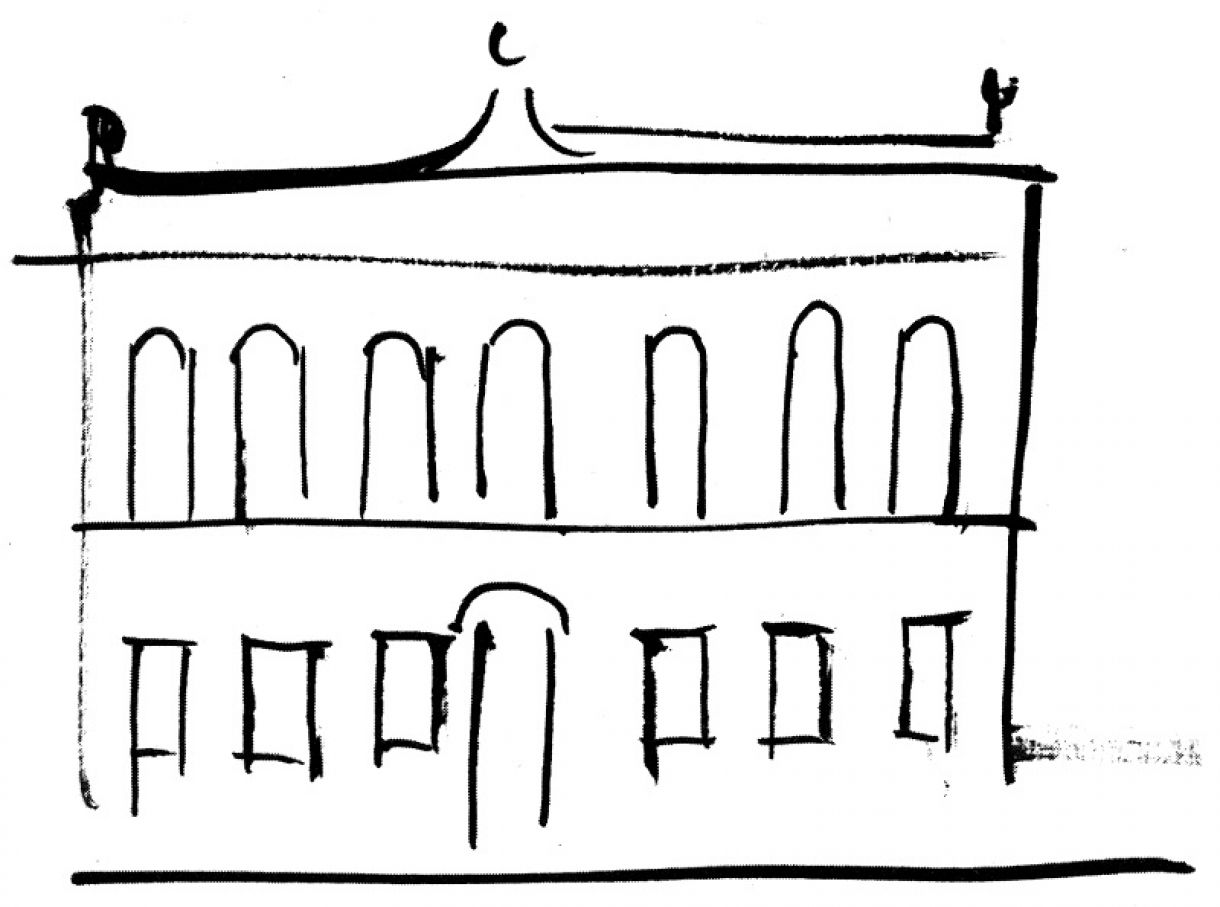
Na obra, publicada há 20 anos, o escritor Mario Helio apresenta os pilares mais importantes do pensamento de Gilberto Freyre
Ilustração José Cláudio
[conteúdo na íntegra | ed. 238 | setembro de 2020]
contribua com o jornalismo de qualidade
A VIDA, EM SUMA
Gilberto de Mello Freyre nasceu no Recife, Pernambuco, a 15 de março de 1900. Os seus primeiros estudos foram feitos com o pai, Alfredo Freyre, e com professores particulares. Não foi um caso de talento literário precoce na infância. Muito pelo contrário. Só a partir dos oito anos é que começou a ler e a escrever. Quando criança, preferia desenhar, pintar e andar de bicicleta.
Mais de uma vez, ele chamou a atenção para o fato de que assinava Freyre com y e não com i (esse simples “i” como muitas vezes preferem grafar, erradamente, o seu sobrenome certos editores de revistas, jornais e até livros). Repetia nisso um seu avô, que queria acentuar antepassados espanhóis. Nessa tentativa de aproximação de origens estrangeiras, Gilberto gostava de referir um distante parentesco bem específico: um certo Gaspar Van der Ley, holandês de sua família.
A adolescência vê brotar nele o intelectual. Aos 13 anos de idade, era redator de um jornalzinho escolar e dava aulas aos seus colegas estudantes. Aos 17 anos, concluiu o curso secundário no Colégio Americano Gilreath, no Recife. O paraninfo da sua turma foi o historiador Oliveira Lima, de quem se torna amigo.
Aos 18 anos, foi estudar nos Estados Unidos, onde bacharelou-se na Universidade de Baylor, no Texas. Em Artes Liberais, com especialização em Ciências Políticas e Sociais. Fez o mestrado em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais, na Universidade de Columbia, em Nova York. A sua dissertação de mestrado intitulou-se Social Life in Brazil in the Middle of the 19th Century (Vida social no Brasil nos meados do século XIX).
Desde o seu retorno ao Brasil, em 1923, ocupou-se em realizar estudos de interpretação da sociedade brasileira, de que são as expressões máximas estes livros: Casa-grande & senzala (1933); Sobrados e mucambos (1936); Nordeste (1937); Um engenheiro francês no Brasil (1940); O mundo que o português criou (1940); Região e tradição (1941); Problemas brasileiros de antropologia (1943); Perfil de Euclydes e outros perfis (1944); Sociologia (1945); Ingleses no Brasil (1948); Aventura e rotina (1953); Ordem e progresso (1959); A propósito de Fades (1959); Vida, forma e cor (1962); O escravo nos anúncios de jornais brasileiros no século XIX (1963); Contribuição para uma sociologia da biografia (1968); e Além do apenas moderno (1973).
Como homem de ação política e cultural, foi oficial de gabinete do governador Estácio Coimbra, de 1926 a 1930. Em 1925, organizou a edição comemorativa do centenário do jornal Diario de Pernambuco a que intitulou Livro do Nordeste.
Em 1926, foi o principal idealizador e coordenador do Congresso Regionalista, de que resultaria um manifesto divulgado em 1952, com ideias opostas e complementares às do Modernismo que irrompera em São Paulo em 1922.
Quando foi deflagrada a Revolução de 1930, exilou-se com Estácio Coimbra, em Portugal, por alguns meses. Em 1934, coordenou o I Congresso Afro-Brasileiro, aspecto exterior da valorização da cultura negra que empreendera um ano antes na sua obra-mestra, Casa-grande & senzala. Nesse mesmo ano, foi, por alguns meses, um dos diretores do Diario de Pernambuco.
Foi deputado federal de 1946 a 1950. Desse período data o seu projeto que criou o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (depois Fundação Joaquim Nabuco), onde, por muitos anos, atuou.
Embora tenha proferido muitas conferências e dado diversos cursos, ao longo de sua vida, jamais quis estabelecer-se na rotina de professor. Tanto que, meio ironicamente, entre as suas autodefinições está a de que era um escritor ordinário e um professor extraordinário.
Como intelectual, elegeu a atividade de escritor acima de qualquer outra, e foi principalmente graças a esta que conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais. Como poucos no Brasil, viveu quase exclusivamente dos livros que escreveu. Foi jornalista durante toda a vida. Jornalista principalmente no sentido de colaborador, articulista, colunista em jornais e revistas do Brasil e do exterior. Recebeu títulos de doutor honoris causa de várias universidades, algumas das máximas condecorações, celebrações e homenagens dentro e fora do Brasil.
Embora fosse sócio-correspondente da Academia Pernambucana de Letras desde os 20 anos de idade, somente no penúltimo ano de vida é que aceitou ser membro efetivo, eleito por aclamação em 1986. Não integrou a Academia Brasileira de Letras, embora sempre houvesse convites para candidatar-se.
Morreu de isquemia cerebral, no Recife, em 1987, na madrugada de 18 de julho, a data do aniversário da mulher, Maria Magdalena Guedes, com quem se casara em 1941.
AS PRINCIPAIS IDEIAS
Muitas vezes polêmica é a obra de Gilberto Freyre. Geralmente, as suas ideias que mais debate ou discordância têm provocado são aquelas que tocam atitudes ideológicas, de métodos, interpretações históricas ou posicionamentos pessoais. Um exemplo disso: apesar de ser amplamente reconhecida a sua valorização do negro, o seu papel na modificação da mentalidade segregadora, hegemônica no meio intelectual, o que escreveu sobre o escravo africano até hoje suscita debates ou mesmo ataques a si.
Antes de serem divulgadas as suas ideias, todos os males do Brasil viriam da raça, segundo a elite. Era o mal de mestiçagem o atraso do país. Em Casa-grande & senzala, tratou de mostrar que não. Que os males do país não vinham da mestiçagem, mas do sistema econômico e social: da monocultura da cana-de-açúcar, da alimentação deficiente, da falta de higiene etc.
De uma visão positiva da mestiçagem como benéfica ao país caminhou rapidamente para uma ideia genérica sobre raça, ou até uma superação desta por interpretações da sociedade em bases culturais e não naturais. Haveria no Brasil ou estava em vias de se formar uma espécie de metarraça, extremamente positiva para o mundo. A morenidade também seria uma dessas glórias nacionais de que tanto se orgulhava de ser o motivador.
É notável a frequência com que Gilberto Freyre escreve sobre raça em seus livros, mas, alerte-se logo, desde o início, para estabelecer aquela distinção entre raça e cultura, aprendida com o antropólogo norte-americano, judeu de origem alemã, Franz Boas. Assim, quando se lê muita coisa sobre o negro, o branco e o índio, o judeu, o mouro nos seus livros, é de cultura que se trata, e não simplesmente da base biológica de raça. Mas isso não quer dizer que não haja dado também ênfase à análise por assim dizer biológica das coisas nos seus livros. Falava até mesmo numa sociologia genética. De modo, porém, interdisciplinar. Realizava uma sociologia que fincava suas bases muitas vezes na biologia.
Gilberto Freyre gostava de definir-se como “generalista”, isto é, alguém com um espírito universal, capaz de discorrer sobre vários assuntos, sem especializar-se propriamente em nenhum. Era-o, não somente no sentido de um espírito universal, de um homem-orquestra, mas naquele sentido menos rigoroso, que era nele uma certa tendência a generalizar. Dessa generalização para o papel da raça e da cultura na formação e caracterização e desenvolvimento do Brasil, rumou para uma muito mais ampla: a de uma espécie de confraternização racial.
Mesmo reconhecendo e enfatizando castigos, até sádicos, péssimas condições de higiene e saúde e outras amplamente desfavoráveis aos escravos africanos, não perde oportunidade de enfatizar o que chama “lado benigno” da escravidão. Ou do tipo de escravidão que, segundo ele, se desenvolveu no Brasil. Destaca a relação de quase compadrio entre senhor e escravo no país. Uma espécie de confraternização, na ênfase que põe na livre capacidade do português de misturar-se com outros grupos étnicos. Não tem dificuldades, por isso, de fazer do episódio secular da escravidão e da divisão do trabalho e de classes no país, que é quase todo a sua história, algo singularmente favorável.
Há nas teorias de Gilberto Freyre sobre as relações culturais e sociais no país uma espécie de carnavalização, ou de generalização carnavalesca. Alguns dos seus intérpretes (como Sérgio Buarque de Holanda) costumavam afirmar que os seus estudos sobre o sistema social e econômico da casa-grande e senzala eram aplicáveis ao Nordeste somente, e ele errava ao generalizar conclusões para todo o país. Mas ele defendia-se com exemplos e interpretações mais complexas e sutis do que extrapolava aspectos tão somente econômicos e exteriores, e alcançava o próprio simbolismo, a própria mentalidade do Brasil.
Além dessa indiscutível tendência à generalização, os seus críticos costumam apontar como um vício do seu pensamento apoiar-se, em grande parte dos seus escritos, preferencialmente nas “testemunhas oculares” dos viajantes estrangeiros. Mas quando o faz às vezes sublinha, talvez com excessiva preferência, os depoimentos positivos sobre as condições dos escravos no Brasil em relação aos negativos. Outro aspecto problemático de origem nos seus métodos é a frequência com que compara a situação das colônias portuguesas em contraste com outras de trabalho anglo-saxão, principalmente.
Se tinha o gosto pelo pioneirismo (por ser desvirginador de temas, fontes ou métodos), animava-o mais ainda abordá-los de modo original. Daí talvez muitos dos aspectos controvertidos do que escreveu. Vira muitas vezes as ideias de pernas para o ar. É um mundo de ponta-cabeça que muitas vezes traz com seus livros. Por inversão ou dialética, como num processo algo musical de jogar e confrontar os temas com os outros, em busca de harmonias inesperadas. Isso desde os seus primeiros trabalhos.
De uma coisa certamente podia orgulhar-se: nunca foi um maria-vai-com-as-outras em matéria de pensamento. Os erros e acertos eram méritos seus. Nas suas ousadias confiava muitas vezes mais na sua própria intuição ou em deduções frutos de sua empatia do que nos procedimentos convencionais. E numa capacidade de abrir-se à discussão, que foi bem-destacada por Sérgio Buarque de Holanda, em Tentativas de mitologia: “Uma das virtudes de Gilberto Freyre, e que contribui para singular importância de seus ensaios, está em que convida insistentemente ao debate e provoca, não raro, divergências fecundas”.
O BRASIL EM 1900
Quando Gilberto Freyre nasceu, em 1900, viviam no Brasil pouco mais de 17 milhões de pessoas, com cerca de 64% delas morando no campo, segundo estimativas informadas por Edilberto Coutinho, no livro Gilberto Freyre, coleção Nossos Clássicos, da Editora Agir.
Era o Brasil, no começo do século XX, um enorme país de jecas-tatus que, aos poucos, se urbanizava. Com isso, costumes bucólicos como passear a cavalo ou caçar nas matas iam desaparecendo e, também, outros divertimentos rurais, como a Cavalhada.
A capital do país, o Rio de Janeiro, contava mais do que o dobro da população de São Paulo (240 mil), e era o lugar com o maior número de indústrias. No Recife — considerada então a terceira mais importante cidade do Brasil — viviam 113.106 mil habitantes.
A elite culta mantinha o francês como segunda língua e gostava de regata. O poeta Olavo Bilac era um dos intelectuais que escreviam sobre as vantagens do “exercício do remo”. Outro esporte, de origem inglesa — o foot-ball — começava a popularizar-se nesse tempo, “com característicos dionisíacos mais acentuados que os apolíneos, do jogo inglês”, no dizer de Gilberto Freyre. A capoeiragem declinava.
Os chiques se encontravam no five o’clock tea (tradicional chá das cinco horas da tarde), nos salões de clubes, nas festas religiosas, nos teatros (onde era costume usar-se binóculo).
Escolas de aprendizes e ofícios foram iniciadas nesse tempo. A palmatória era de uso universal nas escolas. A chibata empregava-se na Marinha de Guerra.
A grande maioria dos brasileiros era católica (é desse tempo o início da devoção por Nossa Senhora de Lourdes e Santa Terezinha) e imaginava ser branca. O escritor Josué Montello comenta em suas memórias algo que ilustra bem esse tempo:
Se hoje existe uma consciência negra, tendente a contrapor a raça negra à raça branca, essa consciência, com a preocupação de demarcar o seu espaço e afirmar-se etnicamente, não existia na São Luís de 1915, cenário e tempo de meu romance. O que ainda prevalecia era o ideal da branquitude, expresso no ditado lembrado por Gilberto Freyre em Sobrados e mucambos: quem escapa de negro, branco é. Ser branco correspondia a ser livre. A ter direito à ascensão social. A dispor de condições favoráveis para essa ascensão.
Esse homem livre viajava em bondes, enquanto via circulando timidamente os primeiros automóveis (no Rio de Janeiro, o primeiro carro particular foi licenciado em 1903, e não havia mais do que seis veículos nesse ano. Dez anos depois, seriam pouco mais de seiscentos). A velocidade máxima permitida: 10 km/h, na zona urbana, e o dobro disso na suburbana e rural. Apareciam os primeiros “carros de praça” (futuramente chamados táxis).
Nesse tempo, o “chefe da estação” de trem do interior cumpria funções múltiplas, e não apenas de controlar os trens que passavam. Fazia ligações telefônicas, passava e recebia telegramas. Além de acolher mercadorias, bagagens e correspondências pessoais. “Seu papel sobrepõe-se às vezes ao do delegado de Polícia — e outras autoridades locais”, como informa Ademar Vidal.
A moda não dispensava o chapéu (de coco, de palha ou do Chile), que desbancava a cartola. As senhoras de idade usavam um chapéu vitoriano chamado capota. As ricas preferiam écharpe; as pobres, o xale. Substituía-se o carmim pelo rouge na maquilagem delas.
O paletó-saco vencia o fraque, que ainda estava em uso, como a sobrecasaca e o colete. O vaidoso homem gostava do “chapéu Borsalino (a 20$ mil réis), colarinho e punhos de linho, gravata plastrom, larga, e bengala completam o traje dominante nas rodas chiques”. O charuto substituía o rapé. Generalizava-se o uso da capa de borracha e das galochas.
O Carnaval substituía o entrudo. No lugar do mela-mela, surgiam confetes, serpentinas e bailes de máscaras. O corso era um dos divertimentos mais típicos desse período. Informa Delso Renault sobre esses divertimentos, nos primeiros anos do século XX, no Rio de Janeiro:
A Avenida Beira-Mar proporciona novo hábito de lazer e divertimento à população: o corso. Às quartas-feiras, às 17 horas, moças, rapazes, crianças, casais idosos, passeiam pela orla da praia. A descrição do repórter do Correio da Manhã nos mostra o que é este entretenimento, que soaria anacronicamente ridículo nos dias atuais, com os carros em disparada na via pública, ou estacionados sobre a calçada: “Nos carros e automóveis está o mundo chic, estão os representantes da grande sociedade, da alta roda, onde tem emprego uma legião de termos estrangeiros: smart, snob, up-to-date etc.”
Ir ao circo era diversão frequente. Era comum uma banda de música nas praças públicas e pátios de igrejas, com seus típicos coreto e retreta. O poeta Augusto dos Anjos, estudante da Faculdade de Direito do Recife nos primeiros anos do século XX, diz, em carta de 27 de fevereiro de 1903, à mãe, “Sinhá Mocinha”, como enfrentou o Carnaval daquele ano:
Os três dias de Carnaval nesta capital foram festivos, alegres, esplendorosos. Profusão de clubes carnavalescos, os Filomomos, Caraduras etc., confete, bisnaga, serpentina, danças, e, no entretanto, eu diverti-me pouco. O que é afinal o divertimento? Uma fenomenalidade transitória, efêmera, o que fica é que é a saudade. Saudade! Ora, eu não estou disposto a ter saudade.
A vida social (ou mundana, como se dizia, então) se fazia nos clubes, teatros e festas. Também o hábito de frequentar as praias começava a ser uma prática de lazer, apesar de ainda predominarem as viagens às casas de campo nos arrabaldes e interior. Era um mundo que se movia num tempo lento e largo. Irrompia uma nova classe: a burguesia de comerciantes, fazendeiros, industriais, pequenos e médios proprietários, que recebia os seus convidados a doce e vinho do Porto, em salas em que expunha os seus retratos em molduras douradas.
A República engatinhava. Os negros libertos iludiam-se de um igualitarismo que logo saberiam ser apenas formal. Os operários enfrentavam condições possíveis de vida muito precárias, e vitimavam-se de alcoolismo e tuberculose. Ambientes escuros e de parca ventilação por mais de 12 horas diárias de trabalho: uma rotina para eles. Crianças e mulheres grávidas também eram exploradas. Evaristo de Moraes Filho, apoiado em tese de Raul Sá Pinto, informa que “o operário, nas suas atuais condições de vida, dizemos e havemos de repetir, não morre naturalmente: é assassinado aos poucos”.
Muitas greves irromperam nos grandes centros como o Rio e São Paulo. “Essas greves obtiveram êxito em sua maioria, apesar da repressão policial, que chegava aos extremos da maior violência. Garantia-lhe um Delegado que elas (as greves) teriam de acabar, ‘fosse como fosse’. Aqueles anos foram de grande agitação social, já conscientes os trabalhadores de que eram vítimas de grave injustiça social. Protestavam, reivindicavam o direito a uma cidadania plena, e não mais a uma cidadania meramente marginal, de segunda classe.”
Para José Veríssimo, “política e socialmente, a situação do proletariado é ao cabo do século XIX a mesma que a do terceiro estado no final do século XVIII; são idênticas as suas aspirações, as suas necessidades e as suas reclamações.”
Era grande o interesse pelo positivismo e o socialismo em intelectuais como José Veríssimo, Medeiros e Albuquerque e Olavo Bilac. Este último chegou mesmo a divulgar um ensaio em 1907 dando conta de que o socialismo seria “a doutrina política do século XX ou XXI”. Nada mau para um país que em 1880 “ainda não tinha povo”, na visão do médico francês Louis Couty (1854-1884), que viveu no país de 1879 a 1884. Disse ele, como Gilberto Freyre repetiria a respeito dos ingleses, que “a situação dos escravos no Brasil era melhor do que a dos operários ou empregados domésticos na França”, como lembra Katia M. de Queirós Mattoso, na apresentação da edição brasileira do livro A escravidão no Brasil (Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988).
O último ano do século XIX foi marcado por transições e modernizações. Era época de crise, não de exuberâncias. Carência de moradias, e excesso de mau planejamento urbanístico. Os poucos meios de transportes transitavam pelas ruas sujas e estreitas das capitais. Não havia calçamento. A falta de higiene era quase completa em cidades com os serviços de esgoto e abastecimento de água muito precários. O poeta Augusto dos Anjos foi uma das vítimas da insalubridade do Recife, como relata numa carta de 1907:
A minha saúde de há uns 15 dias mais ou menos não tem sido muito boa, por me haverem aparecido umas cólicas intestinais, que atribuo às péssimas condições de potabilidade da água, aqui no Recife. Em todo o caso, não é moléstia para inspirar cuidados e espero em breve estar completamente restabelecido.
Desse tempo feito de tempos é a primeira substância teórica da obra de Gilberto Freyre, esteio febril de insolvências e sobrevivências. De contradições e conciliações muitas vezes extremas. Foi em 1900 (ou em torno de) que Freyre flagrou o surgimento de hábitos os mais brasileiros e substituição de outros. Fez quase um inventário disso no seu livro Ordem e progresso — Processo de desintegração das sociedades patriarcal e semipatriarcal no Brasil sob o regime de trabalho livre: aspectos de um quase meio século de transição do trabalho escravo para o trabalho livre; e da Monarquia para a República. Aliás, o primeiro título que pensou para esse livro foi justamente 1900, somente depois optou pela síntese de um tempo ancorada na divisa positivista. Na “tentativa de síntese”, o autor faz um inventário de algumas das principais mudanças e conquistas do Brasil na passagem do século XIX para o XX.
Nascido nessa época que ele mesmo chamou “de transição e de modernização”, Gilberto Freyre flagraria e anotaria mais tarde diversas alterações nos usos brasileiros: até àquele tempo, a higiene nas casas era feita depositando os dejetos em latrinas de barril, penicos e “tigres”. Foi a partir desse tempo que começaram a ser usados water closet (w.c.) e bidet. Outro objeto muito comum nas salas de visitas das residências — a escarradeira — tinha os seus últimos dias de uso. Começava-se a usar a gilete e substituíam-se as ceroulas compridas pelas curtas.
O telefone dava os seus primeiros vagidos. O telégrafo era o meio de comunicação regional e internacional no país. Os telefones já se contavam às centenas (eram mais de 13 mil no Rio de Janeiro, em 1908). Os jornais faziam as primeiras entrevistas e reportagens, e inauguravam as seções pagas. Os folhetins conheciam os seus maiores dias de glória. Nascem nesse tempo os cronistas sociais que registravam a vida “mundana”, como se dizia então.
O cinema (ou melhor, o cinematógrafo) começava a tornar-se uma das maiores diversões. Mas ainda era mudo. O único som que se ouvia, além do da própria plateia, era o do piano que acompanhava os filmes. Como diz Moraes Filho:
Das reuniões em confeitarias ou bares que se tornaram comuns no Rio de Janeiro do final do século XIX e começo do atual, dizia Oliveira Lima que servem para minar a vida em sociedade; ao que Gilberto Freyre acrescenta, comentando tal observação, que o que estava perturbando a vivência ou a convivência social era o cinema, o cinematógrafo, que começa a surgir justamente naquele momento. O que evitava visitas, encontros e até mesmo o próprio chá, nos fins de tarde. A atração do cinema começa a matar o encontro social, essa convivência que não raro respeitava amizade, aproximava família, fazia casamentos.
Informa ainda o mesmo autor:
Abre-se também a presença social em restaurantes, e não apenas em clubes ou teatros. Horas de chá, por exemplo; horas de chá ou de outras refeições eram oportunidades de encontros elegantes. Não havia o hábito de refeições em restaurantes ou clubes. Era de bom-tom social, porém, o lunch, o chá no final da tarde. Em torno da mesa do chá nos restaurantes e confeitarias, havia como que um desfile de modas e de elegância. Restaurantes ou confeitarias quase sempre de estrangeiros, que procuravam implantar no Rio costumes e hábitos europeus. Um deles, o Provençaux, francês.
Nos meios elegantes, substituía-se “o presepe pela árvore de Natal e o Menino Deus pelo Papai Noel”.
No campo das artes, era época da criação das academias de letras e de medicina. Da profusão das conferências literárias. Uma verdadeira febre, que chegava por vezes a suplantar o teatro lírico e a receber sátiras, pelo excesso, como esta publicada no jornal de humor Fon-Fon:
Este o grupo alegre e competente
Simpático e arguto,
Que em sábados de sol seduz a gente
Na linda sala do nosso Instituto.
Merecem todos nossas reverências,
Pois todos são queridos e capazes.
Mas... digam cá, rapazes:
Faltam ainda muitas conferências?
Nesse tempo também cristalizam-se determinados brasileirismos anotados por Gilberto Freyre: guarda-pó, tela de arame nos guarda-comidas “no lugar da porta de madeira”. Porta-retrato. Cadeira de balanço, mosquiteiro, espreguiçadeira de lona, “mesa de jantar de elástico, com três ou mais tábuas de reserva”. Lustre de cristal. Biscuit, candeeiro belga, bibelot. Estatueta de bronze. Pistola Mauser e revólver Colt.
O hábito de tomar um cafezinho adquire-se nesse tempo e o de jogar no bicho (inclusive o das superstições de sonhar com os números certos para as apostas). Da Loteria Federal.
Cem anos depois, o superpovoado e urbaníssimo país do Carnaval e do futebol parece todo ser outro. Isso, porém, é ideia enganosa. É possível, nos poucos exemplos dados, ver quanto ainda sobrevive do século passado e se prolonga no que vem.
Homem nascido na transição de um século a outro, Gilberto Freyre não considerava que houvesse tempo completamente morto. O passado estava contido numa espécie de presente contínuo ao futuro, numa plena relação de pertença e pertinência. O que muda por fora nem sempre se transforma por dentro. Evidentemente, a força dessa ideia de que não há passado morto não é a sua originalidade (expressa por diversos autores que vão de Agostinho a Faulkner), e sim pelo seu uso instrumental. Como diz Joel Serrão:
Claro está que as diferenças de sensibilidade, de pensar, de querer entre um homem do Renascimento e um do nosso tempo são bem mais demarcadas que as existentes entre um homem de 1870 e outro de 1950. No primeiro caso, entre os dois marcos cronológicos, elaborou-se toda a filosofia moderna, a ciência nasceu e alargou o seu campo, a técnica transformou as condições de vida do homem com a primeira e a segunda revolução industrial. No segundo, porém, nesse período de 80 anos, algo terá acontecido que cavasse abismos entre o avô e o neto? Algo terá acontecido que tenha tornado difícil, e tarefa de historiador, a vida, com os nossos olhos de 1950, dos acontecimentos de 1870? Eis dificuldades de não pequena monta.
Desse modo, para saber o Brasil como o viu e reinventou Gilberto Freyre é preciso responder: em qual tempo o situa? E logo perceber que a história que ele conta nunca está só atenta aos acontecimentos. Quer compreendê-los, estabelecer correlações. É antes a sociologia contaminada de ilações psicológicas. De interpretações livres e até anárquicas. Esse país está situado num tempo plural, mas ironicamente uno. O como foi denomina o devir e também determina o de onde veio, mais do que um simples quando. De um ponto de vista extremamente sintético e redutor, pode-se dizer que o Brasil como visto e recriado por Gilberto Freyre é uma invenção mais da religião que da raça. Mais da família que do indivíduo.
Quem é o brasileiro? A essa pergunta responde-se com a segunda das suas teorias mais importantes: um homem situado. Dos trópicos. O espaço corresponde ao tempo. O clima e as raças afetam a língua. A cultura dirige as etnias e os meios. Desse modo, a história do Brasil como a propõe Gilberto Freyre é mais ecológica do que cronológica, no plano puramente exterior. Mas o que pretende é mais: história orgânica. Daí o seu caráter radiográfico. Por isso vai às “entranhas” e “vísceras”. Quer investigar as estruturas. A intimidade.
Em que ambiente viveu Gilberto Freyre? Como eram os tão ricos esses anos 1920, que o pintor Cícero Dias chega a dizer que não houve época igual? O historiador Thomas Skidmore lembra que esses anos 1920 e 1930 foram de
tentativa de definição da identidade nacional brasileira. (....) Esses anos também viram os Estados Unidos começarem a desafiar a França como influência cultural estrangeira predominante. A cultura popular norte-americana, alimentada por uma crescente inundação de programas de rádio, discos e filmes de Hollywood, criou um fascínio para os brasileiros urbanos. Essa batalha contra a vassalagem cultural do país é o pano de fundo do surgimento de Gilberto Freyre, o historiador-sociólogo, como o mais famoso intérprete da identidade nacional brasileira no século XX.
Gilberto Freyre viveu o Brasil do início do século XX.
Foto: Reprodução
OS ANOS DE APRENDIZAGEM DE GILBERTO FREYRE
“Sou de uma família inteira de gente de pouca imaginação”. Era o que dizia Gilberto Freyre, adolescente, inseguro, preocupado em não ser mais um medíocre como os do seu meio. Ou mais: tentando ser herói. Procurando fazer de si essa imagem. Pessoas de bem, mas insignificantes, era como definia os seus ancestrais.
Ele, que faria da família brasileira o primeiro grande tema de sua investigação, era muito apegado à sua. Apesar de ter nascido com aquela “face diferente” a que se refere Blake num poema.
Houve muita colaboração entre pai e filho. Solidariedade. Cumplicidade, até. O velho Freyre nunca poderia, como no singelo poema de Joyce, ler: “Ó, pai esquecido, perdoa teu filho”. Nem Gilberto teve queixas dos cuidados do pai. Houve, naturalmente, desentendimentos, e uma evidente superação do pai pelo filho.
Gilberto Freyre, que faria da conferência uma autêntica obra de arte, na maturidade, estreou como conferencista aos 16 anos de idade, e às ocultas, na Paraíba. Spencer e o problema da educação no Brasil, segundo o seu próprio relato, fez tanto sucesso que os promotores não acreditaram ser trabalho seu. “Deve ser obra do pai”, disseram sobre ele que, pouco tempo depois, se orgulharia de haver ajudado a escrever a tese do pai, Alfredo, para professor catedrático da Faculdade de Direito do Recife.
A verdade é que meu pai nem sequer soube da conferência. Repito que fui à Paraíba quase fugido de casa. Quase secretamente. Hospedei-me no sobrado dos Lemos, na Rua Direita. Toda manhã saía de toalha no ombro, com o Osvaldo Lemos, pela rua principal da cidade, a fim de tomar banho num banheiro semipúblico. De toalha no ombro e de chinelos. É um lugar pitoresco a Paraíba.
Longe estava Gilberto Freyre de sentir-se satisfeito com o Recife acanhado dos primeiros anos do século XX. “Neste pobre Recife não há hoje senão inimigos do indivíduo que quer se aprofundar no seu saber.” Seria a cidade já nessa época a capital da inveja, da conhecida boutade atribuída a Oliveira Lima, de quem Gilberto já se tornara nesse tempo amigo?
Além do historiador, só respeitava intelectualmente, no Recife dos anos 1910, Alfredo de Carvalho, Aníbal Fernandes e alguns poucos. Mas a Oliveira Lima foi quem escolheu para ser uma espécie de mestre, e o convidou para ser paraninfo de sua turma quando se formou no Colégio Americano Gilreath. Gilberto Freyre, que foi o orador da turma, editou um jornalzinho no colégio, O Lábaro, que era um tributo à sua segunda ou primeira grande admiração: Joaquim Nabuco.
Ainda adolescente, teve arroubos místicos. Converteu-se em pregador protestante. Numa dessas incursões, teria assistido a doentes em sua hora da morte, como conta no livro autobiográfico Gilberto Freyre, que foi assinado pelo seu primo Diogo de Mello Menezes.
Um velho funileiro da Torre, estando para morrer tuberculoso e deitando sangue pela boca, fez questão de ter junto à sua mísera cama-de-vento o rapazinho já com fama de sábio. Foi uma morte que impressionou Gilberto, a desse pardo velho, que pedia ao adolescente que lhe lesse certo trecho do evangelista João, que repetisse a leitura em voz bem pausada. Até que disse: “Basta, menino. Já ouço música de pancadaria. É Jesus”. E morreu. O velho funileiro pardo morreu nos seus braços, a família do pobre e Gilberto cantando um hino traduzido do inglês: “Mais perto quero estar, meu Deus, de ti”. Junto do velho, a bacia cheia de sangue. E o menino branco, o menino fino que ajudava a morrer aquele pobre de mucambo, era um menino criado com mimos e cautelas, muito resguardado de doenças menos perigosas que a tuberculose.
Nota-se, neste trecho, mais uma incursão de Gilberto Freyre na criação de uma imagem heroica de si para si, como aparece em diversas passagens de seu diário de adolescente. Em trechos ainda mais surpreendentes, como aquele em que conta o seu trabalho como evangelista, com 17 anos de idade. O episódio teria sido na igreja batista da Rua Formosa, e resultado de um discurso que ele intitulara O Cristo do Evangelho e o Evangelho do Cristo:
Perguntei quem queria, dos presentes, manifestar de público o desejo de seguir o Cristo do Evangelho que eu acabara de evocar: um Cristo capaz de ser companheiro, guia e redentor dos homens transviados, fosse qual fosse sua condição intelectual ou social ou moral. Quem estivesse disposto a dar este sinal de querer seguir o Cristo, independente de filiação a igrejas ou a grupos ou seitas, que viesse apertar-me a mão. Veio muita gente humilde. Mas, para surpresa geral, muita gente ilustre. Veio o velho João Vicente, advogado austero. Veio seu filho, dipsomaníaco. Veio Cristiano Cordeiro, considerado um dos maiores talentos novos da Faculdade de Direito. Veio Orlando Dantas.
Depois desse ímpeto cristão, já concluídos os estudos secundários, foi realizar cursos superiores num país protestante, numa universidade batista, do Texas, Estados Unidos. Ou a Outra América, como definiria o país e usaria para intitular a coluna que manteria durante algum tempo no Diario de Pernambuco. Aos 18 anos de idade chegava aos Estados Unidos. “Um homem sem fortuna e um nome por fazer”.![]()
MARIO HELIO é jornalista, escritor e poeta. Mestre em História pela UFPE e doutor em Antropologia pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Além deste O Brasil de Gilberto Freyre, publicou outros dois livros sobre o Mestre de Apipucos: Casa-grande & senzala — O livro que dá razão ao Brasil mestiço e pleno de contradições e Gilberto Freyre: Educador.







