
Cinema e reflexões filosóficas
Leia trecho de 'Celso Marconi – O senhor do tempo', assinado por Luiz Joaquim, que faz parte da coleção perfis da CEPE editora
TEXTO Revista Continente
01 de Setembro de 2020
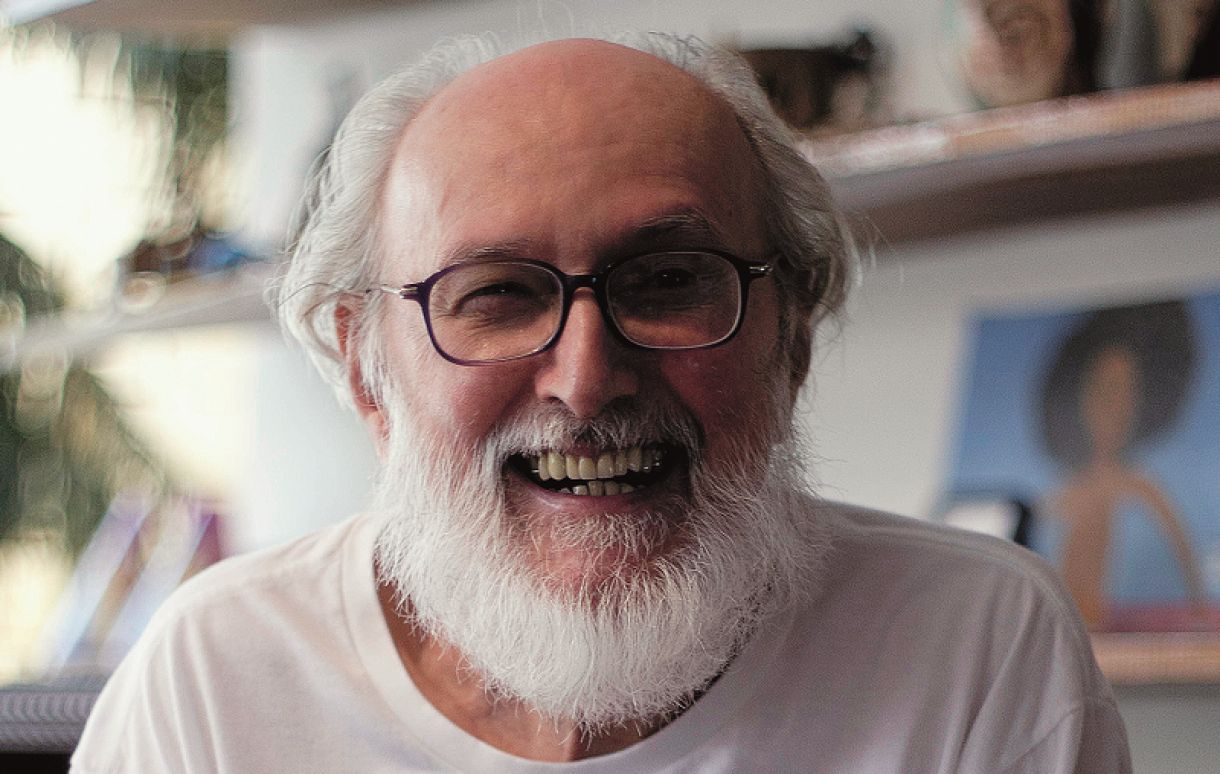
[conteúdo na íntegra | ed. 237 | setembro de 2020]
contribua com o jornalismo de qualidade
O livre pensar
Nos seres vivos, a célula eucariótica é formada por três elementos constituintes: a membrana celular, o citoplasma e o núcleo. Como qualquer estudante toma conhecimento já nas primeiras aulas de biologia, as células atuam de maneira integrada, como uma sociedade na qual todas têm uma função colaborativa entre si, com a divisão do trabalho definida para que o organismo do qual fazem parte como um todo funcione corretamente.
Foi também numa das primeiras aulas do preparatório para o vestibular de Medicina que o professor iniciou o tema, pondo em destaque a soberania do núcleo sobre a membrana e o citoplasma, dentro da escala de importância dos elementos da célula. Mal falou isso e um aluno franzino levantou a mão para contestar. Dada a palavra, Celso Marconi começou a problematizar essa hierarquia. Argumentou que não era possível que a membrana e o citoplasma tivessem seus valores minimizados ou mesmo não reconhecidos diante do núcleo. Questionou como o núcleo funcionaria sem os outros dois elementos e exigiu explicações do professor para tamanha desconsideração e desequilíbrio na distribuição de forças num sistema que deveria ser igualitário.
A resposta do professor deixou o aluno com uma pulga atrás da orelha:
— Meu rapaz, você não deveria estar aqui. Por que não procura o preparatório para cursar Direito?
Diante da provocação, Celso precisou admitir para si mesmo que os temas da medicina lhe eram um tanto difíceis de assimilar. Resolveu seguir o conselho e aplicou-se no preparatório para se tornar um profissional da Justiça. Tudo ia sob controle até o exame oral final. Celso foi sumariamente reprovado e, apelando para a segunda chamada do exame, recebeu o mesmo veredito, do mesmo professor: reprovado. O estudante chegou a pedir a intervenção de um amigo da família, o promotor público José Pessoa de Morais, para tentar revisar o exame, mas não deu jeito. O jeito que deu foi se candidatar ao curso superior de Filosofia. O que deu certo, e não se revelou um infortúnio. Para Celso, ao colocar na conta seu modo irrequieto e questionador, estudar filosofia seria como ir a um parque de diversões do intelecto.
Desde que voltara do Rio de Janeiro, não apenas Celso estava mais amadurecido. A sua própria cidade natal vinha passando por uma transformação cultural. O Recife parecia buscar, muito instigado pela imprensa, ser reconhecido, no início dos anos 1950, não só como a terceira mais importante cidade do país, ficando atrás apenas da capital federal e de São Paulo, mas ser também validado como um centro urbano pulsante no que concerne à produção artística e à reflexão dessa produção. E o cinema, expressão artística de galopante prestígio ao redor daquele mundo pós-guerra, aparecia como ponto de destaque naquelas reivindicações.
Pelos jornais, era possível conferir o desassossego de cronistas influentes como José de Souza Alencar, no Diario de Pernambuco, lembrando aos seus leitores, em 17 de junho de 1951, o quanto era absurdo que a terceira cidade do Brasil, centro de progresso e cultura que influencia e orienta o Nordeste, com 534 mil habitantes, serviço de táxi, brevemente a televisão e tanta coisa mais que pode credenciá-la como verdadeira metrópole, deixe-se apanhar inativa e conscientemente por uma nova praga, não de gafanhotos, como sempre acontece, mas de maus filmes.
O jornalista se referia ao recente contrato firmado entre a gerência dos cinemas Art Palácio e Trianon com a Pelmex, distribuidora de melodramas mexicanos que passaram a ocupar a programação das duas preciosas salas. Com o contrato, a expectativa do cronista era, como espectador, acessar obras do ator, diretor e roteirista Emílio Fernandez e do mítico fotógrafo Gabriel Figueiroa, realizadores que gozavam de prestígio artístico no México e fora dele. Se assim fosse, a novidade oxigenaria a habitual programação cinematográfica da capital pernambucana, permeada pelas produções em massa de Hollywood.
Um ano antes, em 9 de março de 1950, dera-se um encontro na Discoteca Pública Municipal da Diretoria de Documentação e Cultura do Recife (Edifício dos Bancários, na Avenida Guararapes) com personalidades do naipe de Hermilo Borba Filho, Jota Soares e Firmo Neto, entre outros, além do presidente Laurentino Lima, para estabelecer aquilo que iniciaria uma renovação no campo da difusão e apreciação cinematográfica na cidade. Foi fundado ali o Clube de Cinema do Recife. E, já na última sexta-feira do mês seguinte, a organização apresentou à sociedade o Festival de Cinema Pernambucano numa sessão às 20h, com os filmes Aitaré da praia, de Gentil Roiz, e Jurando vingar, de Ary Severo. Até que, em 9 de maio, o Clube anunciou a primeira das sessões regulares para sócios com Três dias de amor, obra que deu a Réné Clément o título de melhor diretor no Festival de Cannes de 1949.
Apesar da generalizada percepção positiva da imprensa sobre as sessões do Clube de Cinema, seus associados penavam para agregar sócios e reunir recursos suficientes com a finalidade de conseguir trazer ao Recife as raras cópias em 16mm de títulos como Hamlet, dirigido por Laurence Olivier. Essa última, projetada e debatida por Laurentino Lima onde regularmente ocorriam os encontros do Clube de Cinema: no Cinema do Derby. A sala era um espaço valioso pela parceria que mantinha, disponibilizando sessões aos sábados, com acesso pela Rua Betânia ao anexo do quartel naquele bairro. O espaço foi basilar na iniciação de Celso Marconi, que ali percebia o cinema também como uma ferramenta de reflexão filosófica. Foi no Cinema do Derby, curioso pelo que lia nos jornais a respeito das agitações cinematográficas da cidade, que teve contato pela primeira vez com obras já clássicas como Sangue de um poeta, de Jean Cocteau, A última gargalhada, de Murnau, e A paixão de Joana D’Arc, de Carl T. Dreyer, entre outras.
À medida que o Clube de Cinema seguia cambaleante com seus problemas financeiros, em meados do ano seguinte surgia o Cine Clube Vigilanti Cura do Recife, com sessões ocorrendo nas noites de sábado e, eventualmente, nas segundas e terças-feiras, no endereço do Círculo Católico, número 105 da Rua do Riachuelo. Criado pelo casal Marilda Vasconcelos e Lauro Oliveira e sob direção de Valdir Coelho, o Vigilanti Cura era fruto do Serviço de Cinema da Liga Operária Católica e suas atividades não se resumiam a sessões com debates. Realizavam também cursos de cinema e palestras, além do Círculo de Estudos Cinematográficos que “vem contribuindo para formar uma equipe de críticos e de bons espectadores de filmes”, conforme apontou o cronista Luís de Andrade em 9 de outubro de 1952 (assinando apenas como L.), em sua coluna diária Mundo de luz e som, no Diario de Pernambuco.
Ao lado de José de Souza Alencar no Jornal do Commercio, Luís de Andrade era um dos nomes mais determinantes para a crônica de cinema no Recife de então. Conhecido como um veterano que deixou o ofício na década anterior, retornou em 1951, com seus textos estimulando a cidade a perceber a importância do cinema para a sociedade. Além de assinar como o misterioso L., utilizava-se também dos pseudônimos Luiz Ayala e Luís Aiala para os jornais Diário da Noite e o vespertino Folha da Manhã.
L. chamava a atenção para o fato de que, na passagem do ano de 1951 para 1952, seis nomes, além do dele, esquentavam as páginas dos periódicos locais assinando crônicas de cinema com regularidade. Eram Alencar/Ralph (Diario de Pernambuco/Jornal do Commercio e Diário da Noite), Paulo Fernando Craveiro (Folha da Manhã), Ângelo de Agostini (Jornal Pequeno), Alexandrino Rocha (no semanário O Dia e, posteriormente com o pseudônimo Renata Cardoso na Folha da Manhã), e Mauro (Folha da Manhã, além do Jornal do Fãn, que dirigiu por pouco tempo). Em 1953 surgiria, regularmente, Duarte Neto (Folha da Manhã), ajudando ainda Alexandrino a escrever os textos provocadores contra os próprios colegas, que saíam com a assinatura de Renata Cardoso.
Cada vez mais interessado na complexidade das proposições destiladas nos jornais a partir de filmes, e cada vez mais assíduo nos encontros no Clube de Cinema, Celso passou também a frequentar como espectador, em 1952, as sessões no número 105 da Rua do Riachuelo. Lá descobriu um eloquente e articulado adolescente de 15 anos, chamado Jomard Muniz de Britto. Com ele fundaria uma imediata, fecunda e, por que não dizer, revolucionária amizade que desafiaria, inclusive, a virada do milênio.
Naquele ano, o prodigioso adolescente integrava o Círculo de Estudos Cinematográficos. Ali, Marilda Vasconcelos monitorava os jovens numa atividade que funcionava como um braço do Vigilanti Cura e Jomard a acompanhava nas escolas católicas da cidade. Uma vez nelas, trabalhavam naquilo que batizaram de Cine-Fórum. O plano era, conforme escreveu Valdir Coelho na coluna de L. do Diario de Pernambuco: fazer, antes da exibição, uma ligeira apresentação da película. Após a sessão, o monitor estimula e dirige o debate com os presentes sobre os aspectos técnico, moral e educativo do filme. Essa prática contribui para que, na massa dos espectadores, o Cinema com C maiúsculo passe a ser considerado, olhado com respeito e estudado.
Com tanta movimentação na cidade em função do cinema, outras instituições resolveram unir forças para promover algo maior. A Associação Cultural Franco-Brasileira e a Diretoria de Documentação e Cultura do Recife, em parceria com as três instituições intelectuais mais ativas da cidade empenhadas em propor reflexão cinematográfica — os cronistas, o Clube de Cinema e o Vigilanti Cura —, partiram para produzir, unidos, o evento cinematográfico que modificaria para sempre (e para o bem) o hábito do recifense a respeito de consumir cinema autoral. Seria a concretização de algo para o qual tantos vinham se esforçando, fosse pelos artigos, pelas sessões seguidas de palestras ou pelos cursos oferecidos. Era a Semana do Filme Francês, agendada para iniciar no domingo, 24 de agosto, com abertura no Cine Palácio da Rádio Clube do Recife, exibindo Les parentes terribles, de Jean Cocteau, antecedido pela apresentação de Jean Orecchioni, o coordenador do curso de francês da associação promotora da Semana.
Mas algo que surpreenderia todo o Brasil estava para acontecer no dia da inauguração do evento. Enquanto Orecchioni, na noite do sábado, 23, revisava em casa suas anotações sobre o filme de Cocteau, no Palácio do Campo das Princesas o governador Agamenon Magalhães jantava uma inofensiva omelete às 21h30, retirando-se para dormir às 23h. Duas horas depois acordou com um forte mal-estar que, não demorou muito, revelou-se um fatal infarto no miocárdio que encerrou ali a sua vida, aos 58 anos de idade. A notícia espalhou-se como água e o domingo foi de comoção no Recife. O que impossibilitou, logicamente, a inauguração da Semana do Filme Francês naquela data.
Adiada para o domingo seguinte, o último do mês, a obra de Cocteau finalmente pôde abrir a Semana e ser conferida por uma plateia que, às 16h, lotava o Cine da Rádio Clube. Nos dias seguintes, foram projetados — sempre às 20h, no Gabinete Português de Leitura —, La bête humaine, de Jean Renoir, com o documentário Les chateaux de la Loire, sob apresentação de José Césio Regueira Costa; Les dames du Bois de Boulogne, de Robert Bresson, com o documentário Barrage de la Girotte, acompanhado dos comentários de Jorge Abrantes (Clube de Cinema); Le ciel est à vous, de Jean Grémillon, mais os documentários Le Vampire e L’Effort Medical Français, sob apresentação do cinegrafista Romain Lesage; La Belle et la Bête, de Jean Cocteau — substituindo Orphée —, além de um documentário colorido sobre Paris, com as palavras de apresentação de André Gustavo Carneiro Leão (Cine Clube do Recife); alguns documentários de assuntos diversos, com comentários de Alencar; e, fechando a Semana, outros documentários sob apreciações de Paul-Antoine Evin, professor de História da Arte no Instituto Francês de Lisboa e Nápoles.
A despeito de problemas técnicos e de produção que permearam essa primeira experiência mais radical na promoção de uma mostra de cinema não comercial no Recife, ficou claro que aquilo foi um sucesso, tendo sido necessária, inclusive, a realização de sessões duplicadas para atender o excesso de público.
Um desses frequentadores foi Celso Marconi, que seguia num crescente envolvimento com eventos do gênero, os quais o levaram a conhecer a maioria dos cronistas recifenses enquanto compartilhava as suas inquietações e os conhecimentos da área que começava a levantar. Seu ponto de partida foi o livro O cinema: sua arte, sua técnica e sua economia, de Georges Sadoul, lançado na França em 1948 e transformado numa espécie de manual lido por todos que, no Brasil, se propunham a se aprofundar nesse campo. Entre os tantos aspectos valiosos despertados por Sadoul sobre essa arte que, numa interminável progressão, seduzia multidões, estava o de que o cinema não era apenas divertimento (função sedimentada havia cerca de 50 anos dali, a partir de Georges Méliès), mas também um meio de instrução, de formação. Sadoul, com suas palavras, emprestava à Sétima Arte uma grandeza funcional e social difícil de enxergar naqueles anos 1950 para as outras artes.
No moderno Recife do determinante 1952, os cronistas locais já se debatiam em textos contrastando raciocínios. Problematizavam a forma em detrimento do conteúdo (e vice-versa) nos filmes e discutiam arte versus indústria cinematográfica. Tudo para tentar elevar o status do cinema ao mesmo patamar dos irmãos milenares: o teatro, a literatura e a música.
Impregnado pelas ideias marxistas e por tudo que lia nessas crônicas, o pensamento de Celso começava a borbulhar ainda mais quando percebeu nas palavras de Sadoul a possibilidade da junção de um conceito social atrelado à expressão cinematográfica. O autor escancarava detalhes sobre a dominação de Hollywood e dava uma visão geral do cinema como um produto industrial. O jovem leitor começava, ali, a enxergar a cultura como a própria vida, como um elemento que a modificava e que a desenvolvia. Tais ilações nunca mais desgrudariam daquela entusiasmada esponja chamada Celso Marconi, prestes a iniciar seu curso de Filosofia.
Aconteceu que, enquanto encerrava a Semana do Filme Francês, a atmosfera de sofisticação na cidade também ganhava mais envergadura com a inauguração de um novo empreendimento. Desde 1946, o recifense lia nos jornais que as Empresas Luiz Severiano Ribeiro iriam levantar o mais luxuoso cinema do Norte e Nordeste. Prometia-se que o vultoso empreendimento cultural rivalizaria em instalações e acabamento com os melhores do Brasil. Depois de diversos adiamentos, surgiu a definitiva data. Em 6 de setembro de 1952, o Cine São Luiz do Recife abriu suas portas pela primeira vez a célebres convidados e, no dia seguinte, num cívico domingo, a população pôde deslumbrar-se com os mármores importados, com o mural de Lula Cardoso Ayres no hall de entrada, com o látex das poltronas e com os vitrais de flores ladeando a tela até o início da sessão, que projetava as imagens das fitas pelo caríssimo aparelho Simplex XL. Começando com um registro documental sobre a Campanha Pernambucana Pró-Infância, seguido por duas animações em curta-metragem, até chegar à atração principal, O falcão dos mares — com Gregory Peck vivendo o capitão de um navio napoleônico em missão secreta nos mares da América Central para colaborar com uma insurreição contra a Espanha —, a inauguração do São Luiz foi um deslumbre.
Passadas as festividades, o palácio que nasceu na Rua da Aurora, na avaliação dos especialistas, era melhor do que a fabulosa aventura com o astro hollywoodiano que inaugurou o espaço. Era em função de um outro tipo de cinema que os estudiosos vinham trabalhando para ocupar as telas. E Celso passou a engrossar o coro, saindo logo da posição de espectador para a de protagonista.
De mãos dadas com a sagacidade do jovem dândi Jomard, Celso organizou pelo Vigilanti Cura aquele que foi o primeiro Cine-Fórum desvinculado do ambiente escolar, acontecendo na noite do sábado, 24 de janeiro de 1953, no Cinema do Derby, e aberto a qualquer público. O título escolhido foi Desencanto (1945), de David Lean, apresentando um grau de sofisticação psicológica e um atrevimento contra as regras da sociedade, com tudo emoldurado por cinematografia elegante, que estava à léguas de distância artística do quiproquó visto com Gregory Peck como marinheiro de Napoleão.
Ainda que apenas 15 das cerca de 80 pessoas que viram o filme tenham permanecido após o encerramento da projeção, às 20h45, para participar do debate tocado por Celso e Jomard, o que se viu ali foi uma discussão acalorada sobre o enredo, o roteiro, a montagem, a trilha sonora, a performance dos atores e a fotografia da obra. E, o melhor, não se chegou a um consenso limitador, mas sim a divergências entre aqueles que enxergaram no filme “uma belíssima mensagem cristã”, enquanto outros o entenderam como “indigno de ser exibido em um cineclube católico”.
Não havia melhor cenário intelectual para o rapaz que estava prestes a estrear, naquele ano, como aluno da Rua Nunes Machado, endereço da Faculdade de Filosofia de Pernambuco, na Universidade do Recife (depois Universidade Federal de Pernambuco).
E para chegar à faculdade Celso caminhava bastante. Literalmente. Era uma atividade que o agradava, pois ia observando a dinâmica de uma cidade em transformação também urbanística. Saía do apartamento do pai na Concórdia, seguia pela Rua do Sol até a Ponte Duarte Coelho, reinaugurada e aberta havia menos de 10 anos para pedestres. Por ela caminhava sempre de olho naquela novidade imponente, à esquerda, na margem do Capibaribe, que era o prédio homônimo da ponte, abrigando o Cinema São Luiz. Na Avenida Conde da Boa Vista a paisagem também era nova. Ainda estava em obras, num alargamento que vinha promovendo a demolição de várias casas em ambos os lados até a Rua Dom Bosco. Celso ia até a Rua do Hospício, dobrava à direita e depois à esquerda, seguindo o longo corredor que era a Rua do Riachuelo. No caminho, olhava para o Colégio Nóbrega sem nenhuma saudade dos tempos do internato e continuava até dobrar à direita na Nunes Machado. O rotineiro percurso o acompanhou pelos três anos seguintes.
Três anos em que principiou algumas amizades igualmente excitadas pela filosofia e pela cultura, e reforçou outras, cujos interesses giravam em torno do jornalismo e do cinema. Entre essas últimas estava Alexandrino Rocha que, naquele ano, com sua Renata Cardoso, incendiou as folhas do Diario de Pernambuco, em espaço cedido por L. na coluna Mundo de luz e som. A zombaria escrita pela cronista marcou outra data cinematograficamente histórica do Recife, e Celso soube de véspera sobre a bomba a ser publicada seis dias após a sessão de O canto do mar, dirigida pelo internacionalmente celebrado Alberto Cavalcanti, cuja estreia se deu em 3 de setembro de 1953, no Cinema São Luiz.
— Celso, em breve sai meu texto na coluna do Andrade. Não deixe de ler!
A recomendação saiu embalada por sarcasmo e sorriso de Alexandrino, ainda na Rua da Aurora, antes mesmo do início da sessão, na calçada do Cinema São Luiz, onde Celso o encontrou, além de outros cronistas. O texto até contemporizava com Cavalcanti, descrito ali como “homem culto, compenetrado da sua posição de diretor de cinema, famoso em todo o mundo pelos seus belos trabalhos rodados na França e na Inglaterra”, mas atribuía a todos ao seu redor a responsabilidade pela “autêntica chanchada” que se revelou o filme. No entorno da produção de O canto do mar estava José de Souza Alencar, que atuou como assistente de Cavalcanti. O cronista que, por tabela, foi insultado na provocação de Renata Cardoso, costumava defender o cinema europeu e minimizar os valores dos filmes norte-americanos, enquanto que Alexandrino e Duarte Neto moviam-se pelo caminho invertido.
Ainda assimilando tudo aquilo, Celso era um dos que conseguia se relacionar bem nos dois lados daquele campo de batalha. Foi essa mesma serenidade que o aproximou de seus colegas em sala de aula e dos professores na faculdade.
Entre os companheiros de carteira, firmou amizade com Frederico Sérgio Moreira da Rocha, com quem estudou a disciplina de Sociologia antes dele seguir carreira como médico. Outras duas colegas já eram conhecidas de Celso. Britz Gondra, que residia no Edifício Vieira da Cunha, o mesmo onde Severino Lins mantinha seu escritório de engenharia, e Maria do Carmo Vieira, a quem todos chamavam carinhosamente de Du. Tendo participado do Vigilanti Cura e do Círculo de Estudos Cinematográficos, a jovem carregava muita afinidade com Celso e sempre o acudia quando ele sofria crise de pânico ao precisar ministrar seu estágio de docência.
Numa dessas experiências, Celso tinha o compromisso de estrear lecionando Psicologia para moças num preparatório para o vestibular. Organizou-se para a missão, mas, chegada a hora de ir ao compromisso, confessou a amiga que não conseguiria.
— Du, vou desistir. Estou apavorado só de pensar na exposição defronte a tanta gente estranha.
— Não me venha com essa, Celso. Você vai. E vou te acompanhar até a porta do colégio.
Quase que arrastado pela amiga, chegou na instituição de ensino e assim que entrou na sala de aula percebeu imediatamente que o espaço estava repleto de moças ansiosas pela primeira aula do novo professor da disciplina. Todas o observavam com olhos arregalados e em compenetrado silêncio enquanto esperavam.
Esperaram.
Esperaram mais um pouco e, finalmente, o franzino professor saiu do transe para conseguir apresentar, sob grande esforço, a aula que tinha preparado.
No dia seguinte, o inexperiente mestre não teve dúvidas. Procurou José Otávio Freitas Júnior, seu professor na faculdade, com quem estudava Psicopatologias Gerais, mas não para pegar conselhos e sim algum medicamento que abrandasse seus nervos para a próxima sessão de tortura em frente às inofensivas mocinhas.
Medicado, Celso voltou para o segundo encontro. Percebeu, porém, que a palpitação e o suor frio continuavam lá. A única solução encontrada foi pedir socorro a Du, que acabou acatando sua solicitação de substituí-lo no compromisso de lecionar Psicologia.
Além de José Otávio Freitas Júnior, Celso observava com bastante admiração o professor Luiz Pinto Ferreira, celebrado como promotor de justiça, escritor, depois membro da Academia Pernambucana de Letras e até senador. Com tantas atribuições, o afamado Pinto Ferreira mal aparecia para cumprir as aulas de Sociologia, ausência que era sanada por outro mais jovem, vaidoso e conhecidamente festeiro professor. Era José Pessoa de Morais, aquele mesmo a quem Celso recorreu, sem êxito, para ser aprovado no curso de Direito.
Entre as outras disciplinas, havia História da Filosofia, com Monsenhor Salles — que dali a poucos anos celebraria o casamento de Celso com Maria do Carmo Veloso —; Estética, com Ariano Suassuna; e Filosofia, com o padre timbaubense Daniel Lima. Além do sacerdócio, o padre era escritor, poeta, fumante, também arriscava alguns drinks e dirigia o jornal literário Gazeta de Nazaré. Tantos predicados, intelectuais e celebrativos da vida, encantavam Celso e o estimulavam a aproveitar ao máximo o que o sacerdote pudesse lhe oferecer para sua formação.
Certo dia, depois de uma aula em que este palestrara por mais de 40 minutos sem parar, deixando a todos hipnotizados pela propriedade com que dominava o conteúdo, Celso seguiu com o professor até a sua casa. Lá foi pegar alguns discos emprestados. Saiu com álbuns do checo Antonín Dvořák e do alemão Bach. Daniel Lima faleceu em 2012, aos 95 anos, mas, se vivo estivesse, ainda estaria esperando Celso devolver os quatro discos que levou naquele dia.
Outra fã de Daniel Lima, a aluna Luzilá Gonçalves Ferreira compartilhava com Celso seu entusiasmo não apenas pelas aulas do mestre, mas também pelo idioma francês, que ela viria a lecionar no futuro na Avenida Guararapes, no décimo andar do Edifício Santo Albino, sede da Associação Cultural Franco-Brasileira — a mesma que apoiou a Semana do Filme Francês. Ali, Celso assistiu às aulas de Luzilá.
Quando ela precisava viajar, quem a substituía como professor era seu companheiro, o francês Gerard Licari. Ao contrário dos encontros agradáveis nas aulas com a professora titular, aqueles com Licari eram tensos. O estrangeiro era durão com os rapazes do curso. Desconfiava que todos eles eram apaixonados pela professora. E Licari estava certo.
Entre tantas autoridades intelectuais masculinas da Faculdade de Filosofia, uma mulher destacava-se: Maria do Carmo Tavares de Miranda. A professora de Metafísica gozava de prestígio como teóloga e pedagoga. Ex-aluna daquele curso, conquistou uma bolsa para cumprir doutorado na Sorbonne, Paris, tendo passado também pela Universidade de Friburgo, na Alemanha. Na bagagem, trouxe a experiência de ter sido aluna assistente do filósofo Martin Heidegger, famoso pelo livro Ser e tempo (1927).
Antes, no Recife, a professora também lecionava no Colégio das Damas Cristãs e na Faculdade de Filosofia do Recife, hoje Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire), onde só podiam entrar moças. Mas quem desse uma olhada na sala das aulas de Teoria do Conhecimento, de Maria do Carmo Tavares, encontraria dois rapazes — Celso Marconi e Jomard Muniz de Britto —, ambos em alta conta com a professora, que convenceu a direção da instituição a autorizar o acesso dos dois marmanjos inseparáveis.
O mais velho da dupla seguia forte na sua formação nos campos da filosofia e do cinema, com o mais jovem ficando mais e mais interessado em filosofia por influência do amigo. Depois da experiência do Cine-Fórum, no início de 1954, a dupla não demorou muito para aprontar uma segunda edição, desta vez realizada no anexo do número 7, a Igreja Santa Cecília, na Rua da Conceição — sede da Juventude Universidade Católica (JUC). Sob os auspícios do mais novo cineclube da cidade, o Cine Clube Universitário (Ciclu), Celso e Jomard apresentaram e debateram o Pequeno Festival de Chaplin, no domingo, 21 de março.
A empreitada seguinte da dupla veio a ser mais audaciosa. Um curso com o apoio, mais uma vez, da Associação de Cultura Franco-Brasileira. Na ocasião, Celso e Jomard reuniram os mais valiosos nomes da cidade vinculados ao pensamento do cinema. Programadas para serem realizadas na Associação e, extraordinariamente, na sede do Círculo Católico, entre 8 de maio e 17 de julho, as aulas do Curso de Iniciação ao Cinema aconteceram sempre aos sábados, entre 15h e 17h.
Quem abriu a primeira aula na Associação foi Paulo Fernando Craveiro (Folha da Manhã e Diário da Noite) palestrando sobre o cinema americano, sendo seguido, às 16h, por Ângelo de Agostini, crítico do Jornal Pequeno, cuidando de falar sobre o cinema francês. Ao longo das semanas, ministraram aulas Alencar (O produtor e o diretor no cinema); Jomard (Pioneiros da linguagem cinematográfica); Lauro Oliveira (A cenarização de um filme); Duarte Neto (A interpretação no cinema); Marcelo Pessoa (A fotografia no cinema); Juvenal Felix (O cinema russo e sueco); José Ajuricaba (O cinema alemão); Isaac Gondim Filho (Teatro e literatura no cinema); André Gustavo Carneiro Leão (O neo-realismo italiano); Glauco Campelo (A montagem cinematográfica); Celso Marconi (A dança no cinema); Lauro Oliveira (A influência social no cinema); Glauco Campelo (A cinematografia inglesa); Armando Laroche (O filme documentário); Pe. Daniel Lima (A ética e a estética no cinema); Mírcio da Cunha Rêgo Miranda (As novas tendências no cinema); Evaldo Coutinho (Significação da obra de Chaplin); Luiz Vieira (O cinema nacional) e, mais uma vez, Alencar (Gêneros cinematográficos). Houve, ainda, uma aula sobre a música e o som no cinema, cujo professor convidado precisou cancelar de última hora. Sobrou para o organizador, Celso Marconi, assumi-la.
O resultado foi bastante satisfatório, tanto que houve uma segunda edição do curso em janeiro de 1955, mas desta vez sob coordenação de Valdir Coelho, tendo como local de realização o Colégio São José e destinada especificamente a “sacerdotes, religiosas e educadores em geral”.
Antes mesmo de encerrar a primeira edição do curso, em 9 de julho de 1954, Celso aproveitou para publicar na Mundo de luz e som, de L., sua crítica sobre Na cova da serpente (1948), de Anatole Litvak, exibida no Vigilanti Cura. O filme dramatiza, em detalhes, o período de permanência da protagonista Virginia (Olivia de Havilland) num sanatório.
De partida, o crítico estabelece, na abertura do texto, sua posição respeitosa com a obra de arte acima de aspectos politicamente ideológicos, ainda que, para Celso, a arte — o cinema — fosse também expressão política — um tema caro ao então jovem de 24 anos, cuja percepção nessa direção se refinaria ao longo da trajetória como crítico. No texto de então, começava:
Em geral não costumamos aceitar de bom grado a arte que esteja a serviço de uma determinada ideologia e que defenda expressamente uma tese. Entretanto, penso que na arte não pode haver conceitos pré-concebidos e que sirvam para uma análise de toda e qualquer obra de arte. A emoção estética é muito mais intuitiva que intelectiva e para cada obra, individualmente, podemos ter reações que, muitas vezes, contêm uma certa incoerência se comparadas com reações anteriores.
Fica claro, também, seu entusiasmo pelo leitmotiv do filme, pautado no desenvolvimento de um enredo com a psicanálise como base para resolver o colapso nervoso de Virginia. Celso diz que no filme é apresentado o processo de cura pela psicanálise, tornando não só uma divulgação desse modo como uma apologia ao mesmo. O que torna-o um filme de característica superior é a maneira como foi desenvolvido esse tema.
Para aquele estudante de Filosofia, a psicologia era um tema particularmente atraente e motivo de muito debate com seus professores, assim como eram igualmente motivo de discussão suas leituras preferidas (além do cinema), como o existencialismo, apropriado por Celso quando devorava as palavras de Jean-Paul Sartre e Albert Camus; ou ainda o idealismo alemão, que consumia por Hegel com o livro Fenomenologia do espírito; e a hermenêutica filosófica de Heidegger.
Até o fim do curso, Celso seguiu concentrando seu foco de formação por essas correntes filosóficas ao mesmo tempo em que ia consolidando seu nome no âmbito da crônica cinematográfica local. Fosse pelo nome de batismo ou mesmo pelo pseudônimo João do Cine, com o qual assinava textos sobre cinema publicados na coluna Cine-teatro-rádio do periódico comunista Folha do Povo, cuja redação vinha funcionando desde novembro de 1953 no edifício Vieira da Cunha, nas salas 25 a 27 do quarto andar. Um pavimento acima de onde estava instalado o escritório de engenharia de Severino Lins.
Sem se dar conta, João do Cine estreou em 12 de maio de 1954, elaborando reflexões para aquele que seria a pedra fundamental do moderno cinema brasileiro: Agulha no palheiro, de Alex Viany. João, ou melhor Celso, enxergava claramente a influência do neorrealismo italiano na estreia de Viany dirigindo um filme. E a perspectiva socialista do cronista destacava com entusiasmo:
O mais importante a notar é a maneira realística como ele captou o poético do cotidiano; e também a maneira correta de encarar o problema da mãe-solteira, a igualdade de condições entre preto e branco; tudo isso determinando uma tomada de posição ao lado de forças progressistas do cinema nacional.
E, taxativo, concluiu: “É realmente formidável!”.
Formidável é também conhecer a trajetória de Celso Marconi ao longo das quase sete décadas após a publicação dessa primeira crônica e entender que sua bandeira seguiu flamulando, coerentemente, sob o mesmo vento que sopra a ideia do cinema brasileiro como uma arte popular, para o povo e sobre o povo.
Foi ainda na pele de João do Cine que Celso viveu sua primeira situação curiosa no âmbito das celebridades do cinema. O amigo Alexandrino Rocha, da Folha da Manhã, comentou que, no 25 de novembro de 1954, estaria no Recife ninguém menos que Gina Lollobrigida, estrela italiana de sucessos já conhecidos pelos recifenses, como o mais recente Fanfan la tulipe (1952)
Estava de passagem pela cidade, viajando pela Alitalia, numa parada rápida para a aeronave abastecer e seguir até chegar ao destino final, Buenos Aires, onde ficaria por duas semanas a convite do governo argentino.
A informação não era sigilosa e, além dos paparazzi recifenses, o que não faltaram foram fãs da atriz lotando o Aeroporto dos Guararapes ainda em obras. Assim que Lollobrigida despontou no avião, começou uma correria felliniana e, enquanto todos tentavam chegar perto da estrela, Celso e Alexandrino buscavam burlar os seguranças, disparando atrás da italiana enquanto berravam:
— Gina, aspetta! — apelava Alexandrino.
E Celso:
— Siamo tutti giornalisti!
Mas a beldade apenas sorriu e soltou um beijo para aqueles desembestados.
Não foram poucas as emoções (e formações) nesse último ano da graduação universitária de Celso. Foi ali que assumiu mais um compromisso cinematográfico, tornando-se diretor do Cine Clube Charles Chaplin, que ocorria à noite no teatro da sede do Sindicato dos Comerciários, número 67 da Rua da Imperatriz. Acompanhado de Agostini (Jornal Pequeno), realizou sessões e debates de obras como Alemanha ano zero, de Roberto Rosselini. O endereço era próximo a outro importante na mesma rua, o segundo andar do 246, onde o universitário era igualmente assíduo: sede do Foto Cine Clube de Recife. Lá aprendeu a fotografar e, pela qualidade de seu material, chegou a ser premiado.
Ao final de 1955, com a conclusão do curso, os compromissos com a vida de adulto se intensificariam, o que implicava conseguir uma estabilização financeira e amarrar oficialmente os laços do coração a quem amava.
Luiz Joaquim é autor do livro Cinema brasileiro nos jornais (2018) e de artigos sobre cinema em diversas publicações no Brasil e no exterior, além de criador e editor do site cinemaescrito.com. Atualmente é responsável pelo bacharelado em Cinema e Audiovisual da Uniaeso e vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos de Cinema.







