
Tens de mudar de vida
A partir da leitura do livro de Peter Sloterdijk, filósofo reflete sobre o presente
TEXTO PETER PÁL PELBART
ILUSTRAÇÕES EDUARDO AZERÊDO
03 de Agosto de 2020
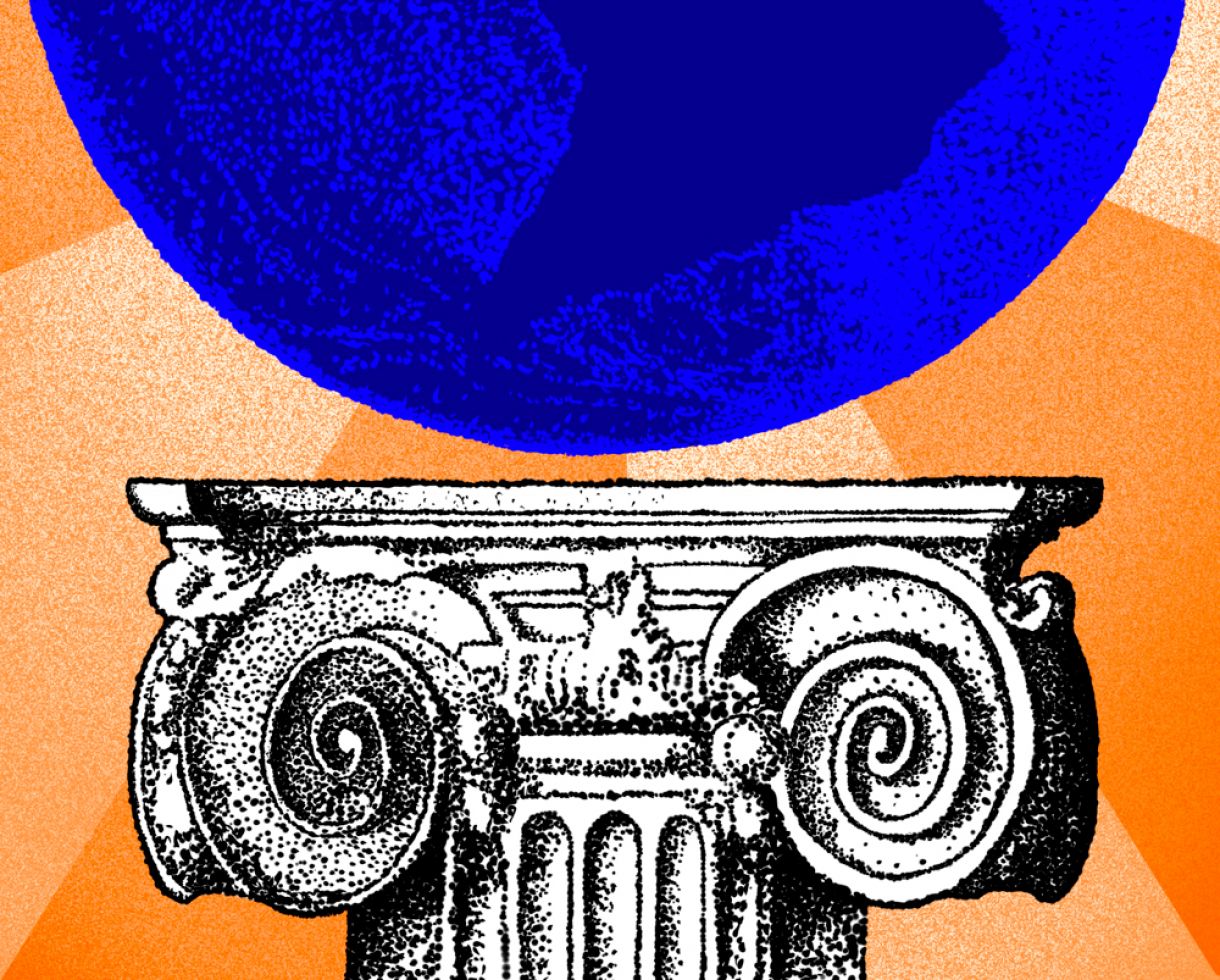
Ilustração Eduardo Azerêdo
[conteúdo na íntegra | ed. 236 | agosto de 2020]
contribua com o jornalismo de qualidade
Em um momento em que por toda parte nos dizem que depois da pandemia deveríamos mudar de vida, um dos livros que mais merecem ser lidos hoje, de autoria do filósofo alemão Peter Sloterdijk, leva justamente o título Tens de mudar de vida (Lisboa: Relógio d’Água, 2018). Não se trata de um livro de autoajuda, como poderia parecer, mas de uma história filosófica do que o autor chama de “antropotécnica”, capaz de iluminar parte de nosso presente e dos desafios futuros.
O título Tens de mudar de vida foi extraído de um poema de Rilke sobre um torso de Apolo visto no Louvre. Contemplando aquele que o contemplava, o torso teria “convocado” o poeta a mudar de vida. Eis o ponto de partida do autor. Tens de mudar de vida é um imperativo que atravessa a história da humanidade como um todo, não apenas nosso Ocidente socrático, cristão, humanista, cientificista, tecnocrático, mas igualmente culturas orientais diversas. Mudar a própria vida é parte de um mandamento que remonta pelo menos a Sócrates, e que Foucault analisou minuciosamente ao se debruçar sobre o “cuidado de si” na antiguidade. Na prática, significava que cabia a cada indivíduo “esculpir” a própria existência, a fim de nela atingir um grau de excelência. Podia-se visar a virtude, ou equilíbrio, ou a pureza, ou a resistência ao sofrimento, ou indiferença em relação à morte etc. Cada época, cada escola filosófica, orientação religiosa, opção terapêutica, mandato tecnológico ou político postulou uma finalidade própria e uma postura adequada a esse fim. Em todo caso, qualquer que fosse ela, só era atingível através de exercícios concretos e cotidianos, corporais ou espirituais: é toda uma “tecnologia de si”, como a designou Foucault. Ora incidia sobre as práticas sexuais, ora sobre a alimentação, ora sobre o uso das palavras, da memória, da escrita, do silêncio, da relação com o destino, a dor, os prazeres, o luxo etc.
Em grego, exercício se diz askesis – donde o termo ascese. O autor percorre assim esses exercícios, essas práticas ascéticas, ao longo da história, e sua função. É através de modalidades muito variadas de ascese – de exercícios – que o homem foi se moldando ao longo do tempo. É a essa produção do homem pelo homem que o autor deu o nome de “antropotécnica”. Trata-se de técnicas de automodelagem e autoformatação que garantiram, por milênios, o que Foucault chamou de “diferença ética”. Dada uma sociedade, sempre houve aqueles que dela se retiravam, como que saindo do rio do tempo corrente, para exilar-se na margem e ali exercer uma modalidade de contemplação, ou elevação, que lhes permitisse uma vida “outra”. Que tais exercícios de elevação tivessem uma direção mais transcendente, nas modalidades religiosas, ou mais contemplativas, nas modalidades filosóficas, ou visassem apenas uma excelência e perfeição no interior deste mundo, numa ética imanente, trata-se, em todos os casos, da aspiração a uma existência excepcional, à parte, que implicava numa conversão, numa autodisciplina, num sentimento de superioridade, desprezo ou simplesmente de indiferença em relação ao curso regular do mundo.
No geral, tais grupos minoritários não aspiravam a impor-se como modelo para a multidão – não eram proselitistas. Mas, não raro, certas práticas se disseminaram e acabaram conquistando ou convertendo a maioria. Mesmo uma prática revolucionária, no início restrita a uma vanguarda, poderia alastrar-se pelas massas e ter efeitos sociais de peso, como no caso de certas revoluções.
ASTRO ASCÉTICO
No século XIX, Nietzsche designou a Terra como “o astro ascético” por excelência. De fato, seus habitantes humanos passam o tempo exercendo sobre si mesmos todo tipo de operações – no mais das vezes, é preciso lembrá-lo, doloridas e até mesmo autoimoladoras. É o mistério da “vida voltando-se contra si mesma”. Nesse diapasão, o que mais intrigou Nietzsche foi o cristianismo, com suas práticas de autoculpabilização, de auto-humilhação e autoflagelo moral que produziram esse ser “humano, demasiado humano”, carregado de remorso, de ressentimento, de tristeza. Mas a mortificação da alma ou a desqualificação do corpo ou a culpabilização dos desejos instigados pelo cristianismo constitui apenas uma das modalidades da prática ascética, segundo Sloterdijk. Pois claro está que Nietzsche, inspirado nos estoicos ou no Renascimento, aprendeu outros tipos de ascese, e ele mesmo reivindica “mudar a própria vida” numa direção inteiramente distinta, não só longe do veneno cristão, mas também da mediocridade burguesa, do espírito de rebanho que a caracteriza, da frivolidade e do rebaixamento vital próprios à modernidade.
Como um dos que mais longe levaram a exigência de uma elevação vital não religiosa, encarnada pela figura um tanto heroica de Zaratustra ou do além-do-homem, Nietzsche representa para Sloterdijk um divisor de águas nessa história da antropotécnica. A exigência de inventar-se numa dimensão criadora, para além do bem e do mal, e longe do espírito de rebanho, faz dele uma inspiração única, ainda hoje.
Mas Sloterdijk precisou ir além de Nietzsche. Com Foucault, que sem dúvida é o disparador maior da ideia central do livro, ele descobriu as tecnologias de si, o cuidado de si, a estética de existência, tanto no mundo grego e romano como sua inflexão no mundo cristão. Também com Foucault, o filósofo alemão utiliza os estudos sobre a loucura, a prisão, o hospital, a sexualidade, para formular a hipótese de que a antropotécnica abrange todas essas práticas disciplinares através das quais foi se moldando uma certa subjetividade social. Neste caso, portanto, tais processos não dizem respeito aos exercitantes dissidentes, filósofos estoicos, monges cristãos, poetas modernos, mas à modelagem social imposta pelas disciplinas e pela biopolítica, incluindo assim o suposto “melhoramento” de vastos contingentes populacionais no Ocidente. Espécie de adestramento coletivo, vizinho talvez de um processo de “seleção”, chegando ao risco de eugenia, como sugerido no polêmico livro do autor, intitulado Regras para o parque humano.
Não resta dúvida de que Sloterdijk, embora reconheça a diferença entre os exercitantes excepcionais, sempre à margem, e o adestramento proveniente de dispositivos anônimos, em seu esforço de traçar uma certa continuidade do vetor antropotécnico, relativiza o contraste entre eles, tão marcante em Foucault. Afinal, Foucault resolveu recuar para a antiguidade greco-romana justamente para fugir de uma teorização do poder excessivamente onipresente, e encontrar nos “exercícios”, no cuidado de si, na tecnologia de si, na estética da existência, margens de “liberdade” ou “autonomia” subjetiva que as disciplinas modernas não lhe ofereciam. Não se tratava de um “retorno” aos gregos, mas de uma possível reativação de uma camada que a história da filosofia soterrou, ao privilegiar o conhecimento da verdade ao que Hadot chamou de os “exercícios espirituais”.
Na verdade, Sloterdijk não faz apenas um inventário das técnicas, exercícios, modalidades de existência daí resultantes ao longo da História. Mais profundamente, o filósofo escava a “produção” do homem pelo homem – e não apenas, como temos o hábito de compreender tal produção, desde Marx, através do trabalho ou da dominação da natureza.
O efeito dessa abordagem é uma dessubstancialização da noção mesma de homem, livrando-o de qualquer essência própria, o que permite ao autor atingir uma perspectiva, por assim dizer, pós-humanista, ou pós-humana. O desafio consistiria em pensar até que ponto estamos, ainda hoje, enredados em antropotécnicas que resultam em mais domesticação do que autoinvenção, em mais rebaixamento do que elevação, em mais frivolidade do que excelência. Mesmo o esporte, que é uma das asceses que persistiram ao longo do tempo no Ocidente, e objeto de grande prestígio na antiguidade grega ou romana, embora tenha subsistido, é evidente que, no âmbito da mundialização midiática e movida pela lógica capitalista, indica os impasses e dubiedades embutidas em qualquer modalidade de exercício, conforme a época e contexto em que aparece ou subsiste. Também as práticas estoicas, quando apropriadas pelo cristianismo, substituíram a serenidade visada neste mundo pela expectativa de um outro mundo, subvertendo inteiramente a direção original, com a ideia de pecado, a prática de confissão, o desprezo por este mundo, a primazia da transcendência.
A MODERNIDADE
E o que dizer da modernidade? É óbvio que ela tende a abolir a diferença entre os exercitantes secessionistas e o “rebanho”. O que antes era exceção vira regra, o que antes era evasão minoritária se torna anestesiamento de massas. É assim que os turistas tomam o lugar dos monges e as férias substituem as antigas evasões.
Mas por que as observações de Sloterdijk neste livro tão instigante quanto pretensioso chegam a nós, hoje, com tamanha atualidade?
Por muito tempo, o que garantia a verticalização do homem, isto é, seu impulso ascensional, era a promessa de uma transcendência, ideal (Sócrates), religiosa (Cristo) ou revolucionária (Utopias). Foi Nietzsche, ao anunciar que Deus está morto, que cortou a corda que nos mantinha suspensos em direção ao alto. Mas não deixou de reivindicar uma altura, uma verticalidade, uma superação de si. Não nos atrelou a um plano transcendente, mas a uma possibilidade excepcional. Não um outro mundo, mas ao radicalmente outro neste mundo. É a aposta em um impossível que faz o fascínio de sua filosofia, na sua dimensão heroica ou poética, mas nunca transcendente.
Talvez essa aspiração pelo sublime (aquilo que está para além de nossa capacidade de apreensão, que extrapola nossa sensibilidade e nosso entendimento), pelo irrepresentável, antes ainda depositado num Deus transcendente, só tenha recebido uma figura à altura de sua impensabilidade com a Catástrofe.
Eis a direção final do livro de Sloterdijk: apenas a catástrofe global estaria em condições de nos fornecer um imperativo ético no modo Tens de mudar de vida! Obviamente, o contexto global da catástrofe, tal como a pandemia a antecipa, não permite restringir o imperativo ético à esfera individual, e demanda uma ampliação do que deve ser entendido por “minha vida”. Pois qualquer vida depende de todas aquelas com as quais está entrelaçada. Em círculos concêntricos isso englobaria todas as tribos, sociedades, culturas, etnias, religiões, seres humanos e não humanos, animais, vegetais, deuses, em suma, a Terra.
Se, antes, a distinção entre o próprio e o estrangeiro era o que permitia uma secessão ética (o exercitante da elevação, embora sentindo-se estrangeiro ao mundo, poderia estimar-se como “o próprio” e considerar o mundo frívolo como “estrangeiro”), a iminência da catástrofe tende a abolir tais divisões (cujo arcano é a partilha amigo/inimigo). Obriga, assim, as redes planetárias vivas a se enxergarem como “o próprio” e considerarem a predação dominante como “o estrangeiro”, numa lógica imunitária cada vez mais abrangente.
O coronavírus mostrou que sistemas relativamente fechados, que antes pareciam assegurar certa imunidade (desde fronteiras protegidas até um capital científico próprio, passando por sistemas culturais identitários), não preservaram ninguém da infecção pelo vírus. Se a catástrofe, na forma de uma pandemia atual ou de uma crise climática futura, não atinge a todos igualmente, dadas as desigualdades que ela escancara, em contrapartida, em virtude do seu caráter forçosamente planetário, demonstra a necessidade do que o autor chamou de uma “coimunidade”. E um “coimunismo”. Não podemos deixar de ouvir, por trás desses termos, a palavra “comunidade” e “comunismo”. Em outros termos, Tens de mudar de vida ganha agora, necessariamente, uma conotação coletiva, cooperativa e global. Não é pouca coisa.![]()
PETER PÁL PELBART, filósofo, professor do Departamento de Filosofia e do Núcleo de Estudos da Subjetividade da PUC-SP, membro da Companhia Teatral Ueinzz e coeditor da n-1 edições.
EDUARDO AZERÊDO, estudante de Design e ilustrador.






