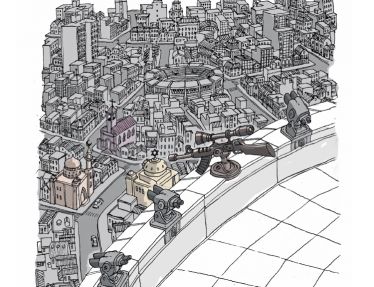
O perfil de um maestro
Leia os capítulos iniciais do livro 'Maestro Duda - uma visão nordestina', da coleção 'Frevo, memória viva', da Cepe Editora
TEXTO Carlos Eduardo Amaral
01 de Fevereiro de 2018

Maestro Duda, um dos grandes nomes do frevo
Foto Marcelo Lacerda/PCR/Divulgação
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 206 | fevereiro 2018]
Na rádio, na TV e em estúdio
Um ponto é unanimidade quando se conversa com todas as pessoas que conhecem a música de Duda: ela é simples e fácil de se tocar. As formas são simples, os ritmos não são intrincados, as harmonias são consonantes, as melodias evitam saltos de grandes intervalos, os instrumentos são tratados em suas tessituras naturais. Outro, quando se fala de Duda como pessoa, é a sua espontaneidade, geralmente aliada ao bom humor, que continua rendendo inúmeros momentos impagáveis à memória de amigos e familiares. Um terceiro ponto é a pouca execução de suas obras para um compositor que está na ativa desde os anos 1950 e foi citado como um dos maiores arranjadores do país no século passado (apenas na Fundação Joaquim Nabuco há 10 caixas de arranjos seus, cada uma com pelo menos 40 partituras, salvas do lixo, como contado no livro Clóvis Pereira – no reino da pedra verde, da Cepe Editora).
Se Duda escreve de modo prático e funcional, isso se deve à experiência como arranjador nos tempos de rádio e televisão. Vindo da cidade natal, Goiana, com quase 15 anos de idade, em 1950, Duda ingressou como saxofonista na Jazz Band Acadêmica, fundada por Capiba em 1931 e que, de início, reunia músicos amadores, estudantes do Ensino Superior da capital pernambucana, permanecendo em atividade até 1965.
Ironicamente, o único não universitário da banda era o próprio Capiba, que se impeliu a prestar vestibular para Direito naquele mesmo ano, tendo passado apenas na segunda tentativa, em 1932. Na Acadêmica, Duda conheceu Fernando Lobo (1915-1996), avô de Edu Lobo e sucessor de Capiba na direção do grupo, após a saída deste, em 1934, para se dedicar à faculdade; José Menezes (1924-2013), e Guedes Peixoto, conterrâneo que começou a vida musical na mesma banda que Duda, a Saboeira (Sociedade 12 de Outubro, nome oficial da banda fundada em 18491), a qual nutre uma rivalidade ancestral com a (Sociedade Musical])Curica (de 1848), na cidade natal de Duda.
A primeira composição de Duda, o frevo Furacão – escrito nos anos de pré-adolescência, em Goiana – foi encontrada pelo amigo trompista Ayrton Benck, que realizou uma oficina de capacitação na sede da Saboeira e, nas horas livres, teve acesso ao acervo da banda. Uma posterior e mais apurada pesquisa resultou na descoberta dos originais de Furacão, que Benck levou para João Pessoa e, depois, para o Recife, a fim de providenciar uma cópia para o autor. Por infortúnio, Benck perdeu a partitura; mesmo assim, dados o seu bom-humor e o seu olhar para frente, Duda não demonstrou aborrecimento pelo incidente.
Na Saboeira, Duda tinha aprendido a tocar sax-horn, depois requinta (“no clarinete, a mão não cabia, era pequena”, diz) e, finalmente, saxofone, quando adquiriu mais porte físico2. A rotina não destoava do que se imagina de uma cidade do interior: estudar, jogar bola, tocar... Duda se mexia para quebrar a monotonia e, junto com mais alguns amigos de banda, produziu um evento dominical chamado Manhã de Sol. “Organizei uma orquestra infantil (a Jazz Infantil3). Eu, no sax, Mário Mateus no trompete e Marcos Carneiro no trombone. A gente tocava de 10h às 14h, aos domingos, na sede da Saboeira. Outro amigo tomava conta da bilheteria, outro do bar...”.
Com a inauguração da Rádio Jornal, em 3 de julho de 1948, que veio para fazer frente à Rádio Clube de Pernambuco, a Jazz Band Acadêmica foi contratada pela emissora para cuidar da trilha sonora da programação diurna – enquanto a Orquestra Paraguari, conjunto da rádio regido por Guerra-Peixe (também maestro da Orquestra Sinfônica da Rádio Jornal), cuidava da programação noturna – e logo contrataria Duda para ser um de seus arranjadores e substituir o compositor e regente fluminense na regência, por este ter de deixar Pernambuco abruptamente, em 1952 (vide novamente Clóvis Pereira – no reino da pedra verde). Quem convocou Duda foi Mário Mateus, primeiro da turma de goianenses daquele grupo de amigos a ser contratado no Recife pelo então regente da banda, Pádua Walfrido.
No entanto, o amigo e companheiro de orquestra Clóvis Pereira, que substituiu Guerra-Peixe no comando da orquestra sinfônica, conta que houve uma nova contratação de Duda, porém não imediata — isso porque Duda havia perdido a vaga de saxofonista da Jazz Band Acadêmica ao regressar a Goiana4:
Eles (Duda e outros músicos da Jazz Band Acadêmica) moravam no Largo da Paz, numa casa alugada pelo maestro Pádua Walfrido, e aí comecei a me entrosar com os músicos (eu já tinha alguma prática em Caruaru). Foi quando eu conheci Duda. Ele tocava saxofone e escrevia uns arranjos. Ficou um relacionamento amistoso, bom. Quando abriu uma vaga na Paraguari, de sax tenor (que era de Jaguar Araújo), mandaram buscar um em Natal (na Orquestra da Rádio Poty), Juarez (Araújo, por sinal, outro pernambucano de Surubim, mesma cidade de Capiba, e da família de Severino Araújo), que foi pro Rio (Jaguar e Juarez foram para a Orquestra Tabajara) e foi eleito o melhor tenorista (executante de sax tenor) do Brasil, por uma revista. Aí foi a vez de Duda, eu disse que o conhecia e o contrataram. Ele fazia arranjos para a rádio, eu fazia outros e ia regendo. A partir daí, Duda foi crescendo, crescendo, formou a própria orquestra dele, tocava em baile, e fomos todos transferidos para a TV (Jornal, em 1960).
A missão da Orquestra Paraguari na Rádio Jornal era concorrer com a orquestra de Nelson Ferreira (1902-1976), da Rádio Clube, que reunia os maiores instrumentistas (e também compositores) de frevo desde 1931, quando o maestro foi contratado pela emissora: Levino Ferreira (que escrevera seu sucesso mais duradouro, Último dia, em 1951), Felinho (autor das virtuosísticas variações para sax alto sobre o tema do Hino do Vassourinhas), Zumba, Zuzinha e Lourival Oliveira.
As três décadas de vida a mais da Rádio Clube – fundada em 1919 como, literalmente, um clube de usuários de receptores de rádio – permitiram que ela, após a popularização da aquisição de aparelhos de rádio, ditasse o gosto do público, sem concorrentes, até 1948. E uma terceira emissora somou-se à Clube e à Jornal, no início dos anos 1950: a Rádio Tamandaré.
A maioria dos músicos da JBA saiu para integrar a orquestra da Rádio Tamandaré, inaugurada em março de 1951, e Mario Mateus percorreu algumas cidades, a começar por Goiana, para buscar novos membros para o quadro da jazz band: “Aí vieram eu e Marcos. Depois a JBA foi para a Rádio Jornal, ser a segunda orquestra de lá. A primeira era a Paraguari”. O próprio Duda viria a fazer uma posterior viagem para o interior com o mesmo intuito, já maestro, e recrutou diversos músicos com os quais trabalhou durante anos, como Maviael Celestino.
A JBA e a Paraguari participaram da inauguração da Rádio Difusora, em setembro de 1951, de Caruaru. “Teve até um jogo de futebol entre o pessoal da rádio de lá e os daqui. Eu joguei. Foi no campo do Central. Teve um pênalti que eu fui bater e bati pra fora”, comenta Duda. Em 1952, Duda já havia composto o frevo Taradinho, empolgando-se a seguir adiante nas composições. Já em 19535, escreveu o maracatu Homenagem à Princesa Isabel, que ganhou o segundo lugar no concurso de música carnavalesca da Câmara Municipal do Recife. Em junho desse mesmo ano, ele estaria presente quando da chegada de Giuseppe Lyra Mastroianni ao Recife, para integrar o escrete musical da Rádio dirigida por F. Pessoa de Queiroz. Embora sem haverem-se conhecido em Caruaru, ambos estavam na pelada Difusora x Rádio Jornal, de dois anos antes.
Tal qual Clóvis Pereira, que substituiu César Guerra-Peixe (1914-1993) como regente da Orquestra Sinfônica da Rádio Jornal, Mastroianni era natural de Caruaru e pianista prático – de tocar mais de ouvido, do que de partitura –, tendo vindo da Rádio Difusora da “Capital do Agreste”, tornado-se arranjador por necessidade, própria e da rádio, e recebido de Clóvis a batuta da Jazz Band Acadêmica, na qual conheceu também o trombonista e arranjador Senô (Senival Bezerra). Senô viria a compor uma suíte sinfônica, a Suíte nordestina, cujo quarto e último movimento – Duda no frevo, escrito em homenagem ao amigo de banda – ganhou vida autônoma. Duda iria retribuir anos mais tarde com Senô no frevo, que, no entanto, não alcançou a mesma fama que a partitura do amigo, considerada harmonicamente audaciosa por músicos e críticos de frevo.
Mastroianni montou uma orquestra de bailes6, que tinha como crooner o jovem Claudionor Germano, e convidou Duda para ser saxofonista e fazer arranjos enquanto o próprio Mastroianni ainda não dominava o ofício. “Durante quatro a cinco anos (1958 a 1963), tocamos continuamente no Clube Náutico Capibaribe, às sextas-feiras, denominadas ‘Convite Dançante’, e, quinzenalmente, aos domingos, nas ‘Vesperais dos Brotos’”, conta o maestro. Sobre o fato de recorrer ao amigo Duda como arranjador, ele explica:
Iniciei-me como pianista e mantive-me como pianista, embora, para justificar o salário perante os (músicos) italianos (contratados da rádio), constasse em meu contrato que eu era pianista-maestro-orquestrador. Mas nem arranjos eu sabia fazer–foi como copista (profissional que transcrevia à mão a parte de cada instrumento, tendo como referência a grade orquestral), dividindo a tarefa com o violinista Benny Wolkoff, que aprendi um pouco das manhas de arranjador. Todavia, não praticava, porque não era obrigado, e não dispunha de tempo para tal.
Duda acompanhou a inauguração da TV Jornal, em 1960, e a criação da Orquestra Paraguaçu, permanecendo com a Paraguari, mas escrevendo arranjos tanto para a rádio quanto para a televisão. Quando estava ganhando a vida nos estúdios de TV, Duda viu a escassez de instrumentistas de palhetas duplas no Recife, especialmente oboés, e se aventurou a aprender as técnicas básicas do instrumento para tentar o ingresso na Orquestra Sinfônica do Recife, já que saxofonistas não integram o quadro regular de orquestras sinfônicas. Conseguiu a vaga para corne inglês em 19637 e passou a atuar sob a batuta de Vicente Fittipaldi durante o dia, enquanto fazia arranjos à tarde e tocava na Orquestra Paraguari à noite, quando não houvesse colisão com os concertos da OSR.
Mastroianni dá um quadro mais rico de como os profissionais da música, como ele e Duda, sobreviviam em um mercado de poucas oportunidades:
Éramos verdadeiros malabaristas. A maioria dançava, mesmo, na corda bamba. Citarei dois casos apenas, bem diversos entre si, mas convergentes, pois éramos, ambos, funcionários da empresa Jornal do Commercio S/A (no Recife, a principal mantenedora de empregos para músicos), que não nos concedia maravilhosos salários, mas, para os padrões locais, permitia um nível médio de sustentação. Primeiro, citarei o caso de Corró (Agenor), um pseudobaterista, coitado, que ganhava a vida como motorista de táxi. Fez-se membro da Orquestra (Sinfônica) da Rádio Jornal do Commercio, não pela competência musical, da qual não desfrutou, mas talvez por condescendência de algum generoso protetor. Constava (não tenho certeza) que a Rádio lhe pagava um salário mínimo – muito mais miserável do que é atualmente – e, da soma dessas duas fontes, tirava o sustento de 16 filhos. Dezesseis! Provavelmente, os mais velhos já teriam alguma renda para ajudar no orçamento (!) doméstico. Mas nada disso posso afirmar, só ouvia dizer.
O outro... Posso falar de mim melhor que qualquer biógrafo. No Recife, onde vivi por 14 anos, iniciei-me na Rádio JC com salário igual ao dos músicos que a emissora contratara na Itália para, com outros músicos brasileiros, formar o naipe de cordas da orquestra. Pouco a pouco, fui me engajando no pobre meio musical recifense. Organizadores de conjuntos de baile, avulsos, me chamavam para tocar, geralmente nos sábados. A rádio, porém, era meu principal ganha-pão. Casei cedo, com 19 anos incompletos, e fui pai antes de completar os 20. Não tinha casa própria, nem automóvel – dois “luxos” que só mais tarde, muito mais tarde, eu me permitiria, com um empurrãozão do meu pai, que financiou a aquisição do imóvel. Sem ser um pianista clássico (estudei pouco, só até a adolescência), fui convidado pelo Maestro Vicente Fittipaldi a me integrar na Orquestra Sinfônica do Recife.
Depois, surgiu uma oportunidade para tocar durante o almoço no restaurante do São Domingos (na Praça Maciel Pinheiro, Bairro da Boa Vista), então um hotel de boa categoria. Formei meu próprio conjunto de bailes. Nos meus últimos tempos no Recife, eu já me agitava 25 horas por dia, oito dias por semana. Iniciava a jornada diária com os ensaios da Sinfônica, seguindo para o São Domingos, lá almoçando após a função, passando pelo meu apartamento para me recompor um pouco, ia para os ensaios na Rádio, voltava para casa a fim de jantar com a família, e finalmente ia ocupar meu lugar no palco da Rádio, com sua programação musical diária, feita à base de cantores, coral e orquestra. Se havia bailes para tocar, lá ia eu para os clubes, terminada a programação radiofônica. Somando os ganhos de todos esses lugares, nem assim, meu amigo, nem assim poderia ter um padrão que me colocasse na classe média alta. Só me restava tentar a sorte em São Paulo, o que consegui em 1967.
Mastroianni e Duda migraram para São Paulo em 1967. O primeiro, meses antes do segundo. A mudança, conta Duda, deveu-se ao encerramento da programação ao vivo da TV e da Rádio Jornal, o que levou ao diretor artístico Amarílio Nicéas a se mudar para o “Sul Maravilha” e a contribuir para a inauguração da TV Bandeirantes, em 13 de maio de 1967, abrindo as portas para outros pernambucanos. Nicéas foi quem colocou o título de “maestro” antes do nome daquele que era conhecido apenas como Duda, nos tempos do Sistema Jornal do Commercio – um título não só para fazer o amigo ser mais bem-visto, mas também porque, antes do primeiro aniversário da TV Bandeirantes, Duda assumiu o posto de regente-auxiliar da orquestra da emissora paulista, no lugar de Mastroianni, pois este subira ao posto de titular com a saída de Chiquinho Moraes.
“A gente fazia a programação. Dia de ensaio, a gente chegava de quatro da tarde, ensaiava até seis, sete da noite. Quando não tinha ensaio, a gente gravava as vinhetas da Rádio Bandeirantes”, relembra Duda, que também trabalhou como saxofonista, arranjador e maestro na Band (ao lado de Caetano Zama, Chiquinho de Moraes, Mastroianni e outros músicos e animadores); atuou no Programa J. Silvestre; foi jurado do programa Buzina do Chacrinha, na Rede Globo, e fez arranjos para a TV Tupi, a pedido do diretor Fernando Faro, transferindo-se depois para essa emissora “pegando carona” com Caetano Zama.
Naquele mesmo ano, em outubro, Duda participou do famoso 3° Festival de Música Popular Brasileira – organizado pela TV Record, em São Paulo –, revezando-se na regência com Júlio Medaglia e Portinho. Foi o festival em que “sacudiram ovo nos Mutantes, que eles cantaram de costas pro povo. Eu tava na orquestra, a gente foi pra debaixo do piano”, lembra Duda. O trabalho na capital paulista era constante, mas a distância de casa pesou e os rumos do mercado cambiaram. As orquestras não duraram muito nos estúdios de TV, devido à ascensão da indústria fonográfica e à propagação maior de trilhas sonoras de telenovelas, capitaneadas pela Som Livre — surgida em 1969 para ser o braço promocional fonográfico da Rede Globo.
Do período de residência em São Paulo, que durou até início de 1970, os contatos e parcerias construídos renderam importantes trabalhos para Duda, conforme ele recapitula:
Eu era arranjador exclusivo de Wanderley Cardoso. Tinha um programa, Os Adoráveis Trapalhões (da TV Excelsior), com Wanderley Cardoso, Jerry Adriani, Vanusa e Ted Boy Marino (e Renato Aragão), em que eu não podia reger porque eu era da Band. Quem regia era Gabriel Migliori; o produtor era amigo meu, Emanuel Rodrigues. Fiz trilhas sonoras pra filmes nacionais, esses para Dedé Santana, Renato Aragão... Deu a louca no cangaço e 2000 anos de confusão (ambos de 1969), com direção de Fauzi Mansur. Dedé só vivia lá em casa, com o irmão dele, Dino. Fiz arranjos pra Rogério Cardoso, que era um grande cantor. Fiz o teste artístico para ser cantor; Antonio Marcos, que já era compositor, já tinha sido gravado por Roberto Carlos e era empresário do irmão, Mario Marcos, que apresentava um programa de jovem guarda na Band e o maestro era eu.
O produtor Genival Mello, um paraibano que já tinha trabalhado na Rozenblit, queria fazer o teste para cantor com Antonio Marcos. O cara só começava a ser cantor se soubesse mesmo... Hoje as gravadoras são comerciais. Os cantores antes eram Cláudio Fontana, Nelson Ned (produzidos por Genival também)... Eu era o maestro. Inclusive fui professor de música de Vanuza. Atuei com o Trio Iraquitam, os Titulares do Ritmo, Tim Maia (ele, Cassiano e Denilson eram um trio), Pery Ribeiro (o irmão dele, Ubiratan, “Bira”, era produtor da televisão); Noite Ilustrada... Nelson Ned... eu tirei a melodia de Tudo passará. Quando ele chegou, me disse: “Maestro, eu fiz uma música linda. Queria que você tirasse a melodia para eu cantar em um festival em Mar del Plata”. Eu fiz e ele tirou em primeiro lugar. Wanderley Cardoso... Eu morava em Pinheiros, por trás do Hospital das Clínicas, na Rua Cristiano Viana, e para ele ir lá em casa, ele telefonava, ia disfarçado, para as meninas do bairro não verem, senão invadiam minha casa. Gravei com ele People, que foi o maior sucesso com Barbra Streisand. Ele, com um copo de uísque na mão e cantando; eu, acompanhando ele no piano.
Na volta para o Recife, Duda reassumiu o posto de oboísta e anglocornista da Sinfônica do Recife e conseguiu emprego como coordenador de gravação da Rozenblit, na qual ajudava Nelson Ferreira, já antes de partir para o Sudeste. Lá, voltou a escrever arranjos e a recrutar os músicos necessários para as gravações: “O que seu José (Rozenblit) dizia que queria gravar, a gente gravava. Gravamos até um disco de Bienvenido Granda (1915-1983), um cantor mexicano que era cubano”. Duda ajudou Nelson por um curto período nas tarefas de direção artística da Rozenblit, antes de Clóvis Pereira assumir o posto, em meados dos anos 1970.
Na mesma época, em 1975, Duda foi chamado por Ariano Suassuna (1927-2014) para coordenar a Orquestra Popular do Recife, mas a batuta foi passada para Ademir Araújo, em 1977, a pedido do escritor. Duda, então, concentrou-se de vez nos arranjos de frevos, especialmente os de Capiba. “Depois de Amigo do rei, que foi o último arranjo de Nelson Ferreira, eu que passei a ficar com os arranjos de Capiba, como Trombone de Prata, até encerrar a gravadora.” Ele acrescenta que Benny Wolkoff (1921-1995) assistiu Nelson, durante a ausência de Duda, mas menos como arranjador do que como assistente de gravação. “Ele era mais um funcionário burocrático, ele quem organizava tudo, até o lançamento de discos estrangeiros que a Rozenblit representava aqui: Mercury, Decca...”.
Na segunda metade dos anos 1970 e primeira metade dos anos 1980, acontecia o apogeu dos bailes de carnaval no Recife. Duda, Guedes Peixoto, José Menezes, Clóvis Pereira, Formiga... Todos os grandes maestros de frevo tinham sua própria orquestra e se desdobravam para atender não só os bailes, mas também troças e clubes. O mesmo desdobramento se dava com os instrumentistas que, tocassem ou não tocassem sob a batuta do mesmo maestro, tinham de atender de um a quatro compromissos por dia, para garantir o pé-de-meia do restante do ano.
Prático e funcional
Para Duda, a escrita musical deve carregar consigo dois preceitos: a simplicidade da execução e a vinculação a uma prática social, que pode ser a dança, a música de salão, a música didática, ou qualquer outro fazer ligado à música. “O arranjo tem que se adequar aos músicos, e não os músicos ao arranjo, escrever difícil é muito fácil, difícil é escrever fácil e funcional. Por isso é que minha música é tocada por todas as bandas de música em todo o Brasil, porque escrevo a música pra ser executada e não pra ser guardada em uma gaveta.”
Roger Scruton, no artigo Música e moralidade, remete a Platão, localizando nele, mais exatamente em seu clássico A república, a base política da Sociologia da Música, em que o filósofo grego observou que, para uma mudança das leis da pólis, ou seja, da cidade, havia uma mudança no gosto de seus habitantes, especialmente no que tange à música e à poesia. Mesmo que atualmente a ideia de o Estado determinar o que deva ser ouvido ou não – ou melhor, executado – seja estapafúrdia, prevalece o fato, intrínseco, de que a música agrega e expressa valor, para o bem ou para o mal, por mais que incomode a natural comparação entre manifestações musicais, de gênero para gênero e de obra para obra. A música pode, outrossim, como qualquer manifestação cultural, influenciar a mudança das leis e, por isso, foi assumindo cada vez mais uma função política, mais frontalmente ao largo do último século, com o desenvolvimento da forma-canção, mas não apenas por meio dela.
No citado artigo, publicado na revista American Spectator, Scruton remete a Theodor Adorno (1903-1969), quando este criticou o que chamou de “regressão da audição”, o abandono da escuta musical como busca espiritual ou prática de reflexão em detrimento da música como entretenimento puro, ou seja, como passatempo, escape ou vontade de dançar. Era a suplantação absoluta do dionisíaco contra o apolíneo que se dava nos Estados Unidos.
Segundo ele,
Para Adorno, escutar músicas longas, onde os temas estão sujeitos a arranjos melódicos, harmônicos e rítmicos extensos estão ligados à capacidade de viver além do momento, para transcender a busca por satisfação imediata, para abandonar a rotina da sociedade de consumo, com a busca constante ao “fetiche” que lhe é característica, e trocar desejos efêmeros por valores verdadeiros. E tem algo convincente aí que deve ser aproveitado da crítica exagerada e politicamente sobrecarregada em relação a quase tudo que ele encontrou na América. Mas Adorno nos lembra que é muito difícil criticar uma linguagem musical sem colocar a cultura a que ela pertence em julgamento. Estilos musicais não vêm (embrulhados) em pacotes fechados, sem relações com o restante da vida humana.
No entanto, Scruton discerne que a música pop, em muitos de seus estilos, tem um padrão mecânico e impositivo, no sentido de impor o indivíduo a dançar, mas, sozinho, agitando-se em uma multidão sem, por vezes, sequer interagir com uma pessoa, ao contrário da dança estimulada pela música popular e folclórica, onde pares e grupos respondem à música. O filósofo britânico também cita como característica notável da “regressão da audição” a pobreza melódica, quando expõe que muitas músicas do universo pop são “apenas permutações de um único conjunto de frases, diatônicas ou pentatônicas, mas mantidas em conjunto não por um poder intrínseco de adesão, mas por um compasso lento no fundo e uma sequência banal de acordes”.
Adorno, em outra frente, atacou o sistema serialista de Schoenberg, paradigma máximo de progressismo musical no século XX nos círculos acadêmicos, que dissolvia as propriedades naturais da construção melódica e harmônica (mais tarde, até a rítmica) em favor de uma artificial e forçosa “democracia dos 12 semitons”. O sistema serialista, em vez de ser trabalhado por seu potencial expressivo, como uma escolha estética, tornou-se um modelo de composição aclamado por um círculo mainstream limitado, que o colocou no patamar de música anticonservadora, por, supostamente, desconstruir tudo o que veio antes em termos de linguagem musical, quando deveria ser tratado – tal qual o passar dos anos foi corrigindo – como mais uma contribuição à linguagem musical.
Em seu referencial ensaio Filosofia da nova música, o crítico cultural alemão disserta sobre todas as implicações musicais e extramusicais possíveis do serialismo. A título de ilustração, no trecho abaixo ele comenta sobre as consequências do uso de intervalos melódicos anteriormente tidos como esdrúxulos (trítonos, sétimas e de nonas menores em diante), na composição serialista...
O detalhe melódico fica reduzido à mera consequência da construção total, sem ter contudo sobre esta o menor poder. Converte-se assim em imagem desse progresso técnico que enche o mundo (...).
Na música tradicional, o agora e o aqui da composição ajustavam-se continuamente, em todos os seus elementos, ao esquema tonal e o perfil das linhas (melódicas) estava delimitado por algo exterior e convencional.
...para, mais adiante, desmascarar:
Com a espontaneidade da composição, paralisa-se também a espontaneidade dos compositores de vanguarda. (...) (este) Deve admitir objetivamente a gratuidade e a fragilidade desta linguagem no ato da composição. Não bastam a permanente criação da linguagem e o contrassentido inerente a uma linguagem de alienação absoluta. O compositor (de vanguarda) deve ainda recorrer incansavelmente a artifícios de acrobato para suavizar dentro de limites suportáveis a pretensão da linguagem criada por ele mesmo, pretensão, contudo, que aumenta quanto melhor ele empregue essa linguagem.
Em outro artigo, A música do futuro, Roger Scruton discerne com precisão o caminho que Richard Wagner (1813-1883) trilhou, partindo da harmonia tonal até testar seus limites na ópera Tristão e Isolda, daquele precipitado por Schoenberg, o qual extrapolou a sintaxe musical até romper com a respectiva gramática. Por isso, Scruton chama o serialismo de “invenção”, em vez de “descoberta”, termo este que ele aplica às novas harmonias e às melodias cromáticas daquela ópera (“eventos musicais que emergiram como experimento e foram adotados porque soavam certo”), e pontua que a música de Wagner buscou ser avançada para atender uma concepção filosófica anterior a ela:
A ênfase de Wagner no futuro da música foi influenciada pela teoria hegeliana da história e pelo uso que Feuerbach fez dela. Mas essa ênfase também foi calcada em um real senso de tradição e no que a tradição significa. As inovações de Wagner cresceram organicamente do fluxo da música ocidental e suas descobertas harmônicas foram descobertas somente porque elas afirmavam a gramática de acordes básica da tonalidade diatônica. Foram descobertas dentro da linguagem tonal expandida.
Seja alienando-se das práticas sociais e musicais populares, como Adorno abordou, seja deteriorando-as, a exemplo do que Scruton dissecou, é patente que, derrubando-se ou empobrecendo-se a melodia, a harmonia e o ritmo, dissolvem-se juntos os respectivos nexos psicofísicos que unem música e indivíduos – e estes entre si. Por isso, compositores que emergem da música popular para a erudita, ou que guardam essa pretensão, tendem a respeitar os cânones da composição barroca, clássica e/ou romântica.
Já que falamos de astros da música pop, é emblemático o caso de Paul McCartney, que, no início dos anos 1990 assumiu o desejo de escrever música de concerto e, a despeito de críticas professorais e moralistas da mídia especializada, obteve boa vendagem de seus discos de obras sinfônicas e corais: Oratório de Liverpool (1991); Standing stone (1997), enorme poema sinfônico em 19 movimentos para coro e orquestra, escrito por encomenda da EMI para os 100 anos da gravadora; Working classical (1999), com arranjos e peças para quarteto de cordas, em sua maioria; Garland for Linda (2000), com obras e arranjos para coro; o oratório Ecce cor meum (2006); e o balé O reino do oceano (2011).
Em 2007, o crítico Allan Bozinn, no The New York Times, ao tecer considerações sobre o álbum Ecce cor meum, aproveitou para avaliar os crescentes mergulhos de vários roqueiros no universo erudito e comentou:
Astros do rock que se interessam por música clássica são grotescamente conservadores. Eles podem tocar os materiais musicais mais eletrificados, distorcidos e de acentuação agressiva, mas quando decidem escrever música clássica, ou o que eles pensam ser música clássica, empunham uma pena em vez de uma caneta. Com a exceção notável de Frank Zappa, cujos rascunhos refletem a fascinação dele por Edgard Varèse e outros modernistas, músicos de rock parecem pensar que as convenções do século XIX são o idioma atual de música clássica.
O oratório Ecce cor meum se enquadra nessa constatação. Mas o êxito da obra se deve justamente por tocar no gosto da maioria dos apreciadores de música clássica, como opinaram os blogueiros Darren De Vivo, da rádio WFUV de Nova York, e David R. Dunsmore. “Surpreende-me que alguém que escreveu para uma das correntes principais da música popular de nosso tempo também possa compor um trabalho aceitável no campo clássico. Independentemente de observações críticas secundárias, Ecce cor meum é um trabalho especial”, elogiou De Vivo, enquanto Dunsmore agregou: “Adoro a jovem natureza positiva de Paul e sua inventividade melódica. Posso ver Ecce cor meum se tornando uma peça muito querida, por que não? Nem toda grande música precisa causar rugas na testa ou deixar o ouvinte emocionalmente esgotado”.
Com os maestros de frevo que se aventuraram em maior ou menor grau na música de concerto – Clóvis Pereira, Formiga, Levino Ferreira, Duda, Guedes Peixoto... – ocorreu o mesmo: por mais que alguns deles houvessem ousado inovar na harmonia, na forma ou no andamento do frevo, gerando polêmicas de caráter provinciano, quando eles tiveram a chance de escrever música de câmara e sinfônica, caminharam, com exceções, pelas veredas do nacionalismo, do Neorromantismo ou do Neoclassicismo. Isso porque, como os compositores de música popular sabem, a preocupação com a caracterização da música – leia-se, do ritmo, da harmonia e da melodia – prevalece, a não ser que estivéssemos falando de compositores experimentais de música popular, como um Arrigo Barnabé.![]()
CARLOS EDUARDO AMARAL é jornalista, crítico musical, pesquisador e mestre em Comunicação (UFPE). Também pela Cepe publicou Clóvis Pereira - no reino da pedra verde, sobre o também maestro pernambucano. Organizou o livro Coletânea de crítica musical - alunos da UFPE (independente) e colaborou com o livro O ofício do compositor (Editora Perspectiva).







