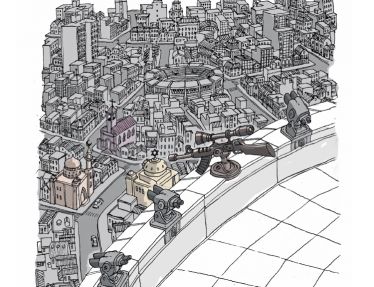
Em torno do livro 'Zama'
DEPOIMENTO LUCRECIA MARTEL
TEXTO LUCIANA VERAS
01 de Fevereiro de 2018

A cineasta argentina Lucrecia Martel, em passagem pelo Janela Internacional de Cinema do Recife, em 2017
Foto Aline Feitosa/Trago Boa Notícia/Divulgação
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 206 | fevereiro 2018]
PRÓLOGO
Era uma manhã de novembro de 2017, um sábado, e uma aguardada conversa entre a cineasta argentina Lucrecia Martel e a Continente finalmente se concretizaria no Cinema do Museu, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. No mês anterior, durante a 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Zama, seu filme mais recente, era uma das âncoras da programação. Sua presença, um chamariz, que decerto atraía a atenção de jornalistas do país inteiro. Um dia antes de chegar à capital paulista, contudo, a diretora de O pântano (2001), A menina santa (2004) e A mulher sem cabeça (2008) cancelara sua participação. Planos de entrevista suspensos, por hora.
Ainda em São Paulo, na correria que caracteriza o entrar e sair de salas no maior festival de cinema da América Latina, surgiu a notícia de que ela, no entanto, finalmente viria para a X Janela Internacional de Cinema do Recife. Planos de entrevistas renovados, por hora. E tais planos duraram até o dia em que a assessoria da mostra recifense convidou a imprensa para a coletiva com Lucrecia Martel. Detalhe inusitado: em 2016, haveria uma master class com ela, que terminou sendo cancelada.
Pois não é que os planos de entrevistas, ainda que coletivas, foram malogrados mais uma vez? Lucrecia perdeu a conexão no Rio de Janeiro e, por conseguinte, a hora para falar com os jornalistas. Chegou a tempo da sessão de abertura da décima edição da Janela e, no dia seguinte, a tal manhã de novembro, ensolarada como a típica atmosfera pernambucana, a diretora se dispôs a receber os “periodistas”. Estava simpática, acolhedora, elegante com um conjunto de calça e camisa de linho e seus óculos coloridos, uma marca registrada.
“Por duas vezes estive para vir aqui, e não pude, mas sempre tive muita vontade. Sempre me falaram muito dessa região, da gente, da cultura. Estou feliz por finalmente estar aqui”, comentou, como se a preparar os interlocutores em um preâmbulo para suas colocações. E o que se segue aqui são, principalmente, suas reflexões e digressões a respeito de Zama, coprodução entre Brasil, Argentina e outros oito países e adaptação de um romance de Antonio Di Benedetto – filme que levou anos para ser pensado, maturado e executado e entra em cartaz no Brasil no final de março. Como um brinde, irrompem, ainda, seus argumentos e devaneios sobre processos criativos e a lucidez de um pensamento cinematográfico exposto no devir do que ela mesma chama de “redemoinhos”.
ZAMA
Quando penso numa adaptação, em uma película baseada em um livro, ou seja, quando penso em Zama, agora já é difícil pensar que não é meu aquele roteiro. Que aquele texto não é meu. Claro, existe todo o processo de ler uma novela e de experienciar o que se passa no romance dentro dele próprio e da pessoa que o lê. E o que você faz com aquilo. Primeiro, trata-se de um processo grande, extenso, e que está tão dentro de mim, que já não sinto como se não fosse meu. Sinto que é. Claro que um romance tem, de fato, uma escritura que é muito mais do que trata obviamente aquela trama, aquela história e seu argumento. Mas tenho uma teoria que não está cientificamente comprovada, óbvio, mas que penso como se fosse uma solução de algoritmos. Esses algoritmos vão te obrigando a passar por alguns processos internos e, quando terminas de ler o livro, já não és a mesma pessoa.
Tudo isso vem organicamente, como se mudasse algo importante dentro de ti. Há uma diferença entre uma novela qualquer e uma grande obra e também nessas transformações a que chegamos. Essa é uma construção emocional enorme. E eu me envolvo emocionalmente. Então, sinto que escrevi Zama depois dessa transformação e que há uma relação entre os eventos e acontecimentos que transcorreram depois, mas a relação mais profunda entre Zama, o filme, e Zama, o livro, é esse processo. E esse processo vai muito além da leitura, do papel, das letras; ele é, também, um som, um ritmo, um zunido que vou recebendo enquanto leio aquele livro. Não sei como é ler essa novela em português, mas, em espanhol, eu lia e tinha que voltar, voltar, e voltar, e fazia assim (desenha com uma caneta num papel, como uma cobra atrás do próprio rabo), como redemoinhos, como caracóis… Zama não é um livro que pode ser lido em linha reta. Cada livro tem sua forma de ler – sua velocidade, seu ritmo. Essa velocidade da escrita, as voltas para ler e reler aquele mesmo parágrafo, tudo isso vai gerando um som. É um zumbido que imagino como se estivéssemos na voz de alguém, como se fôssemos imaginar como se parecesse aquele personagem.
Como é esse casting de vozes que alguém escolhe quando estamos a ler algo? É impossível falar de algum personagem sem que ele apresente algum som. É um som que está dentro de nós. Quando lemos uma cena violenta, por exemplo, é um barulho. Quando é uma cena calma, podemos até escutar o mar. É como se tudo fosse editado. O processo de leitura é um dos processos sonoros mais completos e misteriosos que existem. Pretendo investigar isso cientificamente, quem sabe algum dia. Escolher algumas obras de literatura com uma curadora e gravarmos com vários atores. Eu poderia dirigir apenas as vozes e eles fariam uma leitura que não era uma interpretação, e, sim, uma tentativa de encontrar um som, aquele som, que para mim tinha que existir dentro daquele personagem, daquela voz. Creio que não existiu ainda esse experimento. Estou convencida de que a literatura e o cinema, muito embora sempre digamos que eles têm caminhos tão distintos, não são tão distintos assim. Pois o som e o tempo já estão presentes em ambos. São matérias próximas.
E depois tem tanta gente que se aferra ao argumento, mas o argumento é uma desculpa. Ou mesmo uma recusa. A relevância do argumento tem uma percentagem muito pequena em uma obra, a meu ver. Te digo que, se estou fazendo um documentário de denúncia, a relevância do argumento é de pouca importância. É uma parte pequena, que te obriga a manejar a imagem, o som, mas o que quero dizer é que o importante está muito mais no outro, na organização, na montagem e no manejo do tempo.
REDEMOINHO
O processo criativo para fazer algo a partir de um livro que não era meu teve ligação direta com a potência do livro. A potência desse escritor. E com o fato de ler um romance que já virou seu e de ter um impulso de querer fazer algo. Li Zama e pensei: “Isso já é meu”. Tive o impulso de agir a partir disso. Então, primeiro quis muito fazer Zama, mas depois não quis fazer mais nada, talvez porque eu quisesse ficar presa naquele universo para sempre. Tem coisas que te chegam e nada acontece, mas tem coisas que tens que transformar em outras coisas.
Tecnicamente, com Zama, me deparei com essa estrutura de redemoinho e mantive certas coisas do concerto sonoro na construção geral do filme. Tratei de pensar em muitas imagens que fossem como déjà-vu, sabe? Um pouco como parecem aquelas imagens que se parecem sempre… Usei as mesmas frases, mas com personagens distintos, por exemplo, e as ideias de reiteração e duplicação. O déjà-vu gera uma sensação de que estamos, todos, num redemoinho do qual não conseguimos sair. Era isso o que eu queria. Depois, do que me apartei do livro foi da parte mais simbólica, que aparece muito.
Esse livro, na verdade, é uma prévia da aparição de grande boom da literatura latino-americana, mas já tem signos e sinais do que depois convencionaram chamar de realismo mágico. Não creio que Zama seja realismo mágico, mas há nele uma vontade de dizer as coisas de maneira oblíqua. Não quero o que é mais explícito, nunca. Prefiro o sonho, o redemoinho, e tratei de construir o filme como se fora as imagens que Zama tem em sua cabeça antes de escrever o livro.
PAUSA
Lucrecia demonstra clareza para pensar em Zama tanto sob a perspectiva de revisão da história latino-americana como pelo viés da produção cinematográfica – o filme é, de fato, símbolo de uma coalizão transcontinental. É, também, calcado em um livro que fala de um passado, mas um passado que reclama seu lugar no presente. “Qual o sentido de ler um romance escrito em 1956 em 2010 e, depois, lançar o filme baseado nesse livro em 2018? Em que tempo estamos? Qual o relato que deve ser feito?” são perguntas que ela mesma lança quando conversa com os jornalistas.
Transcorria a abafada manhã de novembro, o público já começava a chegar para acompanhar o encontro com a cineasta e nem todo mundo percebia que ela já estava por ali, gesticulando, sorrindo, embaralhando-se nas perguntas, mergulhando nas suas convicções para respondê-las. “Um dos relatos possíveis para Zama seria reafirmar uma história que está escrita por quem ganhou uma batalha. Nós, como latino-americanos, precisamos encarar uma coisa necessária: temos que olhar para o passado com hipóteses novas. Temos que nos liberar da história oficial para abrir novas portas”, comentava.
Alguém indaga sobre a quantidade de países envolvidos na produção. “Quando começa a sequência de títulos, as pessoas riem. São 10 países envolvidos… Brasil, Argentina e outros oito. Tem tanta gente, que não lembro. Às vezes, em algum festival, as pessoas chegam para mim e começam a falar sobre o filme. Pergunto ‘como é que sabes tanto de Zama?’. A resposta: ‘Ah, porque sou um dos produtores’”.
O filme custou 3,5 milhões de dólares, Lucrecia conta, e fala de plata com a mesma tranquilidade e espontaneidade com que fala das escolhas estéticas. “O filme custou isso tudo porque muito dinheiro se gastou fora. Ganhamos, por exemplo, um fundo na Holanda, mas, para fazermos lá, gastamos o dobro do que teríamos gastado se fosse na Argentina. Se o filme não tivesse esse incremento, custaria menos, é verdade, mas teve que ser assim para se usar a plata”.
MONSTROS
Não consigo pensar em meus personagens como se eles atravessassem um arco dramático. Não sei pensar assim, não posso, aliás, não consigo. Acredito, mesmo, que tenho uma incapacidade de olhar dessa forma. Não saberia o que dizer… Mas vamos lá: digamos que é uma invenção e uma arbitrariedade a invenção de um arco dramático, mas reconheço que se escreveram obras-primas com essa técnica. Mas, quando olho para Zama, o meu personagem, ou quando penso em qualquer outro personagem que eu já tenha escrito, eles me parecem como se fossem outros. Como se fossem, na verdade, um Frankestein, um monstro do pântano, um Godzilla ou qualquer outra mutação inesperada.
Por quê? Prefiro pensar neles assim, quando começo a esboçá-los, e inclusive não penso em quem os fará, se será mulher, homem, criança ou adulto, porque para mim o que importa na experiência são as pessoas. Sim, porque somos a única espécie do planeta cujas reações são inesperadas. Não podemos prever nada. Em uma família de membros do Partido Comunista pode muito bem, por exemplo, nascer um filho nazista. É muito surpreendente o que pode acontecer com a humanidade. Cada indivíduo traz uma surpresa dentro de si. Quando um filho nasce, é muito difícil saber o que vai acontecer ao longo de sua vida. Ou seja, pode virar um monstro.
Essa ideia clássica de monstro traz uma mensagem do que era a noção de divino no passado. Por exemplo, séculos atrás, um ruivo era sinal de que algo ruim passaria em uma comunidade. Assim como um albino, um siamês, era algo ruim. Se eles surgissem, alguma catástrofe certamente aconteceria naquela comunidade. O que é um monstro, então? É um organismo que traz algo divino e isso pode ser uma boa notícia. Na hora de escrever, para mim, a ideia de um monstro é de uma natureza instável, ou seja, é uma pessoa comum, como outra qualquer, eu ou você, e de repente vira um monstro. Essa natureza instável me serve para pensar as personagens, inclusive os aspectos de sexualidade, pois, indo nesse caminho, posso encontrar muito mais coisas do que se fosse pensar em Zama, por exemplo, na maneira de um arco dramático psicológico que ele teria que atravessar ao longo da narrativa.
Foi assim também nos meus outros filmes. A possibilidade de uma monstruosidade à espreita me interessa muito mais do que definir os personagens a partir de características mais determinadas ou que possam lhe determinar por completo. Quero o inesperado do humano. Quero, por exemplo, em O pântano, explorar todas as possibilidades daquela situação, daquele encontro entre aquelas famílias. Essa ideia vai muito além do roteiro, me leva além de tudo. Fico pensando, por exemplo, que um primo é uma categoria que existe na vida para lhe iniciar sexualmente. E esse pensamento me deu mais caminhos para pensar o desenrolar de O pântano do que se eu tivesse tentado adivinhar ou esquadrinhar como seriam todos aqueles personagens.
ESTILO
Usei, em Zama, o mesmo procedimento, ou melhor, mais ou menos o mesmo procedimento que usei nos meus filmes anteriores. Acontece que, dessa vez, estava tudo enriquecido com a linguagem dos próprios procedimentos narrativos de Di Benedetto. Não fiz outra coisa totalmente distinta, é bom dizer. Mas, pela primeira vez, usei música, algo que não havia feito antes, mas porque me parecia importante, já que a linguagem de Zama não é a realidade. Ele está um pouco em suspenso, como se separado, e a música afirmava essa distância. Agora, veja o mais incrível: encontrei essa música investigando no YouTube. É uma coisa incrível, pois é o que somos: são dois amigos ou irmãos que pertenciam, e não sei se isso é verdade, a uma comunidade de índios tabajaras. Isso é a América Latina: o desejo de um uma origem mítica, mas, ao mesmo tempo, a pretensão de mainstream.
Por outro lado, o som é um elemento que me é muito caro. Sempre. A onda sonora de um filme exerce diferentes formas de pressão. O silêncio, no cinema, não é apenas a ausência de algo que você esperava escutar, é a traição de uma expectativa. A trilha sonora e os diálogos compõem uma partitura e, muitas vezes, não sei bem o que estou estabelecendo, mas sei que o som e os diálogos me servem também para pensar o tempo e o espaço do filme. Em Zama, isso se vê também na mistura das línguas, dos idiomas… São tantas línguas no nosso continente! E tudo pode ser inventado para gerar um universo. Em Zama, me interessava também a dimensão mítica da América Latina e o que podia se sentir daí. Para explorar essa potência, era crucial trabalhar com o Brasil. O filme se passava numa fronteira e tudo poderia ser enriquecido, dentro e fora daquela narrativa, com a cultura brasileira.
FIM
Termina o momento em que Lucrecia Martel conversa com os jornalistas. Há uma fila enorme e as pessoas emitem sinais de ansiedade para que o encontro com ela comece, efetivamente, na hora marcada. Afinal, a expectativa persistia desde 2016. Encantada com “as ruas, a gente, a arquitetura” do Recife, ela elabora uma teoria: “A distância entre estar no Recife e ser brasileiro é algo muito certo. Há uma espécie de consciência heterogênea interessante e isso se vê nos filmes também”.
Muita gente da equipe de Zama é brasileira, em especial pernambucana, como a diretora de arte Renata Pinheiro e a montadora Karen Harley. Com eles, também, a cineasta de óculos hipnóticos e frases longas e sedutoras também se diz encantada. “A equipe foi maravilhosa. Criei, com eles, e agora com esta cidade, uma espécie de relação. Me sinto irmã, posso ver essa relação como sendo muito próxima, algo que me rodeia. Faz mais sentido estar aqui do que no Festival de Cannes”, sorri, com um brilho discreto ao piscar os olhos e um gesto cativante nas mãos.![]()
LUCRECIA MARTEL é cineasta argentina, diretora de filmes como O pântano (2001).
LUCIANA VERAS é repórter especial da revista Continente.






