
Biografias de canções e outras palavras
Futebol, filosofia, livros, showbizz, TV, boemia… E, claro, música, são os temas dos 'Contos da era das canções e outros escritos', do jornalista Aluízio Falcão, a ser lançado em novembro pel
Texto Aluízio Falcão
02 de Outubro de 2017
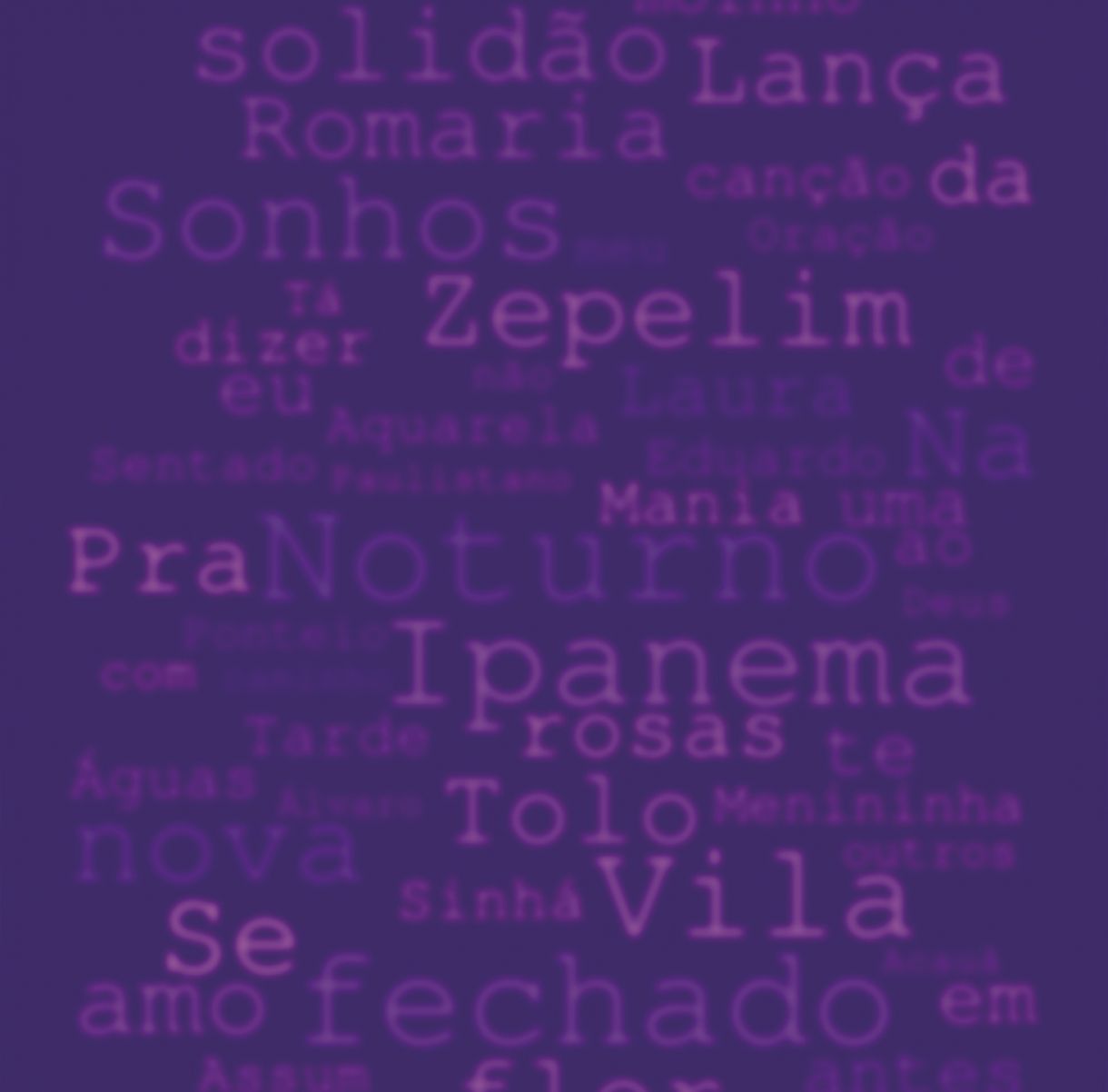
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 202 | outubro 2017]
PRIMEIRA PARTE
Contos da era das canções
Águas de março
Ao cair da tarde, em março de 1972, no sítio Poço Fundo, Antonio Carlos Jobim ouve uma pergunta difícil de responder. Testemunha, naquele refúgio, do nascimento de muitas de suas canções, a irmã Helena quer saber dele como fazia para criar tantas belezas. Talvez recomeçasse naquele momento, pela enésima vez, uma especulação em torno do chamado processo criativo. Mas o irmão ficou em silêncio por alguns minutos, contemplando a natureza ao redor. E, quando falou, não ofereceu nenhuma explicação racional ou didática. Apontou o infinito, as águas do rio, o horizonte. E disse apenas: “Está tudo lá. A gente vai buscar...”
Essa conversa aconteceu quando Tom estava trabalhando a composição de Águas de março, que muitos considerariam depois o seu trabalho máximo. Na noite anterior ele acordara Helena e o marido. Trazia escritos, em papel de embrulho, os primeiros versos dessa canção, encaixados em vários trechos da melodia já bem-adiantada: “É pau, é pedra, é o fim do caminho... (...) é o projeto da casa (...) é peroba do campo, é o nó da madeira (...) é o tijolo chegando...”
A melodia de Águas de março, como de todas as músicas até então feitas no sítio, foi iniciada ao violão, pois na casa ainda não havia um piano. Depois, as harmonias e tudo o mais foram trabalhados no Rio. A canção foi gravada pela primeira vez na coleção Discos de Bolso do Pasquim. De um lado, um compositor jovem, estreante, João Bosco, gravou Agnus sei, dele com Aldir Blanc; de outro, esse clássico de Tom Jobim que iniciava uma trajetória de impacto mundial. A primeira gravação, portanto, foi para promover um colega iniciante e talentoso. Só depois Águas de março ganhou o mundo, em versão para o inglês que o próprio Tom escreveu. O crítico Leonard Feather, um dos mais respeitados nos Estados Unidos, carimbou: “É uma das dez músicas mais belas do século”. No Brasil, Chico Buarque não deixou por menos: “Ás vezes acho que Águas de março é o samba mais bonito do mundo”.
Escrevendo a tradução da letra para o inglês, o próprio Tom Jobim teve algumas dificuldades, que ele explicou de forma bem-humorada: “Um dia, eu estava meditando em cima do verso ‘é um espinho na mão, é um corte no pé’ e percebi tudo. Como é que um americano iria cortar o pé, se ele não anda descalço?” Mas a versão foi completada e por muitos vista como uma das mais fortes letras em língua inglesa. Leonard Feather voltou a elogiar: “À primeira vista, parece um catálogo de substantivos monossilábicos. Adiante, seu efeito poético nos golpeia”.
Construção
Foi na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Imagens filmadas e movimentos de dança combinavam-se, no chão do Maracanã, para contar ao mundo a história do Brasil. Sucederam-se, em cenas da realidade momentânea, as florestas, os pássaros, o mar, os habitantes, desde o descobrimento até o nosso tempo. Para ilustrar o surgimento das grandes cidades, prédios brotavam magicamente do chão e eram escalados por bailarinos que representavam os operários da construção. A trilha sonora, em arranjo orquestral, arrepiava. Era Construção, de Chico Buarque, mostrando pela vez primeira sua cara melódica, instrumental, ocultando a letra famosa. O tratamento sinfônico evidenciava, sem qualquer acréscimo, a extraordinária beleza do seu tema reiterativo, como nas peças clássicas.
E como surgiu essa canção? Ela veio para inaugurar, em 1971, quatro anos depois de A banda, a fase madura da obra de um compositor que chegava, aos 27 anos, à condição de “unanimidade nacional”. A letra retomava a crítica social iniciada com Pedro Pedreiro, mas agora em novo e revolucionário formato. Em 1969, em Rosa dos ventos, gravada por Bethania, já fora experimentado o uso sequencial de proparoxítonas, mas dessa vez Chico transpunha todos os limites, embaralhando a letra inteira. Caetano Veloso deslumbrou-se e usou a frase “hiperestesia Buarque”, ou seja, o auge da sensibilidade estética. E Tom Jobim, abismado com a riqueza poética de Construção declarou que Chico fizera aquela letra como um “cavalo” a receber o espírito de entidade superior.
As linhas construtivas da canção terminam, todas, com proparoxítonas. Mas, acreditem, sem uma única rima, que todos consideravam o seu forte. Formando um desenho lógico, a ser desconstruído mais adiante, sem perder a beleza e arriscando-se como delírio, Chico lançava-se a um processo que exigia perfeição, e cumpria esse propósito. Imitando seu personagem, atirava-se no espaço, sem perder o fio narrativo.
Na primeira parte da história, o pedreiro-personagem, o lar, a mulher, os filhos, a saída para o trabalho. Na segunda parte, a rua e a chegada ao prédio em obras. Na terceira parte, o trabalho, o almoço, os pensamentos, o desapego, o voo para a morte. Tudo em 41 versos certeiros, mostrando que a letra soaria lógica em qualquer diapasão. Exemplo, entre muitos: “Dançou e gargalhou como se ouvisse música” e depois “E tropeçou no céu como se ouvisse música”. Ou “Beijou sua mulher como se fosse a última”, que se tornaria “Beijou sua mulher como se fosse a única”.
Depois do enorme sucesso, convidado a explicar-se, apenas uma frase: “Mexi nos versos como se fossem peças de um jogo no tabuleiro”. Simples assim, nenhuma sombra de exibicionismo. O mesmo sentido de modéstia risonha que usou uma vez, na Rádio Eldorado, quando anunciado como “um compositor genial e um centroavante esforçado”, ele disse: “Preferia ser anunciado como um centroavante genial e um compositor esforçado”.
João e Maria
A história dessa valsa com melodia de Sivuca e letra de Chico Buarque começa em 1947, quando Chico tinha apenas três anos de idade. Como assim? Bem, Sivuca já era então um sanfoneiro de fama, grande músico e respeitado compositor. Criou a melodia e mostrou a vários colegas, dentre eles Ruy Morais e Silva, compositor pernambucano e já famoso, antes, com o hit Casaca de Couro, gravado por Jackson do Pandeiro.
Ruy fez uma letra com o título de Amanhecendo e deu para uma cantora local, Nadja Maria, que imediatamente a incluiu em disco, sem repercussão. Trinta anos depois, já mundialmente famoso e radicado no sul do País, Sivuca encontrou Chico e entregou a mesma melodia para que recebesse uma letra.
No ano seguinte, 1978, o consagrado Buarque decidiu cobrir de versos aquela valsa de Sivuca. Ao escutá-la em solo de acordeom, logo veio a ideia de um menino e uma menina brincando de faroeste. O primeiro verso foi rápido: “Agora eu era herói / E o meu cavalo só falava inglês”. A melodia, linda e bem-executada, estimulava a criação, e logo brotaram outros versos que se destinavam ao sucesso do próprio letrista e também de Nara Leão. Antes da gravação, Chico, até achando graça da ideia de um cavalo em filme americano “falar inglês”, foi consultar alguns amigos sobre este versinho surreal: “o meu cavalo só falava inglês”. Francis Hime fez este comentário: “Acho que é um cavalo muito educado”.
O sucesso da valsa foi bem grande, e, uma noite, encerrado um show no Nordeste, Chico recebeu a visita de uma senhora, com um gravador na mão. Tocou para ele a valsa Amanhecendo, de Sivuca e Ruy Morais e Silva, que ela gravara em 1948, trinta anos antes. “Reconhece essa melodia?”. Chico, encabulado, respondeu que a recebera numa gravação enviada por Sivuca para letrar e desconhecia a gravação anterior. Tudo acabou sem briga. O próprio Ruy Morais e Silva, um sujeito de boa paz e harmonia, sabendo da nova letra de Chico, reagiu: “Está em boas mãos”. E Chico, encontrando Sivuca, brincou: “Poxa, Sivuca, que sacanagem! Você me deu música ‘usada’”... Mas quem saiu ganhando foi a canção brasileira. Essa melodia cumpriu assim o destino de receber, 30 anos depois de nascida, uma letra de Chico Buarque de Holanda.
Tá combinado e Sonhos
Estas duas canções, Tá combinado e Sonhos, destacam-se no repertório de Caetano Veloso. Uma como autor e outra como intérprete. Como ficará demonstrado, elas têm dois enredos que se cruzam numa só história. Sonhos foi criada por Peninha, um compositor de grande sucesso nas emissoras AM voltadas para o chamado segmento brega. Ele a compôs em 1977, numa noite de insônia. Gravada por ele mesmo, o disco vendeu 400 mil cópias e estourou nas periferias do Brasil. Entre os seus milhões de ouvintes maravilhados, estava um cidadão chamado Caetano Veloso, que imediatamente decidiu gravá-la em seu próximo disco. Caetano tem esse dom de perceber o ouro contido no vulgar, ou seja, toda a beleza popular daquilo que o pedantismo crítico aponta e despreza como “brega”.
Bem, estamos falando de Sonhos, aquela excelente canção que começou dizendo “tudo foi apenas uma brincadeira / e foi crescendo, crescendo, me absorvendo / E eu fiquei assim, completamente seu” e termina com “certamente eu vou ser mais feliz”. A gravação de Caetano estourou nas emissoras FM, o que significa dizer no estrato B do consumo, classe média alta.
Peninha, sensibilizado, queria retribuir a gentileza do colega. O produtor do seu novo disco, Antonio Carvalho, foi ao encontro de Caetano, contou a história e pediu uma composição dele para incluir no disco de Peninha. Bingo. Caetano se pôs a trabalhar, compôs Tá combinado e mandou para o autor de Sonhos, que gravou essa obra-prima e a fez chegar ao segmento mais popular do mercado.
Houve outras gravações, de Gal e Bethânia, excelentes. Mas conviria escutar a versão de Peninha, com um arranjo bem ao gosto do seu público e no mesmo estilo vocal que emocionou Caetano ao ouvir Sonhos pela primeira vez. A moral dessa história de fraternidade entre dois artistas de formação distinta pode ser uma frase lapidar do escritor Gabriel Garcia Marquez, grande apaixonado por boleros e outras pérolas do cancioneiro brega. Ele escreveu em sua autobiografia: “Precisei de muito anos para não fazer distinções entre música boa e música ruim”.
SEGUNDA PARTE
Outros escritos
Reminiscência de um certo Capitão Virgulino (8/4/2006)
Neste mês de abril, faz 80 anos que Virgulino Ferreira, o cangaceiro, ganhou patente de capitão redigida pela santa mão do Padre Cícero e assinada pelo doutor Pedro Uchoa, agrônomo do Ministério da Agricultura em Juazeiro, Ceará. Pedro era o mais alto representante do governo federal naqueles cafundós.
A íntegra do diploma, com o seu teor de absurdo e singeleza, é um retrato da época:
(...) “Nomeio ao posto de Capitão o cidadão Virgulino Ferreira da Silva, a 1º tenente Antônio Ferreira da Silva, a 2º tenente Sabino Barbosa de Melo, que deverão entrar no exercício de suas funções logo que deste documento se apossarem. Reconheço ao senhor Capitão Virgulino Ferreira da Silva o direito de se locomover livremente, transpondo as fronteiras de qualquer Estado com os patriotas. Dado e passado no Quartel das Forças Legais do Juazeiro, Batalhão Patriota, sediado em Campos Salles. Publique-se e cumpra-se. Juazeiro, 12 de abril de 1926”.
O tal Batalhão Patriota, a que se incorporava o novo oficial, era um anexo das Forças Legais com a tarefa de guerrear a Coluna Prestes, igualmente embrenhada nos grotões do Nordeste. Lampião mandou fazer uniforme para festejar a nomeação: túnica de brim cáqui, as platinas enfeitadas com três galões, botas, chapéu de feltro, cartucheira, munição do governo e boldrié chapeado. Tirou retrato com os parentes, envergando o fardamento de gala.
Estamos tratando de um evento singular na história social do Brasil. Um padre, mitificado pela extrema devoção popular e obediente ao caudilho cearense Floro Bartolomeu, foi levado a transformar bandidos em militares graduados, com direito a livre trânsito. A contrapartida era matar ou prender verdadeiros oficiais do Exército, comandados por Luiz Carlos Prestes, um rebelado contra a ordem vigente.
Virgulino Ferreira não cumpriu o trato, mas a “patente” recebida valeu para sempre. Ainda hoje o chamamos respeitosamente de “capitão”. O taumaturgo Cícero Romão, por seu lado, jamais perdeu a veneração dos seus romeiros, com direito a uma estátua gigantesca e ao tratamento de “padrinho”. A contradição decorre da ambivalência dos líderes, que se dividiram entre o respeito às classes dominantes locais e uma inegável compaixão pelos humildes.
Em Juazeiro, Virgulino foi entrevistado pelo médico e jornalista Otacílio Macedo, que publicou sua matéria no jornal O Ceará, de Fortaleza. Percebe-se que o repórter enfeitou a rude linguagem do entrevistado, mas o texto repercutiu intensamente. Foi levado ao cordel de João Martins de Athayde e registrado pelo escritor Nertan Macedo, um dos principais biógrafos do bandoleiro.
Depois de contabilizar em mais de 200 os seus embates até 1926 com os “macacos” (soldados), Virgulino definiu claramente a sua visão de sociedade: “Gosto geralmente de todas as classes. Aprecio de preferência as classes conservadoras – agricultores, fazendeiros, comerciantes etc. – por serem os homens de trabalho. Tenho veneração e respeito pelos padres, porque sou católico. Sou amigo dos telegrafistas porque alguns já me têm salvo de grandes perigos. Acato os juízes porque são homens da lei e não atiram em ninguém. Só uma classe eu detesto: é a dos soldados, que são os meus constantes perseguidores.”
Não teve ele o mínimo remorso dos atos praticados. A outro doutor pernambucano que o aconselhava a ouvir a voz da consciência e mudar de profissão, respondeu secamente: “Olhe doutor, há muito tempo eu comi a minha consciência com farinha”.
Lampião foi um justiceiro? Certamente, não, a menos que consideremos episódios isolados, como a farta distribuição de dinheiro a mendigos de Juazeiro e atos de proteção aos miseráveis da caatinga que o ajudavam a despistar as forças volantes. E. J. Hobsbawm exclui Virgulino da categoria de “bandidos sociais” (linhagem de Robin Hood), mas reconhece que os poetas populares do sertão viram nele traços generosos associados à imagem feroz. O historiador cita um verso: “Matava de brincadeira / por pura perversidade / alimentava os famintos / com amor e caridade”. Segundo Hobsbawm, os poetas populares admiravam o capitão porque ele provou que os fracos podem ser terríveis, quando humilhados e ofendidos. Faz sentido. Em 2005, na França, vimos o que aconteceu.
Sabemos que o vaqueiro Virgulino declarou sua guerra para vingar a morte do pai. Desiludido com as forças da ordem, que favoreciam os assassinos endinheirados, jamais depôs as armas. Arrebanhou para o seu bando centenas de jovens necessitados e sem perspectiva. Fernando Portela fez uma comparação para elucidar os seus leitores a respeito das causas do cangaço: em 1912, um camponês nordestino ganhava 500 réis por 11 horas de trabalho diário, enquanto 1 quilo de carne custava 800 réis e 1 quilo de feijão 400 réis.
O cangaço está definitivamente caracterizado como fenômeno social, embora o seu combatente mais famoso jamais tenha sido propriamente um defensor dos oprimidos. Ele não foi um herói nobre, mas foi herói. Tosco e vingativo, mas herói, mesmo sem caber na estirpe de Giuseppe Garibaldi ou Che Guevara. Jamais lhe faltaram bravura e carisma para fazer-se líder da mais duradoura guerrilha de todos os tempos.
No auge da fama do bandoleiro, o sertanejo Graciliano Ramos afirmava que Lampião nascera há muitos anos, em todos os cantos do Nordeste. Não se referia ao indivíduo Virgulino, que obviamente não poderia ter vindo ao mundo em múltiplos lugares, mas ao flagelo da miséria, comum a todos os estados da região. Sobre os métodos e hábitos do bandido, escreveu: “Lampião é cruel. Naturalmente. Se ele não se poupa, como pouparia os inimigos que lhe cai entre as garras?” O romancista lembrou as marchas infinitas do cangaceiro, longas horas de fome e sede, o sono curto, a delação que o vigiava noite e dia. O poeta Carlos Pena Filho desenhou sua figura em redondilhas: “Teus olhos apenas viam/ fogo, sol, lâmina, fumo/ e apetrechos de emboscada/ em vez de chapéu possuías/ um céu de couro à cabeça/ com três estrelas fincadas”.
A traição abateu Virgulino aos 40 anos, em plena força da idade. Foi surpreendido pela Força Volante orientada por um delator. Fez-se um cerco fatal ao esconderijo do bando na gruta de Angicos, estado de Sergipe, em 1938. Vários cangaceiros foram mortos à bala e depois decapitados, incluindo Virgulino e Maria Bonita, sua lendária companheira. Alguns conseguiram fugir milagrosamente, dentre eles o casal Zé Sereno e Hilda Gomes de Souza (Cila).
Em 1984, entrevistei a ex-cangaceira na Rádio Eldorado. Cila era uma senhora bonita e grisalha, de quase 70 anos. Ela disse que esteve no cangaço dos 14 aos 17 anos. A sua beleza adolescente inspirava os violeiros do sertão: “De Sereno quero a Cila/ de Lampião a Maria”. Fez uma comovida referência à memória do capitão morto, sem chances de lutar. Depois de narrar uma conversa com Maria Bonita (que, na véspera do massacre, confundiu lanternas de soldados com vaga-lumes) e dizer que Lampião era homem de grande fé religiosa, Cila deu sua versão do trágico amanhecer em Angicos:
(...) “Ele não pôde brigar, o primeiro tiro já atingiu sua cabeça. Lembro árvores caindo, xique-xique, mandacaru, facheiro, aquelas plantas caindo, caindo, porque os tiros cortavam tudo. Quando cheguei mais na frente, vi muitos soldados. Eu me deitei atrás de uma pedra, e eles atirando, atirando. Quando me levantei estava perto de Enedina. Acertaram na cabeça de Enedina e os miolos da cabeça dela caíram por cima de mim… Muita coisa me emocionou no tempo do cangaço. Por exemplo, ter um filho sem poder criar. E a morte de Lampião, porque ele morreu sem brigar. Um homem como ele tinha o direito de morrer lutando. Isso foi a emoção maior que eu tive, e também por ele morrer sem dar uma palavra com a gente”.
Em busca de Zelda Fitzgerald
(10/12/2005)
Quando completei 18 anos, ganhei de presente uma loira do Alabama. Na farra de aniversário, um amigo mais lido e mais vivido contou-me as aventuras de Zelda, mulher cuja beleza e desvairada sensibilidade incorporei, de pronto, ao meu imaginário de rapaz. O que mais me impressionou foi o escândalo que ela teria dado num bar de Nova York, durante a chamada era do jazz.
Era uma versão arrebatadora. No tal bar, havia pequena caixa envidraçada que guardava um botão de alarme. Era para ser quebrada e acionada em caso de incêndio. Pois me contou o amigo que Zelda quebrou o vidro com o punho e apertou o botão. Minutos depois chegaram os bombeiros correndo, perguntando onde estava o fogo. E Zelda, batendo com a mão ensanguentada no peito: “O fogo está aqui!”.
A realidade não chegou a tanto. Lendo pela vida afora quase tudo que se escreveu sobre essa mulher fascinante, sua vida com Scott, livros dele, poucos contos e até um livro dela, jamais encontrei a história do incêndio no coração.
Tantas e tamanhas foram as lendas a respeito dela e do marido, que um de seus biógrafos, J.R.Mellow, deu ao texto que produziu o título sugestivo de Vida inventadas. Houve meia dúzia de relatos sérios, em livro, sobre o grande romancista Francis Scott Fitzgerald; Zelda, mesmo sem ter publicado uma obra significativa, foi biografada três vezes, além de ser uma forte presença nas biografias de Scott, principalmente aquela escrita por Jeffrey Meyers. Ela viveu apenas 48 anos, quatro a mais que o companheiro. Sobreviveu à morte dele quase uma década. Talvez a circunstância dramática do seu fim – um incêndio no manicômio onde vivia – tenha inspirado a mentira contada sobre aquele escândalo em Nova York.
As andanças pelo mundo de papel em busca de Zelda começaram na cidadezinha de Montgomery, quieta província do Alabama, que a ninfeta inflamava com os seus procedimentos sexuais abertamente livres e um incrível poder de sedução. Formavam-se filas nos bailes para uma valsa com ela. Jovens aviadores do vizinho Camp Sheridan arriscavam a vida em piruetas sobre a casa em que morava. Há registro de dois aeroplanos que se espatifaram no solo. Admiradores da Universidade de Auburn, também próxima, fundaram uma espécie de fã-clube com as suas iniciais. Em 1919, quando Scott entrou em sua vida, Zelda não fazia outra coisa que não fosse despertar o tesão dos rapazes locais e visitantes. Fingindo um pouco de ciúme, ele na verdade se orgulhava daquela namorada flapper, tão dona de si e dos outros. Deu-se o noivado, logo interrompido entre lágrimas, porque o noivo ainda era apenas um romancista inédito, com 23 anos.
Em 26 de março de 1920, sai finalmente This side of paradise, que empolga crítica e leitores, vendendo no primeiro ano 50 mil exemplares – o que na época é estrondoso. Casam-se e rumam juntos para uma aventura enlouquecida, que dura exatamente duas décadas: a primeira, feita de viagens, festas, gastança, brigas e reconciliações; e a segunda, um longo martírio compartilhado, ele mergulhando no alcoolismo e ela numa incurável esquizofrenia, com algumas tentativas de suicídio.
No tempo de Zelda, não havia Prozac, e sua doença, hoje absolutamente controlável, empurrou-a para a loucura intermitente que a consumiu. Conta Kyra Stromberg que a jovem magnetiza e flerta livremente com todos ao redor, enquanto Scott parece lisonjeado com isso, porque “tudo o que ela é ou faz pertence a ele”. Todas as personagens femininas de sua obra ficcional, de um jeito ou de outro, inspiram-se em Zelda.
Dólares não faltam para o desfrute de uma vida luxuosa e barulhenta, em perfeita sintonia com os roaring twenties. Scott gosta de exibir Zelda e também de mostrar o dinheiro vivo que traz no bolso interno do paletó bem-cortado. Acende cigarros com notas de cinco dólares. As somas exorbitantes que recebe do editor vão se dissolvendo e ele não se cansa de pedir novos adiantamentos. Gira velozmente, com as próprias mãos, o implacável carrossel de dívidas que jamais consegue deter. Publicado o segundo romance, The beautiful and damned, o casal recolhe-se para infindáveis conversas noturnas, em que se alternam recriminações, confidências e uma incontrolável autoexaltação: “Ninguém tem o direito de viver fora de nós, e eles (os outros) destroem nosso mundo” – escreve Zelda.
Ela foi bailarina, pintora, contista e respeitada conselheira do marido, quando este enfrenta os habituais impasses de romancista. Dele ouve, sem qualquer submissão intelectual, alvitres de boas leituras e opções estéticas. Em pouco tempo, forma e amplia juízos próprios. Não se sabe como, pois gasta a maior parte da juventude em dissipações com Scott ou declarado apego ao luxo e a uma dispendiosa frivolidade. Mesmo assim acontece a pausa de nove meses para a gestação de Scotie, filha única do casal e marca viva dos seus tempos felizes. No futuro, a herdeira firmaria um testemunho definitivo: “Nunca pude aceitar essa ideia de que foi o alcoolismo de meu pai que levou minha mãe ao manicômio. Assim como também não acho que foi ela quem o levou a beber”.
O comportamento bipolar de Zelda, indício do grave distúrbio mental que ocorreria depois, gerou contradições no julgamento de sua personalidade. Foi anjo ou demônio, conforme seus humores em mudança constante e depoimentos de quem testemunhou, para o bem ou para o mal de sua reputação, uma dessas fases de conduta. Pode ser que encontremos a verdadeira Zelda nas cartas que escreveu de seu exílio do mundo (as internações) a partir dos anos 1930.
Para surpresa dos que valorizam mais os excessos nos bares e festas, nota-se em quase todos esses escritos pessoais de Zelda (e alguns de Scott) o que Jackson Bryer e Cathy Bark chamaram de “ética do trabalho”. Neles, o casal não se cansa de comentar o que está produzindo e sonha produzir.
Fiz uma viagem pouco frutífera, desde Montgomery, passando por Nova York e Paris, quando a vida era uma festa contínua para Zelda. A verdadeira história dessa mulher incomum não está nos ensaios ou biografias, mas nas cartas que partiram dos sete hospitais psiquiátricos em que esteve internada por 10 anos. Cartas que ela enviou a Scott, o seu parceiro de tantos erros e de tanto amor:
(...) haverá domingos e segundas-feiras de novo, que são dias diferentes um do outro, haverá Natal, lareira no inverno e coisas agradáveis em que pensar quando formos dormir – não passarei a vida nas escadas dos fundos dos teatros de revista e você não arrastará a sua pelas sarjetas parisienses – quem sabe tudo dá certo e eu me mantenha sensata...
(...) “Quero que seja feliz – se houvesse justiça, você seria feliz –, talvez ainda venha a ser”.
(...) “Felizes, felizes, para todo o sempre – da melhor forma que deu”.
(...) “Por que você não vai para Tryon? Poderíamos ter um verão muito feliz, nesse caso – você vai gostar de lá, e eu sirvo umas canções de passarinho e umas nuvens de verão muito boas, de café da manhã”.
(...) “As manhãs resguardadas me fazem lembrar de 25 anos atrás, quando a vida estava tão cheia de promessas quanto agora está de lembranças”.
Das respostas dele, que mostram queixas indecisas, um só trecho resume tudo: “Ah, Zelda, era para ter sido uma carta de extrema frieza, mas não me sinto assim em relação a você. Um dia já fomos uma única pessoa e sempre será um pouco dessa forma”.
Estão juntos hoje no cemitério da St. Mary’s Church. Na lápide, por iniciativa da filha, as últimas palavras de O grande Gatsby, que resumem a sua busca (inútil) de felicidade: “Assim, continuaremos a remar, opondo-nos à corrente – e flutuando, sem descanso, em direção ao passado”.![]()
ALUÍZIO FALCÃO, nasceu em Caruaru e veio para o Recife na década de 1950, onde começou sua carreira como jornalista. Em São Paulo desde 1964, atuou como publicitário e diretor de programação da Rádio Eldorado e produtor da gravadora Eldorado. Em 1998, lançou a coletânea Crônicas da vida boêmia, pela Ateliê Editorial.






