
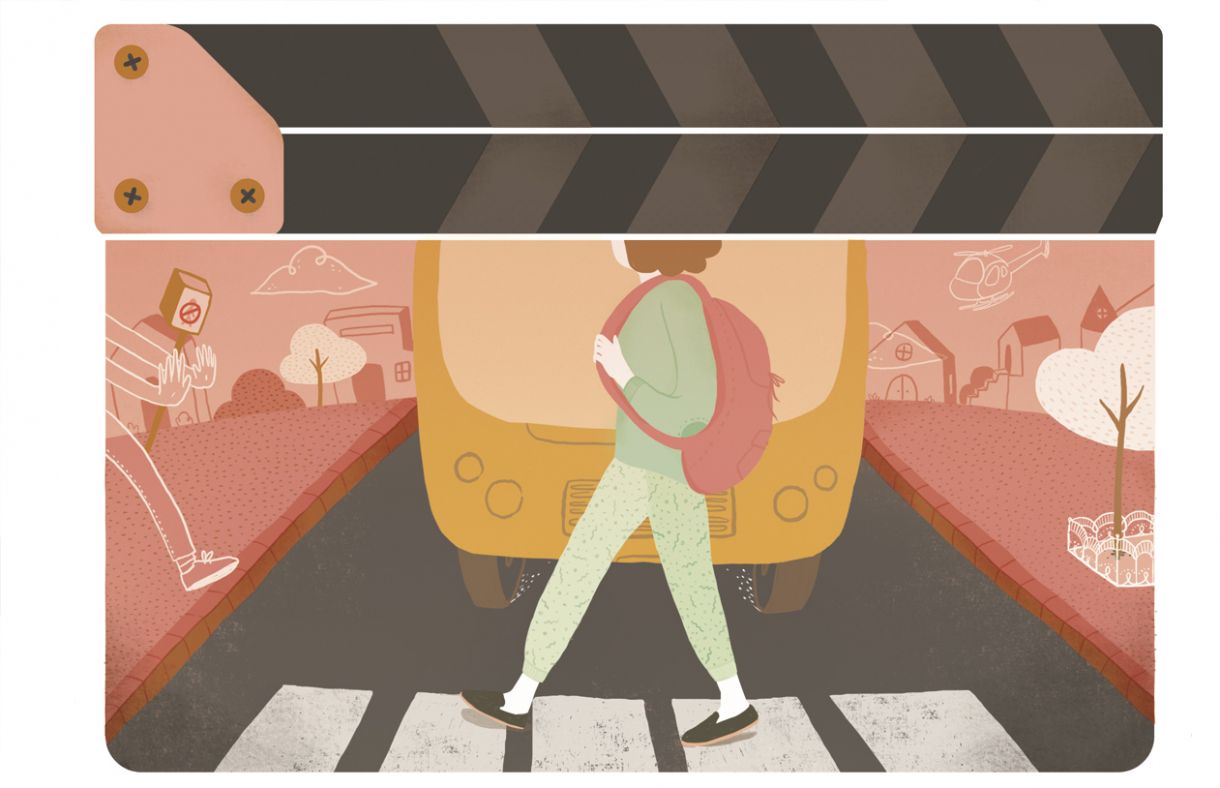
O cronista se prepara para atravessar a Luiz Leão a pé. Ao seu lado, outra criatura do pântano espera para cruzar a rua
Ilustração Maria Júlia Moreira
[conteúdo na íntegra (degustação) | ed. 200 | agosto 2017]
Primeiro, o cenário e os personagens. Estamos numa rua comum, no Centro de Curitiba. Ela se chama Luiz Leão, e fica perto da casa do cronista. É uma rua sinuosa e de mão dupla. Um meio-fio estreito a divide em duas pistas. De onde está, no cruzamento com a João Gualberto, o cronista vê passar muitos ônibus. Biarticulados, ligeirinhos. Vê estações-tubo lotadas. Durante décadas, muita esperança foi investida em veículos e plataformas dessa natureza. Este seria o nosso passaporte para a modernidade. Hoje, por aqui, ninguém mais se empolga com os ônibus, será que progredimos?
O cronista se prepara para atravessar a Luiz Leão a pé. Ele aguarda na esquina do Passeio Público e quer chegar à do Colégio Estadual. Enquanto o sinal não fecha, observa os helicópteros sobrevoando a cidade, e os compara a libélulas gigantes, clichê que automaticamente o transforma no ínfimo habitante de um brejo.
Ao seu lado, outra criatura do pântano espera para cruzar a rua. Ele não a conhece. É uma menina de, talvez, 12 anos. Também olha para o céu. Os helicópteros a enfeitiçam, como mariposas fariam a um gato. Combina uniforme azul, mochila rosa, tênis pretos sem cadarço, óculos de grau de aro roxo. Prende o cabelo castanho com uma tiara de orelhas felinas. Se sua infância já acabou, terá sido contra a sua vontade.
E agora, finalmente, a ação. O cronista, que é um ansioso, se aproveita de uma breve trégua no trânsito para correr até o meio-fio, cumprindo metade de sua travessia. Distraída, a menina o segue, vagarosa, sem atentar para o sinal ainda aberto. Pisa o asfalto, presumindo-se segura, alheia à veloz aproximação de um ligeirinho, a menos de uma quadra de distância.
Um pressentimento ruim obriga o cronista a olhar para trás. Ele vê a menina e vê o ônibus. Faz os cálculos necessários e conclui: por culpa dele, ela será atropelada em cerca de cinco segundos. Assim, para poder salvá-la e redimir-se, precisará deformar, o quanto antes, o tempo desta narrativa.
Apostando na funcionalidade dos imperativos, o cronista grita uma ordem: ônibus, menina, olhe o ônibus. Aponta um lugar às costas da moça, mas ela não olha para este lugar, e nem se vira, apenas encara o homem, sem entendê-lo. Pelo jeito, o cronista não é muito bom nisso de se comunicar objetivamente, será um problema seu de dicção ou de carisma?
Não se sabe. Só que uma vida está em jogo, e é preciso insistir. Por isso, o cronista gesticula e berra ainda mais alto: o ônibus, menina, o ônibus! Sim, ele chega a exclamar, coisa rara, os curitibanos costumam esquivar-se das exclamações, mas em casos como este, de desastre iminente, o seu uso há de ser obrigatório, dane-se a elegância dos pontos finais, uma criança será arremessada pelos ares, à merda com os pudores pontuativos!
Nos olhos da vítima, porém, ele só vê interrogações, embora mudas: o que esse tio quer comigo, será tarado? De medo, a menina até desacelera, será surda? O cronista cansa das próprias conjecturas, a narrativa tem que avançar, um ônibus não pode demorar tantos parágrafos para vencer 100 metros, é hora de abandonar os discursos e as pantomimas! Ele estende um braço à mocinha, estica-se como se colhesse pitangas, vai puxá-la para si, mas ela se apavora, julga-se atacada, dá um passo atrás e petrifica-se no asfalto, à disposição do acidente.
Então é isso, pensa o cronista. Ela morrerá olhando para mim, estava escrito, é este o desejo do roteirista, do diretor, dos produtores associados. Só não será, quem sabe, a vontade do ônibus. Não, ele não quer arremessar uma criança pelos ares, matar não faz parte de suas atribuições, não foi para isso que o montaram. Já buzinou 10 vezes, e vem se refreando de longe, a borracha de seus pneus fritando, cantando a própria inocência: não nasci para atropelar meninas, ainda ontem, na mata, eu alimentava uma seringueira de 200 anos, ainda ontem eu era o lar de amoráveis espíritos da floresta, ainda ontem fui látex no fogo, como é que de repente estou aqui, fedorenta e fumegante, matando uma mocinha?
Mas não, nem o lamento da borracha, nem o teatro do cronista, nada será capaz de salvar a menina. Dentro do ônibus, os passageiros se chocam em vão. Por ela, são lançados uns contra os outros. Esfregam-se, abraçam-se à força. Ninguém ali se conhece, ou conhece a vítima lá fora, mas todos se ferem e embolam para poupá-la, deixam cair bolsas e máscaras. Sim, em nome dessa menina desatenta, tudo se confrange.
E então a apelação, a jogada emocional, o lance fantástico. Projetado nas nuvens, entre os helicópteros, o cronista vê um filme. É o curta da vida dela, da moça que vai morrer. Ele a vê nascendo, um bebê brasileiro do século XXI, numa família de classe média, suburbana. A mãe vende roupas, o pai, carros. Ele vê sua irmã caçula, com quem a menina reparte o beliche e as bonecas. Vê natais e páscoas, uma bicicleta de rodinhas, um bufê de aniversário, o celular com adesivos de princesa, as novenas na vizinhança, os cultos na Universal, aulas de inglês e robótica, uma praia chuvosa, a casa da dinda em Shangrilá, os jogos de betes no antipó. E vê o instante em que, pela primeira vez, ela se apaixona: é um colega da escola, um piá feio e que tira notas baixas, mas que ela quer beijar um dia, botou isso na cabeça, virou questão de honra. Pena o filme já estar acabando, e os créditos subindo, ao menos é o que parece.
Mas só parece. Porque o roteirista aciona os freios a tempo e o ônibus para, e quase encosta na moça, como um dragão carinhoso que lhe farejasse a bunda, empurrando-a para a sequência de sua vida. É uma reviravolta, e o diretor a celebra com um sobe som. O cronista volta a interpelar a menina, tudo bem? Mas a protagonista se mantém calada, cruza a Luiz Leão, quieta, e foge ladeira acima. Vai em busca não daquele beijo, mas, antes, das falas a que tem direito. ![]()
LUÍS HENRIQUE PELLANDA, escritor e jornalista curitibano, autor dos livros O macaco ornamental, Nós passaremos em branco, Asa de sereia e Detetive à deriva.







