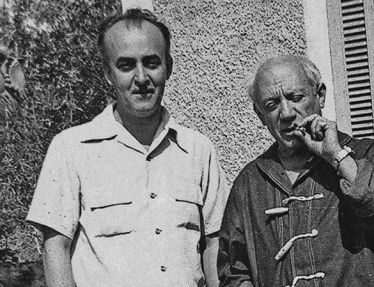Lugar de devoção, tradição e amor
Morada do Dalai Lama, vila fincada nas montanhas dos Himalaias, numa área cedida e protegida pelo governo indiano, abriga, em silêncio, a resistência do povo tibetano em exílio
TEXTO Lia Beltrão
01 de Julho de 2016

Entre 1989 e 2009, a cidade de Dharamshala registrou a chegada de cerca de 80 mil refugiados tibetanos
Foto Lia Beltrão
[conteúdo da ed. 187 | julho de 2016]
Eu não sabia nada. Não sabia das montanhas nevadas e do vale a perder de vista, assim, da minha varanda. Não sabia da força dos velhos e da elegância das mulheres. Não sabia das histórias de resistência, das fugas às cegas pelos Himalaias, das dezenas de monges e monjas que atearam fogo ao próprio corpo. Não imaginava que fosse possível que coexistissem com a dura realidade de uma vida em exílio gestos tão doces, crianças tão livres. Não sabia que cada comércio da vila onde vim morar por quase um ano exibia – cercada por velas, flores, frutas, tigelas cheias d’água – uma fotografia do Dalai Lama. Não por decreto, mas por devoção, por tradição, por amor. Não sabia que tradição, devoção e amor eram, para a maioria dos moradores do lugar, uma coisa só. E que cada uma dessas palavras adquiriria para mim, uma ocidental aqui na Índia, um sentido que eu não sabia ser possível.
McLeod Ganj é uma vila tibetana fincada nas montanhas dos Himalaias, no estado de Himachal Pradesh, extremo norte da Índia. É a primeira morada de muitos refugiados e sede do governo tibetano em exílio, concentrando importantes instituições, desde o Parlamento até a Faculdade de Medicina e Astrologia tibetana. A morada desse que é um dos líderes religiosos mais populares do planeta é tecnicamente um tibetan settlement, uma área cedida – e protegida – pelo governo indiano ao governo tibetano em exílio, dentro dos limites da cidade de Dharamshala.
Entre 1989 a 2009, Dharamshala registrou a chegada de cerca de 80 mil refugiados tibetanos: homens, mulheres e crianças que, pondo em risco as próprias vidas, deixaram o Tibete, quase sempre em fugas de dias e até semanas de caminhada pelas montanhas dos Himalaias. Esse número tem diminuído drasticamente a cada ano, na medida em que as táticas de controle e segurança do exército chinês tornam-se mais desumanas e brutais.
O tema da ocupação do Tibete pela China, e mais especificamente as autoimolações de tibetanos como forma de protesto contra o massacre cultural, ambiental e social que tem ocorrido no país desde 1959, esteve no primeiro lugar entre os 10 assuntos menos midiatizados do mundo, segundo um ranking da revista Time em 2011. Um silêncio midiático que faz um triste paralelo com a própria vila. Apesar dos monumentos em homenagem aos tibetanos que atearam fogo no próprio corpo, em manifestação por um país livre, e de um museu dedicado a contar a história de destruição – que infelizmente segue a pleno vapor –, paira na cidade uma espécie de mudez pactuada sobre o tema. Por motivos de segurança, é necessário guardar segredo. Talvez para esquecer, suportar e superar a dor também.
RESILIÊNCIA
Mas há vozes que sempre escapam. Pude ouvir o relato de um monge sobre sua fuga pelas montanhas na fronteira do Tibete com o Nepal aos 14 anos. A narrativa sobre ter passado três dias sem comer, ter tido seu tênis destruído nos dois primeiros dias de caminhada e andar de pés descalços com a neve até quase a cintura era contada com uma leveza inacreditável. Ele ria sinceramente, relembrando os próprios pensamentos infantis, como: “Melhor encontrar os guardas chineses, quem sabe eles nos ofereçam alguma comida”.
Histórias como essa estão presentes no coração de cada família, nos templos onde se reúnem os monges, na principal escola da cidade – onde crianças são tolhidas, às vezes para sempre, do convívio com os pais, para ter a chance de falar sua língua e educar-se dentro de sua própria cultura. A realidade do exílio tibetano na Índia não é um acontecimento que pertence ao passado, é algo tragicamente atual, experimentado por um povo cuja capacidade de resiliência é extraordinária.
Tanto que essa comunidade de refugiados, fundada em 1960, é hoje um importante ponto turístico da Índia. Pequena – cerca de 10 mil habitantes –, atrai não apenas ocidentais que praticam ou se interessam pelo budismo tibetano, mas também, e cada vez mais, os próprios indianos, que agora integram uma galopante classe média. A vila, que há cerca de 10 anos não possuía mais do que algumas pousadinhas e alojamentos baratos, hoje já esbanja lojas sofisticadas, alguns bons e caros hotéis, e muitos cafés moderninhos servindo expresso de qualidade – produto raro na terra do chai. Aos domingos, famílias indianas com suas roupas coloridas enchem as estreitas ruas da cidade, prestando reverências às deidades nos templos budistas, comprando suvenir dos tibetanos e comendo os famosos momos – espécie de pastel cozido no vapor. “Os indianos vão a McLeod para sentir que não estão na Índia”, falou-me uma amiga do Rajastão.
Mas, mesmo com o frenesi do turismo, é possível sentir no ar, impregnado nas ruas e nas montanhas, o perfume do darma, os ensinamentos de Buda. Os tradicionais debates filosóficos, prática fundamental dentro do treinamento monástico, acontecem diariamente nos pátios dos muitos monastérios da vila. Por todos os lados, monges e monjas vestidos em seus trajes bordôs exibem, na expressão de seus rostos e nos seus gestos, a virtude que advém do trabalho duro, do esforço constante em seus estudos e práticas religiosas. Novidades sobre aulas e cursos com gueshes e rinpoches – como são chamados os professores da tradição – são tema constante das conversas nos cafés e nas ruas, e claro, atualizações sobre a agenda do Dalai Lama e sua programação na cidade estão sempre na pauta dos encontros.
DALAI LAMA
McLeod, na verdade, parece girar física e sutilmente em torno do Dalai Lama. Por entre as árvores do bosque ao redor do complexo do Monastério Namgyal, onde está localizada sua casa, há um caminho de pedras, cheio de bandeiras, rodas de oração e estupas – esculturas simbolizando o corpo de Buda. Em tibetano, o ato de dar voltas em torno de locais sagrados tem um nome próprio: kora, uma prática comum entre budistas. Todos os dias é possível encontrar tibetanos, especialmente idosos, com uma bengala em uma mão e uma japa mala (espécie de rosário) em outra, recitando mantras e girando as rodas de oração com suas sílabas sagradas em tintas coloridas.
Em McLeod, a sensação é de que não apenas as pessoas, mas os animais, os negócios, as ideias estão todos em kora, orbitando como planetas em torno desse poderoso referencial de ética, bondade e bom senso que é o Dalai Lama. Há poucos anos, era ele o líder político do governo tibetano em exílio. Assim, também a política se movia – e para muitos ainda se move – em kora ao seu redor.
Oficialmente, o governo tibetano em exílio adota em relação à ocupação chinesa uma postura chamada de “abordagem do Caminho do Meio”, em referência a um famoso e revolucionário ensinamento do próprio Buda. Essa abordagem está descrita da seguinte maneira na página oficial do Dalai Lama: “O povo tibetano não aceita a atual situação de domínio do Tibete imposta pela República Popular da China, mas, ao mesmo tempo, não busca independência para o país”. Essa postura está baseada na convicção de que “se os povos tibetanos e chineses são capazes de coexistir em pé de igualdade, isso serve como base para garantir a unidade das nacionalidades, estabilidade social e integridade territorial da República Popular da China”.
A abordagem do Caminho do Meio foi adotada pelo governo tibetano apenas depois de anos de tentativa de diálogo sobre a independência do Tibete com o governo chinês, sem sucesso. Se, por um lado, ela é a radicalização corajosa do princípio da não violência, por outro, deixa muitos tibetanos e ativistas da causa por um Tibete livre com uma sensação de completa impotência.
Muitos estudiosos da cultura tibetana e do budismo têm lançado luz nesse entrelaçamento entre política e religião no processo da diáspora. Da Universidade de Freiburg, na Alemanha, uma jovem socióloga de 28 anos resolveu tomar esse tema como objeto de estudo para um artigo acadêmico e explorou a relação entre o budismo tibetano e a luta por soberania, na percepção daqueles que viveram a diáspora e o exílio na Índia. An Qi Liu é asiática, ativista política, feminista. Tem se aproximado do budismo com precisão científica e devoção, tal qual se sugere nos monastérios. Sua nacionalidade: chinesa.
An Qi e eu nos conhecemos em um retiro budista aos pés dos Himalaias, e ela foi a primeira – e única – pessoa da China que conheci na Índia, uma vez que é politicamente arriscado para um chinês visitar comunidades tibetanas em exílio. Ela contou que, até ir morar na Europa, acreditava que os tibetanos estavam “muito felizes em serem parte da China”. E mais: qualquer pessoa que viesse falar o contrário, ela rebateria com agressividade. Depois de viver mais de quatro anos na Alemanha, sua postura mudou radicalmente. Recentemente, encontrou monges tibetanos em exílio em McLeod que, ao descobrirem que ela era chinesa, disseram felizes: “Que legal! Somos do mesmo país!”, ao que ela respondeu: “Não, vocês não podem dizer isso! Eu sou chinesa, vocês são tibetanos!”. Hoje, ela adota uma postura política pró-Tibete e entende os riscos reais desse envolvimento para sua própria vida. “Voltar para a China é sempre tenso para mim. Há sempre o risco de uma prisão.”
NÉCTAR
Ouvi um monge indiano falar que é incalculável a bondade dos tibetanos com a Índia: eles foram capazes de transplantar perfeitamente para o seu país a filosofia budista oferecida pelos pânditas (brâmanes letrados) indianos, preservando nos mosteiros os ensinamentos que conduzem os seres à liberação do sofrimento (mesmo quando eles tinham desaparecido na terra onde surgiram). Para ele, o fato de a Índia, sendo um país paupérrimo e cheio de problemas internos, ter em 1959 aberto suas fronteiras e oferecido sua terra para ser a nova morada de centenas de milhares de refugiados tibetanos é apenas o começo do pagamento dessa dívida de bondade.
Essa fala revela a força do secularismo indiano – que não é teórico, é cultural. Não há nada mais emocionante do que testemunhar a reverência sincera dos turistas indianos às deidades budistas. Com mãos em prece, em um templo radicalmente diferente do seu, eles rezam com devoção, capazes de admirar profundamente o “outro”, o diferente, sem precisar mudar nada. Capazes de ajoelhar-se para o que não é seu – e que não precisa ser.
Distante dessas montanhas – no Brasil, na China, na Europa –, parece que vivemos um tempo de intolerância e ódio, e diariamente ateamos fogo, não em nosso corpo em protesto, mas em nossa própria capacidade de transformação e amor, deixando o fascismo se espalhar como um vírus. Nesse tempo, o coração espaçoso dos indianos e a resistência pacífica e firme dos tibetanos são como néctar. É água fresca para quem tem sede. Definitivamente, o “outro”, o diferente, não é o problema. Falta de amor é. ![]()