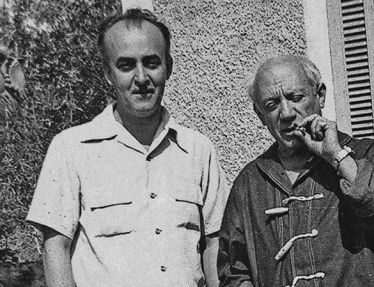Eustáquio Neves: como um arqueólogo
O fotógrafo atua como um arqueólogo, trabalhando questões étnicas, religiosas, sociais em imagens submetidas a um sofisticado processo de manipulação
TEXTO Luciana Veras
01 de Julho de 2016

Realizado em 1997, ensaio de Eustáquio sobre as peladas de várzea é um de deus trabalhos mais notórios
Foto Eustáquio Neves/divulgação
[conteúdo da ed. 187 | julho de 2016]
“O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor; embora inconsumível, o tempo é nosso melhor alimento; sem medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de maior grandeza: não tem começo, não tem fim; é um pomo exótico que não pode ser repartido, podendo entretanto prover igualmente todo mundo; onipresente, o tempo está em tudo”… Assim transcorre uma passagem de Lavoura arcaica, escrito por Raduan Nassar em 1975, que bem poderia servir de epígrafe para a obra do fotógrafo e artista visual mineiro Eustáquio Neves.
Nascido em 1955, na pequenina Juatuba, José Eustáquio Neves de Paula é um cidadão do mundo. Já morou em Belo Horizonte, São Paulo e Londres, viveu em um povoado de 240 habitantes chamado Extração e hoje reside em Diamantina. Se houvesse seguido o roteiro para o qual parecia destinado, seria químico industrial. Mas largou a profissão para se dedicar à fotografia. Nesse mergulho artístico, rastreia as evidências da passagem das horas, dos anos, das décadas. “Tempo é primordial. Ao longo da minha carreira, fui aprendendo isso. Cada coisa tem seu tempo. Quando você o respeita, tudo flui de uma forma natural”, situa.
Neves olha, conversa e trabalha como um arqueólogo. Sem afobação alguma, examina seus objetos de análise para neles ressaltar o transcurso da vida: “No meu trabalho, faço uma interpretação do mundo à minha volta, com vários recortes. A partir deles, tento criar uma narrativa com pequenas fábulas e vários tempos, já que uso diversos negativos. De alguma forma, com todas essas camadas, quero contar aquela experiência visual de vivência com o que está no meu entorno”. Foi assim, por exemplo, na série Arturos (1993-1997), em que observou uma comunidade em Contagem (MG) em que homens negros revivem ritos afro durante a festividade de Nossa Senhora Aparecida do Rosário, propondo um olhar delicado sobre o sincretismo religioso no Brasil.
A mesma sutileza é percebida nas fotografias que compõem Futebol (1997), um dos seus trabalhos mais notórios. Nelas, o artista visual busca não glamorizar uma “pelada” e, sim, enxergar o fenômeno agregador por trás do esporte nacional. “Essas fotos estavam prontas na minha cabeça desde muito tempo. Havia um lugar por onde eu passava todo dia de metrô em Belo Horizonte e sempre via as pessoas jogando bola, até que um dia me chamou a atenção ao ponto de querer registrá-las. Não sou uma pessoa ligada ao futebol, nem mesmo tenho um time, mas sei que é um esporte que socialmente agrupa as pessoas de diferentes classes, independentemente de dinheiro. Quis olhar para o futebol por esse viés”, relembra.
Ele transcende a estética para estabelecer conexões profundas com os itens amealhados nessa arquelogia étnica, religiosa, social. Em O tempo em camadas, exposição com as séries Objetivação do corpo (1999), Máscara da punição (2004) e Dead horse (2009) que o Capibaribe Centro da Imagem/CCI sediou em fevereiro deste ano, no Recife, percebia-se a experimentação dos negativos não como pirotecnia visual, mas para ampliar o horizonte narrativo de cada obra e revelar tanto do processo como do próprio artista. Máscara da punição, por exemplo, surgiu de uma fotografia antiga da sua mãe, manipulada de modo a exibir o artefato que cobria a boca dos escravos acusados de roubar mantimentos.
O mesmo se deu no conjunto imagético de Valongo: Cartas ao mar, mostrado ao longo de 2015 no Rio de Janeiro e no Museu Afro Brasil, em São Paulo. Em uma alusão aos navios negreiros vindos da África, foi criado a partir de uma pesquisa que o fotógrafo fez nos arquivos públicos e na zona portuária da capital carioca. Durante séculos, o Cais do Valongo foi o principal porto de chegada dos escravos – há estimativas de que mais de dois milhões de africanos desembarcaram ali. Eles eram negros como Eustáquio Neves; suas vidas e mortes, até hoje, tendem a ser desconsideradas na historiografia oficial brasileira. Para o artista, contudo, a sobreposição de memórias nessas imagens específicas – interferências como carimbos e texturas de tinta dão ao espectador múltipla oferta de significados – simboliza uma reflexão sobre o papel da arte.
“Cabe à arte sempre questionar e sempre tentar trazer mudanças com seu questionamento. O que faço hoje, por exemplo, só existe por conta de Arthur Bispo do Rosário”, revela, mencionando como referência o artista negro, pobre e sergipano falecido em 1989, que, ao transitar entre a genialidade e a loucura, redefiniu parâmetros na arte contemporânea brasileira. Como nas peças manufaturadas por Bispo do Rosário, as experiências e os tempos de Eustáquio Neves estão contidos nas suas imagens. “Meu trabalho é autobiográfico. São minhas origens, de onde venho, como vim parar aqui. Afinal, por que estou aqui?”, arremata. ![]()