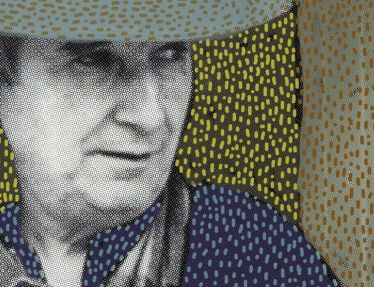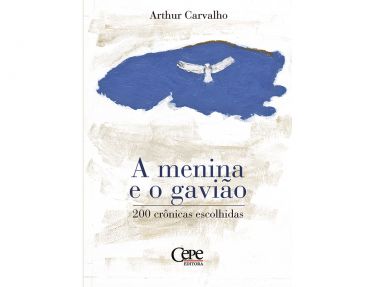
Artes visuais: O papel das instituições
Artistas e curador apontam um momento difícil na cena artística local, comparado com a efervescência vivida no final dos anos 1990 e início dos 2000
TEXTO Revista Continente
01 de Setembro de 2015

Foto Alcione Ferreira
Chegamos à penúltima Conversa, seção criada especialmente para circulação neste 2015, ano em que a revista Continente comemora 15 anos de publicação ininterrupta. Navegamos pelo Cinema (janeiro), Artes Cênicas (março), Música (maio), Literatura (julho) e agora chegamos às Artes Visuais. Neste percurso, convidamos profissionais dos setores, ligados direta e indiretamente à produção: escritores e críticos, cineastas e professores, para que conduzissem, eles mesmos, os assuntos que acham prementes no momento. Neste encontro, profissionais da cadeia artística apontam, sobretudo, para a atual desarticulação das instituições e das políticas públicas para o setor.
MARIANA OLIVEIRA Agradeço a presença de vocês nesta edição da Continente Conversa, que comemora os 15 anos da revista. Para iniciarmos, queria que vocês fizessem um panorama da cena das artes visuais em Pernambuco, hoje.
LUCIANA VERAS Se chegasse algum estrangeiro aqui e pedisse uma apresentação do panorama das artes visuais em Pernambuco, hoje, como vocês o apresentariam?
GIL VICENTE Gostaria de sublinhar o que aconteceu de Marcus Lontra para cá, ou seja, o que aconteceu com o Mamam. Isso foi superbacana. Se não fosse esse primeiro impulso, a gente poderia estar muito pior, no sentido de não ter um lugar que abrigasse o que está sendo feito. Aquele período foi muito importante e ainda vivemos um pouco dele.
JULIANA NOTARI Acho que a gente vive uma certa baixa. Estava há três anos fora e voltei. E sinto a cena, principalmente a institucional, abandonada. Institucionalmente falando, é um momento de muita penúria. E corrobora para isso que o Recife, Pernambuco em si, em termos de artes visuais – é bom sempre frisar, porque tem outras áreas que vão bem – não tem mercado. Tínhamos duas galerias importantes – uma fechou. Temos uma produção que depende muito de políticas públicas. Houve uma fase em que estava tudo muito bem, as instituições estavam funcionando em boas condições, e você percebia que várias atitudes e vários núcleos que eram independentes estavam sendo absorvidos por elas. Mas, ao mesmo tempo, naquela cena de prosperidade, todo mundo se pegava pensando: “poxa, mas não tem mais nenhum espaço independente, não tem mais um ateliê”, porque as instituições estavam cumprindo bem a sua função. Agora percebo que acontece o oposto. Acho que o único lado bom desse descaso é que a cena alternativa alavancou. Isso é bem perceptível.
Juliana Notari. Foto: Alcione Ferreira
CARLOS MÉLO Eu nem gosto muito dessa palavra “cena”. Acho que acaba sendo uma cena, de fato, como se fosse uma encenação, um ensaio de algo. Cheguei por aqui em 1997, para morar no Recife, o que coincidiu com o IAC (Instituto de Arte Contemporânea), a abertura do Mamam. Claro que, naquele momento, tinha a sensação de que alguma coisa ia começar a acontecer, como de fato aconteceu, junto com a Fundação Joaquim Nabuco e outras instituições, assim como o surgimento de novos artistas. Tenho uma relação com a história da produção de arte daqui, de alguma maneira, muito otimista. Sempre fiquei nessa sensação de que a coisa continuaria, de que iria se firmar, e a sensação que tenho hoje é a mesma.
MOACIR DOS ANJOS Acho que, quando a gente fala sobre como está a cena hoje, é inevitável que sempre compare esse momento com outro, de uma década e pouco atrás.
MARIANA OLIVEIRA O que é bem interessante, porque foi quando a Continente começou também. Então, talvez fosse um momento no qual muita coisa começou.
MOACIR DOS ANJOS É sintomático isso. Em meados dos anos 1990, estava havendo um boom, não sei se artístico ou cultural, não só na área de artes visuais, claro, basta lembrar o exemplo da música, como também a retomada do cinema naquele momento. No campo das artes visuais, há a conjunção de uma série de fatores. Seja no plano municipal, com a criação do Mamam; a solidificação de uma teia institucional, com o Murilo La Greca, com o Mamam no Pátio, com o Centro de Design etc. Tem a requalificação do Museu do Estado, o salão, sempre capenga, mas, naquele momento, ainda existindo. E, no plano federal, a Fundação Joaquim Nabuco que começa, de fato, a partir do final dos anos 1990, a se dedicar à arte contemporânea e ao cinema. E também a universidade (UFPE), com a criação do IAC, em 1995. Havia uma conjunção de elementos acontecendo, que criavam um ambiente propício a uma efervescência. Os artistas tinham canais por onde escoar, onde discutir suas necessidades. Existia, naquele momento, uma vontade institucional de fazer. E estou enfatizando isso porque hoje, em contraposição, o que a gente diagnostica é que há um certo vazio institucional. O mercado nunca se firmou de fato no Recife; há momentos melhores e piores. Os artistas sempre dependeram e continuam dependendo do mercado Rio-São Paulo para realizar vendas. E a reflexão que tem que ser feita é que a produção continua existindo, mas não há meios de torná-la pública. Não existem esses mecanismos de veiculação, de reverberação e de legitimação funcionando. Faltam as instituições que sejam elementos aglutinadores e geradores de conhecimento no campo das artes visuais.
ORIANA DUARTE Tem uma certa frustração em termos das expectativas de uma produção que existiu, de um momento fértil, dos anos 1990. Isso está na memória da geração, inclusive dos artistas mais recentes. Sendo professora, sou acessada também por essa via. É uma frustração que, de certa forma, apaga alguns problemas da nossa atualidade. Porque o mundo mudou muito nesse período. Houve uma mudança inclusive no modo de acessar a arte: a supervalorização do objeto artístico, da produção de arte, a figura mesmo do artista. Num mundo globalizado, temos outras potências que podem vir a interferir não só na própria figura desse artista, como um sujeito, que talvez não esteja tão interessado em fomentar o local como a gente estava na minha geração. Talvez ele esteja muito mais interessado em atuar num circuito maior. Ou seja, a figura do artista sai de cena, nesse sentido, de se preocupar com essa discussão local. O que ele quer mesmo é poder produzir e não se responsabilizar com o apresentar, com a exposição, com essas estruturas pelas quais a nossa geração estava tão interessada. E é estranho pensar no peso e na medida diferenciada que tem o Funcultura. Cinema, teatro, literatura, os outros segmentos têm uma força, um apoio e uma estrutura mais organizada – principalmente cinema – dos próprios produtores, que reverberaram para escolher os projetos, pleitear um edital próprio etc. Artes plásticas, de fato, é o que menos recebe. Por quê? Porque a demanda não é tão grande. E quem está lá dentro não entende. É como se dissesse “Olha, eles estão bem do jeito que estão”. Aí, tem uma mídia que cria uma imagem distorcida de um setor que movimenta milhões, em que seus agentes são autossuficientes. Eu já ouvi isso. O artista que não consegue essa independência econômica não é bom. Para um ET, o estrangeiro que chegasse a Pernambuco, eu diria “vamos aos ateliês alternativos, vamos ver a moçada”. Até porque, como artista, confio mais na arte do que em tudo.
Vídeoperformance de Juliana Notari, filmado na Ilha de Marajó (PA), levanta discussões sobre morte, castração e libido. Foto: Divulgação
CARLOS MÉLO Numa edição de 2013 da Continente, além de ter apontado essa sensação de que não existia cena, falei isso: se você quer ver o que acontece, vá ver os artistas. Porque o que tem sido feito realmente é a produção deles. Eu fico pensando: nós estamos frustrados para quem? Para um passado que a gente de alguma maneira foi condicionado a dar conta dele? De que é um estado promissor, que tem tradição de arte? E também vale perguntar: o que é dar certo? O que é ser de fato um artista?
Será que a gente não tem que pensar em romper com essa ideia de um estado supertradicional? Lembro que, na época do Salão da Bahia, um dos diretores de lá me falou: “Pernambuco já tem uma tradição com artes visuais, a Bahia não tem e para isso criou o salão”. Então, quando se cria essa expectativa muito grande em relação a Pernambuco, fico pensando se não é um fardo pesado demais para dar conta agora, de ter que ser um lugar onde necessariamente tem que ter uma produção vigorosa dentro do que é vigoroso hoje.
ORIANA DUARTE Uma pergunta: como estão as trocas, hoje, entre os artistas daqui?
CARLOS MÉLO Existem alguns artistas com quem eu tenho, de fato, uma aproximação. Sinto que existe um diálogo, percebo que, nesse momento, é como se nós nos reconhecêssemos, como se existissem ali pessoas que estão vivendo e sentindo a mesma coisa. Eu lembro que Suely Rolnik, que foi minha orientadora, me disse uma vez que o difícil talvez não seja viver de arte, o difícil talvez seja viver fora do eixo Rio–São Paulo.
MOACIR DOS ANJOS Você acha que é?
Moacir dos Anjos. Foto: Alcione Ferreira
CARLOS MÉLO Penso que não. Acho que o eixo virou seta. Eu me sinto diluído. É como se não tivesse fronteira. E isso a gente vê especificamente na produção de alguns artistas que estão, digamos, mais projetados hoje.
MOACIR DOS ANJOS Você falou uma coisa que me lembrou o seguinte: vivemos um momento em que, por um lado, estamos bastante desterritorializados, no sentido de que você está em contato com todo o mundo ao mesmo tempo. Você pode produzir aqui e expor em qualquer lugar do mundo. Por outro lado, existe uma forte característica das artes visuais, que é uma certa materialidade, diferentemente do cinema, por exemplo. Você faz um filme com 300 cópias e o mundo todo assiste a ele, simultaneamente. Ou a música, que você bota no streaming. Nas artes visuais, em boa parte dela, mesmo vídeo, há restrições. É uma produção que necessita de um lugar específico para ser vista. Você não vai ver no Recife a mesma coisa que em Nova York ou São Paulo.
ORIANA DUARTE Esse é um momento em que o eixo se dá pelo mercado. São as galerias, as feiras. O artista em São Paulo vive na ansiedade da produção, de dar conta da demanda. É uma estrutura de mercado. Aqui, a bronca é que somos zerados de todas essas estruturas. Fica só a figura do artista. Agora, o positivo, novamente chamo a atenção para isso, é lançar um olhar diferenciado para as estratégias desses artistas, de estarem produzindo. Como é que isso está acontecendo? Como é que isso se mantém aqui?
JULIANA NOTARI O manguebeat aconteceu quando saiu uma pesquisa da ONU colocando o Recife como a terceira pior cidade do mundo para viver. Ou sai daqui, ou faz o quê? Cria um movimento para ficar. Tira leite de pedra. A classe artística é muito pulverizada, desde a sua gênese de formação pela elite, com os mecenas. É complicado você fazer uma classe organizada, como se tem em cinema, teatro, música.
MOACIR DOS ANJOS Mesmo no momento atual, se você olhar nacionalmente ou até internacionalmente, vê um reconhecimento de uma certa tradição de arte pernambucana, falando das artes de Paulo Bruscky, Daniel Santiago, Montez Magno. Começa a olhar para trás e vê que existe uma genealogia sendo reconhecida, uma tradição. Vê que, nos últimos cinco ou seis anos, essas figuras dos anos 1970 e 1980 estão sendo reconhecidas. Quer dizer, os trabalhos de Gil, Juliana, Carlos, Oriana não surgiram do nada. Há uma genealogia, e não só de pintura modernista. Existem artistas fazendo coisas relevantes do ponto de vista contemporâneo, dos anos 1960, 1970, 1980. E, apesar disso, você não vê nenhuma repercussão disso num plano institucional, do apoio. É impressionante o desnivelamento entre o reconhecimento crescente que existe e a falta de reflexão ou acolhimento institucional dessa produção.
A série de desenhos Inimigos, assinada por Gil Vicente, está em exibição no Mamam até fevereiro de 2016. Imagem: Divulgação
CARLOS MÉLO Tive uma experiência recente em Caruaru, com a Bienal do Barro. Talvez seja uma forma de refletir um pouco sobre essa cena pernambucana sem ser o Recife. A ideia de fazer a Bienal foi, obviamente, uma extensão de uma obra minha, que se chama O corpo barroco, um anagrama, e eu fracionei esse anagrama em “o corpo”, “o barro”, e “o oco”, e descobri que o corpo já existia no meu trabalho, o oco também, mas o barro, onde é que estava? Estava na minha relação com o lugar, o Agreste, cuja matéria-prima de referência é o barro. E essa experiência para mim foi muito forte. Quando cheguei lá com o projeto aprovado do Funcultura e fui pedir só o apoio da prefeitura, eles ficaram muito surpresos com algo daquele tamanho acontecendo ali.
ORIANA DUARTE Essa é uma estratégia bem própria desse outro momento do artista. Por exemplo: como poderíamos imaginar a cena londrina dos anos 1990 emergir, se não fosse Damien Hirst tomar a frente e montar exposições? Faz parte de toda uma estratégia que passa por tirar esse local pontifício do artista, e ser ele que propõe, que muda um pouco o sentido da história. Acredito que é na situação difícil que essas empreitadas emergem, não num local todo estruturado. Eu sou otimista nesse sentido de que cada vez mais vai vingar uma certa altivez pernambucana pela via do artista. Não tenho otimismo nenhum via órgãos governamentais, instituições e galerias. A elite pernambucana é distanciada da arte.
LUCIANA VERAS Essa elite que viaja, vai a Paris e se orgulha de ir ao Louvre, vai ao MoMA, em Nova York, e posta suas fotos nesses museus, compra a arte contemporânea local?
GIL VICENTE Não sei bem quem era, mas que comprava, comprava. Mas não compra mais. É muito raro. São poucos colecionadores, porque só quem compra aqui, agora, é quem coleciona. Comprar para botar um quadro na parede depende do arquiteto que estiver assessorando. Mas se vendia muito. Quando comecei, o MAC, em Olinda, era o museu que agitava. Tinha o salão dos novos, pelo qual passei, e estavam sempre acontecendo coisas lá. Foi onde conheci um monte de gente do circuito. E outra coisa também sobre a compra: no começo dos anos 1980, desde que comecei a desenhar e pintar, sempre tinha gente para comprar. Passando pelos finais de 1970 e 1980, nunca tive problema financeiro, a não ser nessa temporada. É difícil. Não vende, a gente vê muita gente passando trabalho adiante.
ORIANA DUARTE Aí eu vou nessa questão da inflexão que acontece nesse período de Gil, bem próxima da emergência de uma produção de arte contemporânea de um viés mais conceitual, de um olhar diferenciado que, de certa forma, acaba direcionando toda a produção daqui e, contraditoriamente, acaba diminuindo a repercussão de mercado. Nisso, sim, eu saio da figura do artista e venho cobrar das instituições. Se houvesse mais instituições formadoras de público, formadoras de opinião, haveria uma formação realmente.
Gil Vicente. Foto: Alcione Ferreira
GIL VICENTE E referência para artistas que estão começando.
MOACIR DOS ANJOS A questão é o que transformaria essa classe média emergente em compradores de uma arte que não apenas reproduza o que todo mundo já sabe? Ou seja, que passe a consumir o pensamento vivo contemporâneo das artes visuais ou que consuma o cinema de autor? Porque é essa mesma classe média que também vai para o cinema e acha uma porcaria a produção local. Há um mal-estar cultural que é preciso ser aprofundado. Como é que podemos atuar nisso? Ou, simplesmente, a gente tem que se render a essa nivelação pelo que já está dado, pelo que já foi reproduzido infinitas vezes na mídia, na televisão, nas rádios?
MARIANA OLIVEIRA Na Conversa Literatura, o escritor Fernando Monteiro disse que havia a morte do leitor e não a morte do autor.
MOACIR DOS ANJOS E, depois dos livros de autoajuda, agora a gente tem os livros de colorir. O que distancia o público da produção dos artistas que estão produzindo não de olho nessa visualidade hegemônica, mas de olho no furo, na transgressão, na fissura, no escuro?
ORIANA DUARTE Voltamos para a instituição e para a figura do artista, que não é bem o grande prejudicado. É a sociedade toda. O artista resiste, cria até suas estratégias. Mas tem um papel maior, é preciso que os órgãos governamentais entendam isso. Acho assustador e tento vir primeiro nesse discurso de resistência do artista – esse outro lado, que depende de outros, que tem uma lógica descomprometida, dentro de um país cheio de bronca, de corrupção extrema, onde a educação foi relegada. É preciso cada vez mais abrir cursos de arte, cursos superiores, pós-graduação. Por exemplo, lá em São Paulo, onde fiz meu mestrado e doutorado na área de Comunicação e Semiótica, é amplificada a discussão sobre arte em diversos setores. A arte já está ali naquela sociedade.

Oriana Duarte. Foto: Alcione Ferreira
GIL VICENTE Acho terrível não se ter o bacharelado aqui. No meu vestibular, não tinha. Só tinha desenho industrial, como chamavam. Não tinha curso de arte, nem licenciatura, nem bacharelado. Eu já estava, de certa forma, fazendo uma universidade, que foi a convivência com o pessoal da Oficina Guaianases. Um monte de artistas bacanas, com experiência. Cresci nessa formação. Desde novo, eu já estudava na Escolinha de Arte do Recife. Teve muita importância para mim, foi uma referência forte. Entrei com 15 anos e passei seis anos lá, com Teresa Carmem, que fazia gravura. Depois, fui para os ateliês de extensão da Universidade, ainda na Benfica, que tinha aula de observação de figura humana. E também fiz dois ou três anos lá.
MARIANA OLIVEIRA Escutamos algumas queixas de que a mídia tem dado menos espaço para as artes visuais. Nos cadernos de cultura, nos roteiros de fim de semana, são noticiados os filmes em cartaz, tudo que está em cartaz, mas nem sempre se destacam as exposições. Geralmente, publica-se matéria quando a exposição abre e, depois, o acontecimento desaparece da mídia. Em que medida essa falta de atenção da mídia colabora para tornar a situação mais difícil? E também pensar, não falando apenas de Pernambuco, mas no geral, se temos críticos de arte e qual o papel deles hoje.
MOACIR DOS ANJOS Essa é uma questão recorrentemente colocada. Creio que o diagnóstico vale não só para cá, mas para o Brasil todo e também outros lugares. E não só para as artes visuais, mas para outras áreas de produção artística. Essa transformação de um espaço de crítica para um espaço de divulgação, em que muitas vezes as matérias são muito próximas dos releases enviados para o jornal, como se o papel do jornal, da revista ou da mídia fosse simplesmente informar, anunciar o que está ocorrendo, e não refletir. Acho que tem a ver com algo que a gente já falou aqui, a questão da educação, a falta de reflexão, falta de interesse mesmo do público de jornais. Ou, pelo menos, do modo como os jornais avaliam qual seria o interesse desses leitores. Isso termina gerando um ciclo vicioso: à medida que a mídia não forma esse público, junto com outras instituições que deveriam ter esse papel formador, ele fica desinformado, não tem interesse em ver as exposições. Quer dizer, há todo um achatamento da compreensão do que é esse fenômeno cultural artístico contemporâneo, com uma banalização do sentido da própria criação cultural artística. Em outros países, principalmente grandes centros, como Nova York, Paris e Berlim, você pega determinados jornais e vê muita reflexão de qualidade sendo feita. Há de se investigar por que isso não ocorre aqui no Brasil e em outros países. Mas há espaços de resistência no mundo nos quais continua existindo crítica de qualidade bem-feita, pertinente, não só laudatória, mas colocando em questão o que está sendo dito. E vejo hoje em dia a questão da curadoria assumindo o papel da crítica, na medida em que relaciona artistas, relaciona obras, relaciona épocas e, de alguma maneira não direta, não explícita, cria um pensamento a partir dos trabalhos artísticos, propondo uma interlocução entre eles.
ORIANA DUARTE É um trabalho de pesquisa o de curadoria, aproxima-se muito disso. Inclusive para conhecer essa aproximação de artistas, criar esses territórios móveis que a gente vê. Nisso aí também se dá um apoio ao acessar as obras que, no caso, vem a cumprir um papel de crítica diferenciada. Esse local do crítico, do pensador, pode muitas vezes acontecer numa curadoria responsável, organizando o pensamento para esse olhar, para o acessar desses trabalhos que são tão complexos, principalmente quando se juntam. Antes, nos anos 1960, isso era muito centralizado na figura do crítico. Inclusive, dentro da história do Modernismo, no início do século 20, era o próprio artista, junto com o galerista, que tinha um papel de organização do pensamento muito forte, além do jornalista, que era um pensador, um crítico, que emergia da redação. Depois, esse crítico cria independência desse ambiente, a partir dos anos 1960. Mas hoje a questão continua assim: uma falência de formação de um lado, que vai se refletir numa perda de interesse e, com a perda de interesse, o jornal não vende. Se não é lido, não é assunto para estar aqui.
CARLOS MÉLO A assessoria de imprensa também é um divisor de águas na história toda dessa construção crítica. Eu sinto falta, às vezes, de uma matéria mais autoral, até quando ela erra.
Carlos Mélo. Foto: Alcione Ferreira
GIL VICENTE Depende do jornalista.
ORIANA DUARTE Historicamente, é muito importante o papel do jornal, porque ele é um veículo que também se torna obra.
MARIANA OLIVEIRA Havia réplica e tréplica nos jornais, uma discussão acontecendo, e hoje não se vê mais isso.
ORIANA DUARTE O periódico era um disparador. O primeiro disparo acontece nos anos 1910, com o primeiro manifesto da arte moderna, o Manifesto Futurista, do Marinetti. Foi uma estratégia de marketing dele, que era fascista pra caramba, mas foi lançar em jornal, no Le Figaro. Se não fosse isso, ninguém ia dar bola para o que estava acontecendo na Itália. Eu lembro que, com Grupo Camelo, a gente contou realmente com a imprensa como estratégia. Pensamos: “Olha, se a gente pega o IAC e faz uma exposição com seis componentes, e mantém durante seis meses, então, durante seis meses a gente vai ter matéria no jornal”. E o que era uma matéria naquela época? O cara realmente ia lá e apreciava as obras, não chegava apressadinho, perguntando o que está acontecendo. A mídia foi uma estratégia, de fato, tão importante para nós, que pensamos: “vamos fazer a exposição e, durante um semestre, vamos ter uma página, vamos ter manchete de jornal”. Aconteceu isso. Havia o interesse pela arte. Havia uma construção de algo em que a mídia era estratégia posta pelo grupo. E foi fundamental para isso.
GIL VICENTE Eu acho que o Camelo foi muito importante para o pessoal da geração de Juliana, uma referência.
Performance Um risco no céu, realizada por Oriana Duarte na residência artística Faxinal das Artes. Foto: Grupo Camelo - Frames de Vídeo
LUCIANA VERAS Para concluir, de maneira sintética, quero agradecer a todos por mais uma Continente Conversa muito reflexiva. Qual seria a principal batalha a ser empreendida pela arte contemporânea em Pernambuco e no Brasil nos próximos anos?
MOACIR DOS ANJOS De um modo amplo, mais abstrato, seria inserir as artes visuais no campo de interesse da sociedade. Mostrar a relevância de existir um campo que pensa as sombras do presente, que pensa o contemporâneo pelo avesso e não pela repercussão do que já está exposto, do que está claro. Existirem esses campos cegos que pensam o contemporâneo justamente por aquilo que incomoda, por aquilo que fratura, por esses buracos. E mostrar a relevância disso. E como fazer isso? Só há um caminho: através do fortalecimento institucional que está supostamente dissociado ou tem independência suficiente para se impor diante da pressão homogenizadora ou repetidora que existe no âmbito do mercado, principalmente. Acho que o grande desafio seria esse.
ORIANA DUARTE E, desse amadurecimento institucional, creio que há duas frentes bem fortes: a de formação e preparação do público e a de exposição do artista, que não deixa de ser também uma formação para ele. E nessa concepção de que o artista que expõe está se formando também, hoje em dia, eu já identifico algumas sequelas em relação à minha geração. Era um momento extremamente relevante para a própria produção ganhar força. Vou pegar agora a questão do Ocupe Estelita. Tenho um grupo na pós-graduação que discute os dispositivos de operações artísticas no espaço urbano, e estamos concluindo o semestre com um certo estranhamento do papel do artista visual aqui em Pernambuco, no período do Ocupe Estelita. Como foi fraco, como as estratégias de atuação foram extremamente frágeis. E, historicamente, esse é um espaço para o artista visual. O que aconteceu aqui foi muito tímido.
CARLOS MÉLO Talvez a grande batalha seja trabalhar essa timidez. Quando penso na pouca presença do artista na cena política da cidade, penso também num ranço da ditadura, como se fosse um medo. Na psicanálise, fala-se que uma sociedade leva muito tempo para se libertar quando vive uma ditadura. Quando ouço algumas expressões como “eu não vou fazer isso para não me queimar”, fico assustado. E aí vem aquilo: será que só ser artista basta? Será que, de fato, a gente tem uma tradição de engajamento político como artista?
MOACIR DOS ANJOS Talvez Pernambuco seja um dos poucos lugares no Brasil em que isso tenha existido, em algum momento. Mas acho que não existe. A presença política da arte brasileira é muito tímida, de um modo geral, quando comparada com a dimensão dos problemas. Há artistas que pontualmente se engajam, mas acho que a arte brasileira é muito pouco comprometida, ou engajada. Relaciona-se de uma maneira tímida com as questões extra-artísticas. A questão da violência, dos excluídos de modo geral, as mais candentes na sociedade, que estão aí batendo na porta. As pessoas saem da Estação Pinacoteca (SP), dão de cara com a Cracolândia e acham aquilo normal.
A Bienal do Barro (Caruaru, 2014) é uma extensão da obra O corpo barroco de Carlos Mélo. Foto: Francisco Baccaro
JULIANA NOTARI É, se você compara o Brasil com os outros países da América Latina, foi o último país a se livrar da ditadura, de fato.
MOACIR DOS ANJOS Há países com situações políticas tão ou mais dramáticas que o Brasil, como o México e a Colômbia, por exemplo, que têm uma forte tradição de articulação dos artistas com essas questões. E não estou só falando de um embate panfletário, não, estou falando de obras que são permeadas por essas questões. ![]()
Mediação:
LUCIANA VERAS, jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em Estudos Cinematográficos pela Universidade Católica de Pernambuco, e repórter especial da revista Continente.
MARIANA OLIVEIRA, jornalista formada pela Unicap, editora-assistente da revista Continente, professora do curso de Jornalismo da Uninassau e mestre em Humanidades pela Universidad Carlos II de Madri.
Convidados:
CARLOS MÉLO Natural de Riacho das Almas (PE), com pesquisas no ramo das artes e filosofia, desenvolve uma atividade artística regular. Foi premiado em diversos salões de arte e, em 2006, recebeu o Prêmio CNI Marcantonio Vilaça para as artes visuais. Compõe o casting da Galeria Amparo 60.
GIL VICENTE Nasceu no Recife, onde vive e trabalha. Em 1975, recebeu o 1º Prêmio do Salão dos Novos, no MAC. Realizou diversas individuais no Brasil e participou da Bienal de São Paulo em 2002 e 2010, e, em 2007, do Panorama da Arte Brasileira, no MAM-SP.
JULIANA NOTARI Artista pernambucana, é mestre em Artes Visuais pela UERJ. Em 2001, realizou sua primeira individual Assinalações no Museu da Abolição, no Recife. Desde lá, realizou várias exposições, participou de diversas mostras e recebeu prêmios.
MOACIR DOS ANJOS Pesquisador e curador da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, foi diretor do Mamam (2001–2006),curador do pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza(2011) e da Bienal de São Paulo (2010). É autor, entre outros, dos livros Local/global. Arte em trânsito e ArteBra Crítica.
ORIANA DUARTE Nasceu em Campina Grande (PB), é doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e professora do Departamento de Design da UFPE. Como artista, participou de muitas mostras, entre elas Art from Pernambuco, em Londres, este ano.