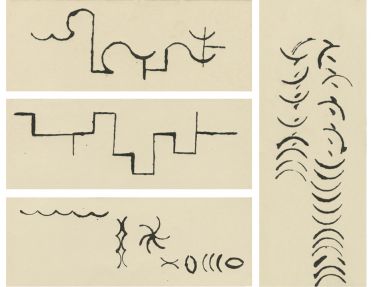Artes cênicas: Uma rede que traga mais público
Profissionais ligados à cadeia produtiva do setor se reuniram, a convite da Continente, para falar sobre a cena contemporânea em Pernambuco
TEXTO Revista Continente
01 de Março de 2015

Foto Maria Chaves
Neste mês de março, trazemos o registro da nossa segunda Conversa, série de encontros com realizadores de seis segmentos culturais (Cinema, Artes Cênicas, Música, Artes Visuais, Literatura e Arquitetura) para discussão sobre temas pertinentes às suas áreas, dentro das comemorações dos 15 anos da Continente. Reunimos cinco nomes das artes cênicas para falar sobre a produção em Pernambuco nos gêneros que compõem essa grande chave. Parte dessa Conversa, realizada no Espaço Fonte, está nas páginas que se seguem, outra está disponível no site da revista e no YouTube, para gerar novos debates. A Conversa retorna com nova temática na edição de maio próximo.
MARIANA OLIVEIRA Para iniciar, gostaríamos que vocês falassem sobre a produção hoje, em Pernambuco. Como avaliam a cena contemporânea de teatro, dança, circo, ópera e de todas as linguagens que compõem o que chamamos de artes cênicas.
MARCONDES LIMA Penso em fazer uma contextualização histórica. Assim, a gente pode dimensionar qual a característica de agora – se é que existe um traço que marca essa contemporaneidade. Teatro de grupo sempre existiu, é algo que nós temos desde as primeiras referências do teatro pernambucano, com o Teatro de Amadores e o Teatro Popular do Nordeste, que são grupos que tiveram uma intensa produção e atuação até os anos 1970. Depois, isso vai se transformando, e vem o teatro de produtores, do final dos anos 1970 para os anos 1980. Os grupos continuam existindo, mas quem ativa a cena são os produtores. Do final dos anos 1980 para os 1990, vimos um teatro de diretores, grandes encenadores. Do final dos anos 1990 para os anos 2000, ressurge com intensidade o chamado teatro de grupo ou teatro de pesquisa. Vejo isso também no campo da dança. Esses grupos vão se tornando cada vez mais consolidados e profissionais, no sentido de atuarem na busca de modos de operar e vivenciar a prática artística. Por outro lado, vemos o teatro de produtores com dificuldades, porque não temos um campo de atuação, não somos Nova York, não temos uma Broadway.
MARCELO SENA Na dança, a gente passou por um momento bem forte da ideia do solo, do bailarino-criador-intérprete, que tinha algo específico a dizer e só ele conseguiria colocar aquilo. Depois de um tempo, isso começou a ser mais dissolvido na própria forma dos grupos criarem. Hoje, alia-se à manutenção do grupo e às carreiras solo.
Espetáculo O pasto iluminado, do Grupo Grial, criado por Maria Paula Costa Rêgo e Ariano Suassuna, em 1997. Foto: Divulgação
GALIANA BRASIL Isso bate um pouco com a linha que Marcondes vinha traçando. Nessa época das companhias, era tudo muito difícil. Então começou-se a economizar no cenário, na quantidade de pessoas, no peso, até chegar ao “modelo” do ator e uma malinha, porque com isso é mais fácil de circular. Algumas funções foram entrando no ostracismo. Não tem mais camareiras, maquiadores, isso é para grandes companhias. Acho que os anos 1990 foram muito marcados pelos festivais. Isso atendeu a uma carência que a gente tinha, porque lembro que reclamava por não poder ver as coisas, de ter que sair para assistir a espetáculos que não chegavam aqui. E aí os festivais surgem para cumprir essa lacuna, mas, ao mesmo tempo, concentram a produção. Agora observo: onde está o público das artes cênicas? Porque, se você abrir um jornal recifense fora da época dos festivais, não tem nada. Os grupos não fazem mais uma produção contínua. Tem a ver com uma coisa da cidade, que é muito cíclica. Ela tem uma política cultural que trabalha por ciclos: São João, Carnaval etc. Parece que o teatro e as artes cênicas internalizaram isso. E aí entram as leis de fomento, os dispositivos de financiamento, essa coisa toda que mudou muito a forma de produzir e a forma de interagir com o público. Antes, dependia-se da bilheteria, então a forma de se relacionar com ele era uma questão essencial. As peças eram criadas para atrair. Agora, a produção virou um oroboro, a cobra que morde o próprio rabo.
MARIA PAULA COSTA RÊGO Essa situação é complexa, porque, para mim, o Recife tem um pouco de tudo hoje em dia: performances, artes visuais, dança, arte multimídia, solistas, grupo grande, balé clássico, hip-hop… No Recife, cada bailarino tem a sua necessidade e está botando no mercado. Só que não tem mercado, no sentido de que não tem público. Apesar dos festivais, não são esses que pagam (os custos dos artistas), até porque eles não pagam bem. Por isso, acho que é preciso aliar essa política à criação de público.
GIORDANO CASTRO A gente está chegando num momento de transição. Vai ter algum conflito. Esse panorama que Marcondes levanta, de alguma forma, está ligado a movimentos outros – políticos, econômicos, geracionais – que influenciam o nosso trabalho. O ressurgimento dos grupos na década de 1990, chegando a 2000, está ligado a uma falência daqueles modelos e a uma necessidade de sobrevivência daqueles indivíduos, coisa que eles só conseguiriam juntando-se. Falo até do meu grupo, o Magiluth. A gente se pegou muito diante da necessidade de furar uma bolha mercadológica. Não temos como negar que o advento dessas leis de incentivo acabou mudando a lógica. Hoje, os grupos começaram a entrar numa situação em que aquilo que era uma salvação já não serve mais, já não dá conta desse mercado e das necessidades. Estamos num momento em que dizemos que não adianta mais a gente ter leis e prêmios. Isso paga algo, mas não sustenta. Eu não sei qual vai ser a hecatombe que vai acontecer para trazer o público de volta, mas a gente percebe que alguma coisa vai mudar nesse meio de produção.
MARCONDES LIMA Temos que tratar de público para tudo. Penso que ele está aí sempre existiu, sempre esteve. O que talvez falte é uma estrutura para atuar e agir de modo contínuo para que ele possa chegar até a gente. Cinema sem salas de exibição. Vai existir? Mesmo que seja uma sala alternativa, um teatro transformado em cinema, um auditório, mas tem que haver. Assim como o espaço para dança, teatro, ópera, e a gente está, infelizmente, em defasagem, num buraco sem fundo. Por isso, Galiana, as pessoas não fazem temporadas. Quando eu era bem jovem, os produtores ficavam em temporada. A gente via um teatro que tinha três sessões – manhã, tarde e noite.
MARCELO SENA A gente começou a entender, tanto nós, artistas, quanto a gestão e o espectador, que o poder público tem um papel nessa cadeia, que é o da formação, mas não de uma formação somente da criança que vai crescer e pagar para assistir a um espetáculo; mas o próprio entendimento sobre por que eu preciso ver dança? Por que teatro? Qual é a “necessidade” disso na minha vida? Aí, penso no panorama de política pública cultural que a gente está vivendo, eu acho que tem uma estruturação de um pensamento, mas que de fato ainda não acontece. Uma das primeiras coisas para as artes cênicas é a manutenção dos festivais. E o que aconteceu ano passado? O Festival de Teatro foi transformado em bienal.
Maria Paula Costa Rêgo. Foto: Maria Chaves
MARCONDES LIMA Os gestores, na maior parte das vezes, não têm nenhuma formação artística. Parece que falta uma sensibilidade para apreciação e compreensão do que seja a função da arte na vida das pessoas.
MARIA PAULA COSTA RÊGO Aí é onde entra a educação, mesmo. O povo não foi educado para apreciar a arte. A gente lida com o espirituoso do ser humano – não tem nada a ver com o espiritual no sentido religioso, mas o espirituoso no sentido de ter bom senso, de ter bom gosto, de saber distinguir. A arte serve para isso. E, aparentemente, não interessa que as pessoas tenham essa espirituosidade.
GALIANA BRASIL A lei que obriga a arte na escola vai fazer 20 anos, é algo muito novo. Que professor de arte está dentro da escola, formando toda essa geração, inclusive os novos secretários e essas pessoas que vão decidir e tomar essas decisões? Quer dizer, as questões são mais estruturais. O ter ou não ter os festivais é a pontinha do iceberg. O que deveria nos preocupar está mais submerso, é anterior a tudo isso.
MARIANA OLIVEIRA Vamos falar um pouco sobre a crítica. Quando olhamos para os cadernos de cultura de 50, 60 anos atrás, alguém publicava uma crítica e havia uma réplica, uma tréplica, e víamos um caderno de cultura sendo lugar de embate, de reflexão, uma coisa que realmente não se tem hoje. Como vocês analisam o papel do jornalismo como mediador e essa aparente ausência de crítica?
MARCELO SENA O jornalismo fora do Brasil tem os seus cadernos, as suas revistas e suplementos especializados. Aqui, um caderno dentro do jornal especializado em cultura é pautado pelas empresas que trabalham com cultura. Então, quem tem mais dinheiro na indústria cultural é quem tem matéria.
O homem que ama rapazes, solo de Marcelo Sena, traz o universo homoerótico, evitando tocar em clichês e referências óbvias. Foto: Breno César/Divulgação
MARCONDES LIMA O que salta, à primeira vista, é uma valorização do que é maior ou vem de fora. Dá-se um espaço de capa para uma exposição que está em Nova York, e uma nota para uma exposição que está acontecendo na esquina – às vezes, até mais importante, por várias questões. E a gente tem um espírito bem provinciano, que acha que ser caro é garantia de ser bom. Constrói-se uma imagem que depõe contra essa luta da gente de preservar uma imagem sobre o próprio trabalho.
CHRISTIANNE GALDINO Fazendo um trabalho de assessoria, já ouvi dos jornalistas que não seria possível fazer a matéria, porque o espetáculo tinha sido divulgado na estreia. Deu na estreia, não vai dar mais nunca na vida. O Teatro de Santa Isabel passou um tempão sem poder ter espetáculo para infância. E aí volta a ter, e isso não é notícia? “Porque a gente já deu essa peça na estreia”…
MARCELO SENA E se a gente está falando sobre valor-notícia, tem uma outra sutileza disso, que é a própria crítica dos espetáculos, que é uma tarefa difícil para o crítico, para quem se dispõe a escrever.
MARIANA OLIVEIRA Nós temos críticos na cidade, hoje? Se afirmativo, vocês acreditam que eles teriam um papel relevante dentro da própria construção da linguagem cênica?
MARCELO SENA Vou dar um exemplo de um projeto que fizemos no ano passado. Era um site com críticas de pessoas que escreveriam sobre 10 espetáculos durante o ano. Nesse diagnóstico de quem poderia escrever sobre os espetáculos, duas ou três pessoas eram as que tinham certa regularidade em redigir sobre dança, mas não se sentiam confortáveis em estar se colocando como críticos – ficava claro na própria postura da pessoa ao responder ao convite. É difícil encontrar alguém que tenha vontade, coragem e espaço para escrever, e ainda se intitule como crítico. A gente não consegue mapear críticos de dança trabalhando na cidade. O que existe são pessoas que eventualmente assumem a função de críticos.
Marcelo Sena. Foto: Maria Chaves
MARCONDES LIMA Eu batizaria essas pessoas de comentaristas. Eles comentam, mas não são críticos. Porque crítico pressupõe um pensador. No caso do crítico na nossa área, ele precisa ter esse pensamento voltado para as questões estéticas. Na maioria das vezes, o que a gente vê o crítico fazer é alguma coisa não comportada por esse pensamento, esse espaço da filosofia, da estética: é um caráter valorativo. Só que a estética não está para dizer se é certo ou errado, se é ruim ou se é bom. Então, a gente não vê argumentações, vê depreciações dos comentaristas.
MARIA PAULA COSTA RÊGO Eu me pergunto se essa falta de crítico de teatro não é um movimento interno do jornal, que transfere essa pessoa para a seção de culinária e ela fica lá. Quando voltar para o teatro, vai voltar defasada. A gente vai ter uma certa simpatia, porque é uma pessoa dedicada, mas ela não vai saber fazer uma crítica, porque ela não se dedicou a isso.
GIORDANO CASTRO Eu acho que tem as duas coisas. Estou falando de uma forma até leiga e leviana, mas não acredito que na formação em Jornalismo, aqui em Pernambuco, exista uma formação pra arte ou com esse olhar.
MARIANA OLIVEIRA Não. O que a gente tem são especializações esporádicas em jornalismo cultural que abrem um campo muito grande. Mas ainda assim é outra coisa, porque nem todo jornalista cultural é crítico.
O espetáculo Rasif - mar que arrebenta, do grupo Coletivo Angu de Teatro, e baseado na obra de Marcelino Freire, foi dirigido por Marcondes Lima. Foto: Divulgação
GIORDANO CASTRO Passei um tempo fazendo a parte de comunicação do grupo. Eu fazia release, mandava, ligava para os jornais para conseguir uma pauta. Muitas vezes a resposta dizia que o assunto era com outra pessoa e chamaria um estagiário. Pegavam a pessoa que acabou de entrar no caderno e falavam “toma, isso aqui é teu”.
CHRISTIANNE GALDINO Sem contar que isso acontece por telefone, nem sempre é olho no olho. A matéria é a partir do release ou de uma conversa rápida por telefone, no máximo.
MARCONDES LIMA Ainda peguei algumas pessoas que chegavam para fazer uma entrevista comigo, como diretor, sabendo alguma coisa sobre o autor daquela peça, tendo lido a obra.
MARIANA OLIVEIRA Como é que se dá, hoje, esse diálogo entre as linguagens que compõem as artes cênicas? Existe disputa, articulação, diálogo entre dança, teatro, circo e ópera?
Marcondes Lima. Foto: Maria Chaves
MARCELO SENA Até mesmo dentro das artes cênicas é preciso entender as diferenças. A gente está aqui falando de artes cênicas, mas não tem ninguém em específico para falar pelo circo. Ou seja, mesmo dentro dessa própria área ainda há muitas especificidades.
MARCONDES LIMA Eu não parei para refletir sobre isso, mas tenho uma impressão de que a aproximação e o diálogo se dão muito mais no interior ou no trabalho de alguns grupos de pessoas que criam – como a Cia. Etc., que flerta com cinema e com várias artes –, mas não existe um diálogo fértil, amplo, com manutenção, entre essas áreas.
MARIA PAULA COSTA RÊGO A gente não se fala. Se você perguntar para um produtor de cinema sobre uma bailarina ou uma atriz que possa dançar, ele não sabe. E o teatro não vai saber indicar, porque a gente não se conhece. O Janeiro de Grandes Espetáculos é o único momento em que há uma janela para conhecer o que um e outro estão fazendo.
GALIANA BRASIL Acho que o teatro e a dança dialogam mais, e vejo mais cisão com teatro de boneco.
Giordano Castro é um dos fundadores do grupo Magiluth e atuou em espetáculos como Aquilo que meu olhar guardou pra você. Foto: Maurício Cuca/Divulgação
MARCONDES LIMA Marco Camarotti chamava de teatro marginal ou áreas marginais. O circo, o teatro de bonecos e o teatro para criança são marginais. Pouca gente vai ver o que o colega está fazendo para crianças e, portanto, não tem como falar com propriedade sobre aquilo, bem ou mal, porque é preciso ir lá ver. Eu não vejo essa circulação tão intensa.
GIORDANO CASTRO Às vezes, a gente está muito envolvido no próprio processo, porque, para manter um grupo hoje, com aquele núcleo fixo, não se pode aprovar um projeto somente, tem que se aprovar pelo menos uns quatro ou cinco. Então, estamos tão envolvidos naquilo, que acabamos ficando cegos para os outros. E não estou dizendo que isso é bom, mas acaba sendo uma necessidade de sobrevivência. Talvez isso vá causar algum problema em algum momento. A gente começou a se alimentar do próprio veneno. Essas leis e tudo o mais são um veneno que a gente mesmo criou. Por exemplo: tem um edital de ocupação de um espaço na Funarte, você ganha uma grana massa e vai ficar lá quatro ou cinco meses naquela ocupação. Eles te dão tudo, mas você chega num espaço que é morto, não tem vida e a responsabilidade de movimentação agora é sua. Aí você não consegue dar vida em seis meses, porque aquilo tem cinco anos e nunca se movimentou antes.
GALIANA BRASIL É uma forma de cabresto também. A gente não pode querer ficar só brigando por festival, isso é pouco demais para uma classe que não tem público o resto do ano. Contentar-se com um mês de público é muito pouco. É isso que a gente devia negociar, não o problema do meu grupo ou do outro. Falta essa articulação.
CHRISTIANNE GALDINO O suporte texto ainda é majoritário, ou seja, os trabalhos de teatro daqui continuam utilizando muito o suporte texto? São teatros de texto?
Giordano Castro. Foto: Maria Chaves
MARCONDES LIMA Existe uma variante. É como Maria Paula falou: existem vários teatros, danças, públicos e caminhos. Quando olhamos para o texto, podemos pensar naqueles textos autorais, clássicos, de uma dramaturgia já consolidada, a literatura dramática, mas existem também os grupos. Esse tipo de teatro está bem em desuso, você assiste a pouco clássico, pouca velharia de biblioteca sendo levada para cena. Você não vê mais Shakespeare, vê pouco. Quando é encenado, geralmente, é uma pesquisa. Mas tem uma dramaturgia construída pelo próprio grupo, consolidada enquanto texto dramático. Mas penso que isso talvez não seja o mais relevante. Hoje, há uma busca por temas, motivos, que são emergentes, que podem vir da literatura, de uma coisa que aconteceu no meio da rua. E a isso os grupos estão atentos, estão buscando.
MARIA PAULA COSTA RÊGO O espetáculo de dança mudou. A coreografia do passo, do movimento, mudou. Hoje, o corpo vai além do movimento. A coreografia é outra história, não tem nem mais nome de coreografia, porque a gente quer outra coisa. No teatro, certamente, a palavra ganha outro lugar na cena. A palavra não é só a palavra, é uma coisa maior.
GIORDANO CASTRO Às vezes, a palavra está ali, mas talvez ela não seja o alicerce daquele trabalho. Chegar na palavra, no teatro, pode vir antes ou depois. Pode estar ou não estar. Posso falar, por exemplo, do Aquilo que o meu olhar guardou pra você, em que a palavra surgiu depois. Primeiro, surgiu o encontro. Dele foram surgindo palavras e o trabalho tem várias dramaturgias dentro daquilo ali. Você pode assistir ao trabalho e acompanhar a dramaturgia das músicas, da luz, dos corpos.
GALIANA BRASIL Historicamente, há uma época texto-centrista no teatro. Isso já foi superado. Não é judicativo, o fato de ter ou não palavra, de estar ou não em torno de um clássico. Não é um problema que a palavra venha depois ou que o grupo se reúna em torno da palavra. Para mim, a questão é como isso vai ser levado, se a palavra estará bem- colocada – ou a não palavra também. Porque, se você tirar o texto e o que colocar no lugar não for potente, não for bem-colocado, é um problema.
Galiana Brasil é coordenadora e curadora do festival Palco Giratório em Pernambuco.
Foto: Renata Pires/Divulgação
MARCONDES LIMA Há um lugar de ocupação da palavra, mas há uma inabilidade ou uma falta de técnica em lidar com ela. Se você não constrói isso, é como não preparar o corpo de forma intensa, necessária, independentemente da corrente de trabalho de corpo, para você fazer um espetáculo de dança conceitual. As pessoas já se jogam num campo de exploração sem um domínio técnico, aí começam a haver os problemas. As pessoas da velha guarda têm um domínio maior sobre as palavras e, bem objetivamente, tem um domínio maior sobre ponto, vírgula, exclamação e interrogação enquanto leem o texto. Isso vem da prática.
MARCELO SENA Tive uma conversa com Raimundo Branco, que é um coreógrafo daqui, e ele me perguntou o que eu achava que estava faltando para as pessoas de dança da cidade. E respondi: faltam mestres. Faltam as referências de quando se tinha uma escola a ser seguida. Parece que a gente entrou nessa estética contemporânea de possibilidades individuais, em que não adianta ter mestre, porque é um de cada vez e cada um com sua dramaturgia, com sua propriedade corporal, com o que se está querendo dizer com aquilo, e muitas vezes aquilo não serve para outro grupo, para o trabalho do outro. Então, aqueles que poderiam ser referências são muitas vezes tidos como não referências, por negação, e não por identificação. Ele não é meu mestre porque eu não me identifico, ele não é meu mestre porque, para mim, não interessa ter mestre.
MARCONDES LIMA Penso que esse lugar de referência é uma coisa importante e as referências não são necessariamente para você segui-las, mas para tê-las como um parâmetro. Vejo muito esse espaço da arrogância do conhecimento. A gente vive um momento em que as pessoas, muito erroneamente, acham que sabem de muitas coisas, quando não sabem. Ao mesmo tempo, em termos pedagógicos, esse espaço da arrogância traz, no campo utópico também, um espaço de construção de crescimento. Alguns alunos que passaram por minha sala, que tinham esse traço de arrogância, terminavam se dando conta disso, extrapolando e transformando isso. Mesmo nesse lugar nevrálgico, existe ainda uma possibilidade.
GIORDANO CASTRO Entrei na universidade com 17 anos, perdido. Quando cheguei, foi um tapa na minha cara a primeira aula de Camarotti. Ele dividiu o semestre inteiro: quem quer Meyerhold, quem quer Grotowski, quem quer Stanislavski? Todo mundo gritando eufórico e eu não sabia quem era ninguém. O pessoal todo sabia. A partir daquele momento, quis buscar tudo que não sabia. E acho que a universidade lhe dá liberdade para fazer o que você quiser, inclusive nada. Então, essa formação depende muito de buscas individuais. Fiz meu curso de cênicas em seis anos, mas fiz intercâmbio, fui monitor de Marcondes, fiz grupo de estudos e absolutamente tudo que dava para fazer dentro da universidade, inclusive montei um grupo dentro dela. E o Magiluth, quando surgiu, era para ser uma válvula de escape de tudo aquilo que a gente aprendia no semestre, que não tinha condições de exercitar, e a gente exercitava dentro do grupo. Se você conseguir se agarrar às possibilidades, consegue se formar dentro do curso de licenciatura. Tem um aprimoramento estético visual. Eu sinto falta, hoje, apesar de não estar dentro da universidade, de ver as pessoas assistindo aos espetáculos.
Galiana Brasil. Foto: Maria Chaves
CHRISTIANNE GALDINO Apesar de todas as dificuldades sobre as quais a gente conversou, como é que a produção local está situada em termos de Brasil?
MARCONDES LIMA Eu não colocaria em termos de parâmetro da gente em relação ao outro. O que sei é que o que se faz aqui está se fazendo em Londres, Tóquio. Não estamos mais num momento em que as coisas estão distantes. Estamos atrasados, talvez, em termos de condições. Mas no aspecto da experimentação, da aproximação ou das pulsões, a gente está vivendo ao mesmo tempo. Penso até que, em algumas esferas e tomando alguns exemplos, a gente está bem à frente.
MARIA PAULA COSTA RÊGO Quando você fala em criatividade, sim. Mas, na realização, acho que os nossos corpos, enquanto bailarinos, atores, diretores e coreógrafos, carecem de formação, de lugar de experimentação.
MARCONDES LIMA Somos muito criativos e fazemos milagre com tão pouco. Vivi uma experiência lá na universidade, com o Ópera Estúdio. Fizemos uma montagem que foi levada como referência, apresentada numa universidade americana como sendo uma experiência, e todos ficaram surpresos, perguntando quantos milhões ou milhares de dólares tinham sido gastos, e a gente fez com o que eles pagam como cachê para três técnicos. Bacana, isso é um mérito. Mas poderia fazer mais e melhor se tivesse mais técnica, mais condições. É um lugar do qual a gente tem que fugir, esse de que somos geniais, criativos e podemos dar o pulo do gato.
GIORDANO CASTRO Isso bate na questão que conversamos muito dentro do Magiluth, em relação à profissionalização. Quando começarmos a mudar nosso pensamento em relação ao fazer, de que somos profissionais e não fazemos por hobby ou porque gostamos ou como uma segunda ocupação, acho que começará a mudar também o nosso desenvolvimento artístico. Enquanto a gente não colocar o trabalho como fundamental, precisando ter oito horas disso, a gente não vai dar esse pulo do gato. No Magiluth, somos sete pessoas que vivem exclusivamente para o grupo. ![]()
Mediação:
CHRISTIANE GALDINO, jornalista, professora do curso de Jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco e mestre Comunicação Rural pela UFRPE.
MARIANA OLIVEIRA, editora-assistente da revista Continente, professora do curso de Jornalismo da Uninassau e mestre em mestre em Humanidades pela Universidad Carlos III de Madri.
Convidados:
GALLIANA BRASIL, com licenciatura em Artes Cênicas pela UFPE, especializações em Ensino da Arte e Literatura e Interculturalidade, integra, desde 2000, o quadro profissional do Sesc, atuando nas áreas de gestão, curadoria e pedagogia da arte.
GIORDANO CASTRO, ator, dramaturgo e arte-educador formado pela UFPE/ Universidade de Coimbra. Membro e um dos fundadores do Grupo Magiluth, tendo atuado em peças como Um torto, O canto de Gregório e Aquilo que meu olhar guardou para você.
MARCELO SENA, artista da dança, é graduado em Jornalismo, com especialização em Dança – Práticas e Pensamentos do Corpo pela Faculdade Angel Vianna/ Compassos Cia. de Dança. É diretor e artista pesquisador da Cia. Etc.
MARCONDES LIMA, mestre em Artes Cênicas pela UFBA e professor da UFPE desde 1992, é encenador, cenógrafo, figurinista, maquiador, ator e bonequeiro. Integra dois grupos de teatro: o Mão Molenga Teatro de Bonecos e o Coletivo Angu de Teatro.
MARIA PAULA COSTA RÊGO, coreógrafa, bailarina, diretora. Criou o Grupo Grial junto a Ariano Suassuna em 1997 e, desde então, realizou 12 obras. Tem passagens nos diversos festivais de dança e prêmios como o APCA 2013 de Intérprete Criadora (com o espetáculo Terra).